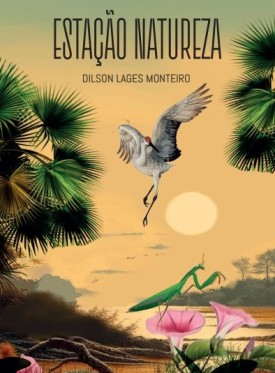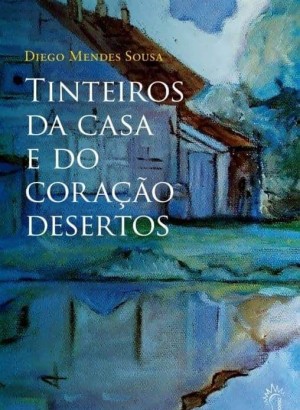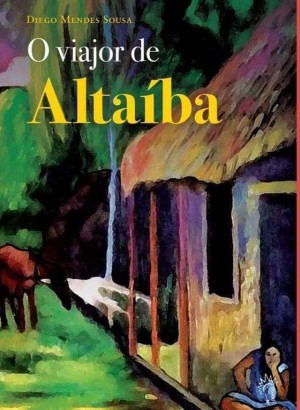Uma saudade danada de meu tempo de menino
 Por Dílson Lages Em: 04/05/2013, às 07H22
Por Dílson Lages Em: 04/05/2013, às 07H22

[Dílson Lages Monteiro]
Pedalar. Qual adulto de hoje ou homem de meia idade, de variados guetos sociais, não desejou pedalar uma Bristo ou uma Monark? Quem, vivendo em décadas findas, antes da completa invasão das motocicletas e da popularização dos automóveis, mesmo nos pequenos aglomerados urbanos, não fez da bicicleta o sonho de consumo?
Criança, desejei a Monareta. Hoje, qual menino sabe o que diacho é isso? Provavelmente, muitas imaginem tratar-se de uma banda musical, alguma nova geringonça ou até um apelido. Mais que o presente ideal para quem ainda não conhecia os becos e vielas da pequena cidade, girar os pedais e manobrar o guidão significava ser independente, conseguir mais amigos, concentrar para si mais olhares – e que pivete não valoriza isso?
Ter uma Monareta, nos meus tempos de criança, era principalmente status. A gurizada – além dos rapazotes e moiçolas, livres da perversa ameaça das ruas modernas – volteava ao fim da tarde nos logradouros centrais do lugarejo. Quase nenhum carro, nos trajetos de cadeiras nas calçadas. Poucas ruas, e tudo parecia tão longe; mato por onde se olhasse. Até nas margens do Marataoã, o rio que serpenteava, calmo, o perímetro urbano. Mato e a sensação tranquila de que o tempo parou.
Ainda que o suor descesse pelo rosto, sob os giros de uma corrente de ferro, impulsionada pelos contínuos impulsos das pernas e pés, o tempo parava. O movimento, dos olhos. O som, do vento. Os cheiros a depender da rua; se no mercado, no meio da ponte, na proximidade das churrascarias... Movimento, sons, cheiros; uma Monareta. Para que melhor?
Depois das manobras pelos paralelepípedos, meninos e meninas, eles sobretudo, iam se concentrando na praça central. Alguns, em arriscadas acrobacias, levantavam pneus, suspendendo no ar, por segundos, a ilusão da beleza ou o risco de arranhões e fraturas. Aqui e ali, um despencava no calçamento, ardendo-se em dores, que nem doíam tanto, para não parecer fraco.
Os manobristas paravam sempre na praça central, prontos para ver os detalhes dos veículos concorrentes ou ajustar as selas. Adesivos brilhosos - a que se chamavam decalques - estendiam-se pelo quadro metálico. Espelhavam os nomes das marcas em doridos reflexos fosse a luz solar forte ou fraca. Bastava o balançar dos olhos, para o nome da marca movimentar-se, dando a impressão de que a marca andava tanto como o próprio objeto que representava. No cilindro que interligava a calha aos raios, espécie de esponja em náilon espesso, em cores que se mesclavam, rodava qual a roda inteira – qual o pneu, qual a calha, qual os raios, qual os cilindros. Qual a bicicleta, a Monareta.
Na praça central, ajuntavam-se meninos e meninas em suas bicicletas quase falantes, mas na praça do hospital era que o ajuntamento emocionava – emoção de arrepiar – lá, travava-se uma verdadeira batalha. Com risco de feridos. De verdade. Lá, assentava-se, com um ar de dono do mundo, o guardião dos azulejos em que pisavam os passantes; o guardião dos odores das flores e da vivacidade do verde – vivia mesmo aguando plantas, numa concentração própria de cientista; o guardião da conservação dos bancos, naquela época obras de arte, bem diferentes desses bancos de madeira quebrados nas praças abandonadas de atualmente.
Ali, vi cenas de horrores. O vigia corria desesperado quando os pneus da gurizada deslizavam por sobre o passeio, e não raro eram interceptados pelas mãos ligeiras do carrasco, cortando a borracha à faca – uma Tramontina que o bicho jubilava-se de amolar numa pedra encostada à frondosa árvore. Era uma correria sem fim quando, de bicicleta, avistava-se o algoz, de blusa aberta, faca em punho; o largo bigode gritando mais que a boca.
No íntimo cada desafiador que ousava pedalar ali torcia pela destreza da figura estraçalhando algum pneu, menos o de sua bicicleta. E algum menino traquino até chegava a pedir Monareta emprestada, para simular que fora vítima do vigia e deliciar-se com a satisfação do malvado. A própria satisfação.
Na peleja de desafiar o dono da praça, divertiam-se as crianças. Divertia-se o vigia. Jogava-se. As armas dos pequenos competidores eram a agilidade do corpo, a rapidez do pedal e um pouco de sorte, para não ser surpreendido com o homem escondido detrás de alguma árvore encorpada.
A correria trotava em pneus e vozes quando se gritava:
- Olha o vigia!
O protetor do patrimônio, descobria-se na oportunidade de ouvi-lo, revelar-se pessoa de ternura. Acabava-se gostando da ideia de que naquela praça era proibido andar de bicicleta. Se existisse o Estatuto da Criança e do adolescente, o homem era um coitado e, talvez, não acumulasse uma sucessão de horrores. Deve ter morrido. Há anos não vejo fisionomia parecida.
Hoje, não se vê bicicletas em profusão. A não ser nos passeios ciclísticos dos que as transformaram em ideologia. Exceto para os defensores da sustentabilidade, os verdadeiros e os de mentirinha, bicicleta é coisa de pobre. E tanta gente das brenhas se enfurna no mundo, para chegar da aventura com uma motocicleta. Ou o dinheiro dela, escondidinho no fundo de uma capanga.
Outro dia, para meu espanto, vi uma criança, despreocupada, em movimentada avenida, pedalando a todo vapor uma Monareta. De onde a resgatara? Acreditei que fosse a minha. Não era. E me deu uma saudade danada do meu tempo de menino.