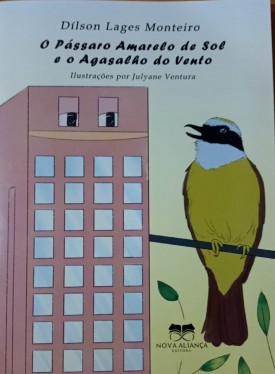07/09/2012
às 16:00 Livros & FilmesBoa leitura para o feriadão (2): J. R. Guzzo recomenda altamente este livro sobre os intelectuais e artistas em Paris sob ocupação nazista

ORGULHO PISOTEADO -- Soldados alemães desfilam próximos ao Arco do Triunfo, em Paris, em junho de 1940: sob a ocupação nazista, argumenta Alan Riding, criou-se uma zona de sombra na qual seria inútil tentar dividir atitudes entre certas e erradas (Foto: Corbis / LatinStock)
NEM HERÓIS NEM COVARDES
“Em Paris: a Festa Continuou” traz um retrato esclarecedor da conduta dos intelectuais e artistas franceses durante a ocupação nazista
Jornalistas, quando são realmente bons, sempre escrevem livros de história melhores que os que são escritos por historiadores.
Por que será?
Tolstoi achava que pessoas dedicadas a outras atividades conseguem pensar com bom-senso – virtude, segundo ele, desconhecida nos livros de história. Outra hipótese, mais simples, é a brutal chatice de quase todos os livros escritos por historiadores criados dentro da universidade, que costumam entrar em estado de coma logo nas primeiras páginas e dali não saem mais.
Essa escrita se repete, mais uma vez, com Paris: a Festa Continuou (tradução de Celso Nogueira e Rejane Rubino; Companhia das Letras; 464 páginas; 54 reais), que acaba de ser lançado no Brasil e faz uma espetacular reconstrução da vida na cidade mais emocionante do mundo durante os quatro anos em que foi ocupada pelo Exército da Alemanha nazista, entre 1940 e 1944 – quando a bandeira com a suástica, em vez do sagrado pavilhão tricolor da França, tremulou no alto da Torre Eiffel, e a tropa alemã descia diariamente os Champs-Élysées, sempre ao meio-dia e meia, marchando a passo de ganso.
O autor desse painel é o jornalista britânico Alan Riding, que fez uma carreira impecável como correspondente do jornal The New York Times em Paris, Madri, Rio de Janeiro e Cidade do México e coroou sua trajetória trabalhando durante doze anos como correspondente cultural do Times na Europa, com base em Paris – onde continua a viver e escrever.
Em Paris: a Festa Continuou, Riding põe no ar uma questão fascinante e perturbadora: o que você faz quando o seu país é invadido, derrotado e ocupado por um exército estrangeiro?
O autor tenta responder a essa pergunta examinando, com a perícia de um repórter de primeira classe, o comportamento de uma faixa muito singular da sociedade francesa: o círculo intelectual e artístico de Paris, então considerada, até pelos ocupantes nazistas, como a capital cultural do mundo.
Foi uma escolha feliz. Expor como os artistas reagem à opressão tem uma relevância toda especial no caso da França, onde, mais do que em qualquer outro país, os grandes nomes das artes e do pensamento sempre tiveram uma profunda, e talvez exagerada, influência junto à população.
Pelo olhar que faz sobre a parte, Riding leva o leitor a uma visão sobre o todo – e seu triunfo está em mostrar, na parte e no todo, não uma “fotografia fixa, na qual um momento representa todos os outros”, como ele próprio escreve, mas “um drama em evolução”, em que a linha separando o bem do mal se move o tempo todo, ao sabor dos acontecimentos. A divisão clássica sobre a conduta dos franceses durante os anos da ocupação é entre heroísmo e covardia; permanece em vigor até hoje, em centenas de romances e filmes, a começar pelo inevitável Casablanca.
De um lado ficam os cidadãos decentes e patriotas, que optam pela resistência e vão combater o invasor na clandestinidade; do outro ficam os colaboradores ou traidores, que continuam levando sua vida de sempre, convivem em paz com o ocupante e até o ajudam a governar. Riding se recusa a aceitar essa divisão. Seu livro lida com a vida real de gente real na Paris ocupada – e aí entramos numa zona de sombra onde é inútil procurar respostas em preto e branco.

Os pragmáticos - UMA PECHA PARA TODA A VIDA -- A estilista Coco Chanel (destaque) desfrutava uma suíte no luxuoso Hotel Ritz com um oficial alemão; Édith Piaf (ao piano) colaborou ativamente com os nazistas; o suíço Le Corbusier, ícone maior da arquitetura modernista, chegou a cortejar as autoridades da ocupação em busca de verbas para seus projetos: ainda que nada seja pior que ser lembrado como "colaborador", diz Riding, não foram poucas as personalidades - e pessoas comuns - que adotaram tal estratégia
Riding faz renascer, em todas as suas cores, a Paris dos anos 40 – que os turistas menos distraídos podem perceber vagamente, até hoje, nos buracos de bala conservados nas paredes dos prédios e nas placas com os nomes dos parisienses mortos no levante contra o invasor, em agosto de 1944, com a guerra já a caminho do fim.
A rigor, pela investigação do autor, não houve nada no mundo do entretenimento, artes e cultura de Paris que tenha sofrido na ocupação; a festa simplesmente continuou. E os comportamentos individuais? Em sua maioria, os personagens do drama, sumidades na época da ocupação, não significam mais nada; são, há muito tempo, apenas um punhado de cinzas, e os próprios franceses de hoje não saberiam dizer quem foram. De todos eles, e dos que sobreviveram ao esquecimento, o que se pode dizer é que tiveram conduta mais ou menos equivalente à que foi adotada pelo resto da população.
Alguns, como os cantores Maurice Chevalier e Édith Piaf, ou o escritor Louis-Ferdinand Céline, foram colaboradores ativos. Coco Chanel vivia em sua suíte no Ritz com um oficial alemão. Le Corbusier, canonizado em vida por arquitetos do mundo inteiro, grudou nas autoridades de ocupação em busca de verbas para seus projetos; afirmou, tentando agradar ao governo, que “a sede dos judeus por dinheiro corrompeu o país”.

O cauteloso EM SILÊNCIO André Gide: "Prefiro não escrever nada, hoje, que possa me deixar arrependido amanhã", disse o autor que ganharia o Nobel em 1947. Outros artistas, como Pablo Picasso, adotaram atitudes semelhantes (Foto: Hulton Archive / Getty Images)
O editor Bernard Grasset chegou quase a implorar de Joseph Goebbels o direito de publicar na França a “obra magistral” do sumo sacerdote da propaganda nazista.
Muitos, ao contrário, se recusaram a trabalhar na França ocupada, como o ator Jean Gabin e os cineastas René Clair e Jean Renoir, que foram para os Estados Unidos.
Outros ficaram em cima do muro, como o escritor André Gide. “Prefiro não escrever nada, hoje, que possa me deixar arrependido amanhã”, resumiu ele.
Pablo Picasso permaneceu em Paris durante a ocupação, vendendo discretamente seus quadros, e recusou-se a assinar uma petição pela liberdade de um amigo, o poeta Max Jacob, preso pela Gestapo – documento que até colaboracionistas extremados assinaram.
Jacob morreu no infame campo de concentração de Drancy. Uns poucos, bem poucos, foram para a resistência armada – e a grande maioria, como fez quase toda a população francesa, simplesmente continuou com sua vida normal, tentando ganhar o pão de cada dia.
O cômico Jacques Tati, por exemplo, começou a fazer sucesso durante a ocupação, com shows no Lido; deveria ter abandonado sua grande chance de subir na carreira? Riding deixa no ar, ao narrar tantos casos como esse, a pergunta-chave: quais eram, realmente, as alternativas? Largar o emprego, a família ou o sonho de sucesso e ir para a vida clandestina?

O indignado MELHOR PARTIR -- Jean Renoir, diretor de obras-primas como "A Regra do Jogo", preferiu se refugiar nos Estados Unidos a filmar na França ocupada, assim como o colega René Clair: liberdade em troca de dificuldades com a língua e a carreira (Foto: Robert Doisneau / Gamma-Rapho / Getty Images)
Nenhum artista teve nenhuma culpa, como o resto dos franceses, pela invasão nazista.
Mas o autor anota que, num país onde os intelectuais são vistos como entes superiores, e no qual a população é educada para reverenciar teorias, o mundo cultural tem mais responsabilidades, pois tem mais influência. Hoje não é mais assim, e é bom que não seja. Os intelectuais têm menos importância – mas também são menos perigosos.
Melhor para todos." (J. R. Guzzo)

















 Three stamps honoring Georges Simenon, creator of Inspector Maigret, were issued in 2003 to commemorate the 100th anniveresary of Simenon's birth.
Three stamps honoring Georges Simenon, creator of Inspector Maigret, were issued in 2003 to commemorate the 100th anniveresary of Simenon's birth.