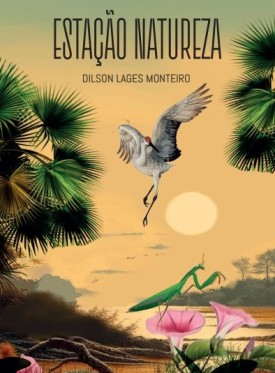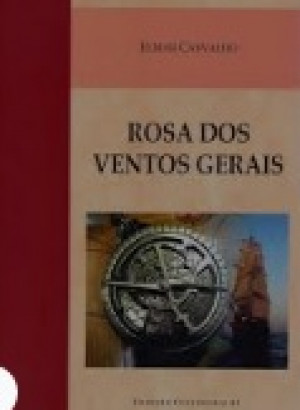“O marxismo está morto” – essa frase foi escrita mil vezes pelos conservadores do final do século XIX até o final do século XX. Após o fim do comunismo (1989-1992), a frase perdeu sua força. Aquela outra frase, “há um espectro que ronda a Europa, o fantasma do comunismo”, se tornou realidade, mas de forma irônica: realmente o comunismo virou um fantasma. Mas ficou com um rosto muito mais para Gasparzinho, que não assusta ninguém e efetivamente está morto, que para qualquer outra coisa que possa meter medo a não ser nos jornalistas da Revista Veja.
“O marxismo está morto” – essa frase foi escrita mil vezes pelos conservadores do final do século XIX até o final do século XX. Após o fim do comunismo (1989-1992), a frase perdeu sua força. Aquela outra frase, “há um espectro que ronda a Europa, o fantasma do comunismo”, se tornou realidade, mas de forma irônica: realmente o comunismo virou um fantasma. Mas ficou com um rosto muito mais para Gasparzinho, que não assusta ninguém e efetivamente está morto, que para qualquer outra coisa que possa meter medo a não ser nos jornalistas da Revista Veja.
No entanto, uma coisa é o marxismo e outra o comunismo, algo semelhante com o que ocorre com um seu parente, a psicanálise. Uma coisa é o freudismo, outra coisa são as práticas terapêuticas da psicanálise. Todavia, com o freudismo parece ter ocorrido o oposto: as clínicas de terapia psicanalítica dominam a vida urbana ocidental, mas o próprio freudismo, ortodoxo, não tem mais adeptos senão em círculos acadêmicos restritos.
Não podemos deixar de notar que há uma diferença de base entre marxismo e freudismo: Freud era médico e, portanto, um amante do empirismo. Marx era um pesquisador com profunda capacidade empírica, mas, antes de tudo, um filósofo hegeliano que jamais abandonou por completo o desejo de escrever o que escreveu no texto de 1959, sobre o “método da Economia Política”, algo que ficava entre uma teoria da história e uma filosofia da história. Freud, por sua vez, não fez isso, isto é, filosofia, em meio de carreira, mas ao final. Como todo grande pensador, não conseguiu ficar sem filosofar e, principalmente em “O mal estar na civilização” e outros escritos semelhantes, esboçou talvez algo mais que uma teoria da história, mas uma verdadeira cosmologia.
Marx montou sua teoria da história a partir de algo que estava no imaginário do século XIX: as revoluções. A formulação que ele deu era extremamente sintética e sedutora. As forças produtivas deveriam sempre ir adiante, mas às vezes eram retardadas pelas relações de produção que, ao início, só as ajudavam. Em outras palavras: a indústria e as invenções querem continuar seu trabalho, querem o progresso, mas a legislação e os interesses econômicos particulares nem sempre caminham no sentido de assim permitir. Nem sempre o que é mais racional para a evolução é adotado, porque as leis e todo o aparato político continuam brindando o arcaísmo. Essa é a hora da revolução. Há quem, na sociedade, perceba isso, de algum modo, e comece a pedir toda uma mudança da legislação e da organização política e até mesmo do modo como se organiza a produção. Assim se deu com as chamadas “revoluções burguesas” – a da Inglaterra (feita por partes), a da França (feita abruptamente) e a da América (que veio junto da Independência dos Estados Unidos). Marx montou assim um modelo social – quase que inventando o que seria, depois, a sociologia – não como algo usado para adivinhar o que viria na história, mas, no meu entendimento, como um heurística capaz de ajudar os pesquisadores no sentido de uma racionalização da história. Nisso, funcionou o seu hegelianismo: o real é racional (se o racional é real, isso é outra história, duvidosa para Marx – talvez viesse a sê-lo, no comunismo). Ou seja, o real é possível de ser inteligível porque possível de ser posto em uma estrutura racional. O pensamento pode captar o real e expô-lo não como um conjunto atordoado de “fatos”, como uma bagunça social da revolução, que parece para alguns a perda completa da racionalidade, mas como um conjunto de elementos que fornecem uma trama com algum sentido. Que os homens sejam malucos, ao menos na revolução, tudo bem, mas que não exista uma razão interna à história, isso não seria verdade.
Ora, Freud fez algo parecido. No início de suas pesquisas, ele acreditava que havia uma única força, uma energia, de comando no mundo. Essa energia era a libido, manifesta claramente no princípio de prazer. Depois, Freud livrou-se de seu “sexualismo”, e partiu para a idéia de uma energia com dupla face: o princípio de prazer, de um lado, o princípio de morte, de outro. Um seria responsável pelo que desde os gregos pré-socráticos vinha com o que une elementos: o amor. O outro, como o que desune, afasta: o ódio ou, melhor dizendo no caso, a violência, o ímpeto destrutivo. Não é difícil de ver isso. São bem evidentes os graus variados de sado masoquismo que estão presentes no sexo e em atividades que só aparentemente parecem distantes do sexo. O prazer e a dor, o gozo sexual e a morte, estão juntos. A união e a individuação pagam um preço alto no altar da dissolução do ego. Quando gozamos sexualmente sabemos bem o que parece ser a morte, a dissolução do ego – gozar e passar por um prazer intenso sem, no entanto, ter mesmo de morrer. Conseguimos essa façanha, a de experimentar a paz da dissolução do ego sem a sua perda completa dele, coisa que em vários animais não foi possível (o louva-deus que o diga!). Eros e Tanatos surgiram na teoria freudiana como forças psíquicas, talvez com base biológica, mas, talvez, com um odor que levaria Freud, caso ele não fosse um médico, a adotar terminologias que ele conhecia bem, vindas de Schopenhauer e Nietzsche, e que dariam a tais teorias um caráter cosmológico. Vontade em Schopenhauer e vontade de potência (e forças) em Nietzsche seriam bem vindas a Freud se ele não fosse, antes de tudo, um materialista já banhado em práticas positivas, ou mesmo positivistas, e um profundo darwiniano em termos de interpretação da psique em termos evolutivos. Seu medo de introduzir na psicanálise palavras que pudessem soar místicas – e com razão – não era pequeno. Se houve um período em que o misticismo se casou com a ciência, foi o que transcorreu entre o final do século XIX até o pré-Segunda Guerra.
Essas duas grandes teorias tinham tudo que uma filosofia poderia querer. Mas, elas tinham tudo do século XIX que uma teoria, para ser boa, naquela época, deveria não conter, ou seja, rastros filosóficos, odores de filósofos. A filosofia era metafísica – talvez só isso. E a metafísica estava em baixa. “Deus morreu”, a frase de Nietzsche, não era algo de se jogar fora. A metafísica parecia, mesmo, talvez até mais que hoje, uma disciplina completamente dispensável como se fosse um resto da teologia.
Elas, as duas novas teorias, o marxismo e a psicanálise, forneciam um modelo de entendimento da relação entre o bípede sem penas, individual e coletivamente, com o meio ambiente. Mas, diferente das teorias anteriores, elas rejeitavam a idéia de ser uma filosofia, ao menos era isso que seus proprietários e criadores mais ou menos diziam. Marx e Engels haviam afirmado que desejavam antes transformar o mundo que o interpretá-lo, como havia sido feito pelos filósofos até então. E Freud havia dito que ele escrevia contra a filosofia, admitindo que a vida mental funciona não de modo racional e transparente a si mesma, como no modelo cartesiano, mas com forças irracionais e subconscientes ou mesmo inconscientes (a palavra já não significaria mais estar sem vigília, como quem está inconsciente por estar desmaiado). Ora, que filósofo admitiria algo não lógico como estar inconsciente consciente? Freud, então, ao ver os filósofos adorarem a lógica, tendia a dizer que sua pesquisa encontrava um objeto, sede da lógica, como agindo contra a lógica.
Filosofias, em geral, trazem junto um sistema ético, uma direção, isto é, não mais só uma visão a respeito do ser, mas uma compreensão a respeito do dever ser. Quando banhadas por utopias, chegam a trazer o dever ser em seu sentido oposto, como o que não existe e não pode existir, mas como o que funciona de modo radical dizendo ao que existe: você possui erros. No caso de certas teorias holísticas, o dever ser já vem implícito no ser. Assim foi com Hegel. De certo modo, os escritos de Marx e Freud, se apresentaram com características desse tipo. O que se deve fazer para ser feliz (a eudaimonia, perseguida pela filosofia grega) não é outra coisa senão cumprir o destino incrustado no modo como a história parece já indicar – história da sociedade ou do indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, essas teorias mostravam a existência de uma brecha para o que poderia ser interpretado como exclusivamente científico, isto é, uma inexistência de qualquer vínculo com um destino ético ou mesmo com um aconselhamento ético. A terapia freudiana e o comunismo poderiam ser deslocados da teoria ou, senão deslocados, ao menos considerados como uma parte não implicada necessariamente no conjunto analítico. Assim, em certo sentido, poder-se-ia falar de marxismo sem a necessidade do comunismo e freudismo sem as amarras da terapia. Foi nessa brecha que se deram mil e uma batalhas interpretativas e de uso do marxismo e do freudismo.
Segundo os que vieram a apostar nessa divisão, analisar a vida social pelas revoluções tinha sentido. O que não tinha sentido era acreditar que a “velha toupeira” de Marx (a revolução) deveria, necessariamente, estar sempre caminhando, dando uma tranqüilidade aos que desejariam as transformações radicais. Ora, segundo os que ficavam tranqüilos, porque a revolução, como a justiça divina, poderia tardar mas não falhar, uma hora ou outra, a toupeira iria aparecer na superfície. Poderia ser na Polônia ou na América. Mas que iria aparecer, iria! Nenhuma toupeira poderia ficar sem vir à superfície. As revoluções caminham por debaixo da política. São transformações que não vemos, mas que uma hora ou outra, eclodem. Esse predeterminismo gerou, é claro, um bocado de fanáticos. Essas pessoas foram tomadas como gênios e, depois, como bobocas.
Lênin foi tomado como gênio. Ele teria entendido a história. Ele teria visto as condições objetivas corretamente, então, soube mobilizar as condições subjetivas para vir saldar a toupeira. Ele foi aquele que teria sabido cantar como Vandré: “quem sabe faz a hora não espera acontecer”. Marcou hora e local para servir champanhe à toupeira. Hora: 1917, Local: Rússia. Isso foi coisa de gênio? Após o final do comunismo (1989), essa questão, que foi tão importante no sentido de dividir o enorme movimento marxista, que, afinal, criou a III Internacional, deixando os então ortodoxos de lado (os que acreditavam que a ortodoxia marxista era a de que nunca haveria revolução em país não industrializado), foi praticamente abandonada – bem, mas aí, abandonada junto com a validade do marxismo. Durante anos antes de 1989, a luta pelo abandono ou não dessa idéia de que havia entre nós, mortais, alguém que se comunicava quase que demiurgicamente com a fantástica toupeira, pairava não como algo místico entre os professores e militantes, mas como algo que indicaria os que deveriam comandar o mundo. Ora, mais misticismo que isso, impossível – diziam alguns.
Os gênios do comunismo, como Lênin, deixaram, após 1989, um espaço para os bobocas. Quem seriam eles? Ora, qualquer um desses professores universitários de esquerda dando “aulas” ao redor do movimento Occupy, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, brigaram por esse título. Eles nunca estiveram errados no sentido de apoiar tais movimentos. Eles estiveram errados porque, no fundo, se acreditaram como segundos Lênins. Se recusaram a rir quando do filme “Adeus Lênin” (Wolfgang Becker, Berlin, 2003). E pior ainda, eles não se deram conta de quanto temos hoje nos movimentos sociais e políticos alguma coisa que pode parecer toupeira, mas está longe de ser uma toupeira que, botando o focinho na superfície, irá dizer: “Let’s go workers, we must walk to socialism!”. Aliás, a própria toupeira de 1989 disse o oposto!
Com a psicanálise, o que se deu foi diferente. As clínicas e a prática psicanalítica não tiveram dificuldades intransponíveis em se institucionalizar. Tiveram dificuldades, é claro, mas, após a Segunda Guerra Mundial já ninguém mais, escolarizado, admitia não serem necessárias, como qualquer outra clínica médica de uma cidade. Agora, com o freudismo, apareceram resistências terríveis, mesmo na acadêmica, muito mais que com o marxismo. A visão de Freud sobre a vida dos bípedes sem penas, aos olhos de muitos, sempre implicou em um realismo exacerbado, algo muito mais angustiante que a espera da toupeira. Saber que uma toupeira pode aparecer na superfície e criar um pandemônio social é alguma coisa muito irritante para governos e classe média. Saber que há um monstro bem mais feio que a toupeira dentro de cada um de nós, mesmo quando crianças, é alguma coisa que ultrapassa a irritação. É algo tão incômodo que, enfim, acaba criando uma rejeição de todo tipo de bípede sem penas. Que nós, desde pequenos, estejamos envolvidos com forças que recebem o nome de “libidinais”, e que podemos desejar nossas mães e, então, disputá-las com nossos pais, nunca foi uma coisa igual a encontrar uma toupeirinha. O Dr. Jeckyll e Mr. Hyde sempre tiveram ares bem mais sombrios que qualquer toupeirinha. Talvez porque toupeiras são da ordem do mundo exterior a nós, enquanto que Mr. Hyde e o Dr. Jeckyll são personagens malditos que substituíram os bichos malvados que ficavam em baixo de nossas camas.
Marx criou vocabulários que nos deram uma nova imagem de nós mesmos, e o mesmo fez Freud. O “burguês” deixou de ser o simples “habitante do burgo” para ser o “detentor de meios de produção” e o “explorador do trabalho”. A palavra “explorador”, nesse caso, deveria ganhar apenas um caráter analítico, mas à medida que o comunismo era o objetivo ético do marxismo, “explorador” foi um termo logo moralizado. Tornou-se a imagem de alguém a serviço do mal. Por sua vez, a “libido” deixou de ser algo do âmbito intelectual e passou a correr na boca popular, incluída em bulas de remédio e possível de ser pronunciada até mesmo na sala de jantar de burgueses e na conversa escolar, ou quase isso. Nesse caso, longe de ser termo ético e, sim, termo médico, ela conseguiu sobreviver ao moralismo inicial que quis abraçá-la. O “complexo de Édipo” ganhou trânsito livre ou semi livre. Suas ligações com o homossexualismo também puderam ser objeto de conversa. A medicalização dessas palavras sempre foi o passaporte da psicanálise para o interior dos grupos de elite e da classe média. Todas essas transformações de vocabulários de Marx e Freud, que nos deram outra imagem de nós mesmos, ficaram e parecem que vão permanecer durante o século XXI. Mas, é claro, dificilmente marxismo e freudismo irão aparecer como apareceram a alguns no início do século XX ou mesmo durante quase todo o século, como a Nova Ciência.
Houve um tempo que a própria universidade pensou que haveria o fim da filosofia e que esta seria substituída pela Ciência do Marxismo e/ou pela Ciência da Psicanálise. Teríamos criado duas grandes teorias, com características de metateorias, mas destituídas de certos incômodos da filosofia, a saber, a disputa sobre se temos ou não de acoplar ou separar o ser e o dever ser. A divisão ou a união disso poderia ficar no passado, como uma questão filosófica morta, algo tão defunto quanto o positivismo de Comte, aquela ambição de apologia da ciência que, enfim, se tornou em algo mais problemático que a filosofia, porque reduzida à mera doutrina. Essa conversa é, mesmo, coisa do passado. Hoje, o que foi incorporado ao nosso vocabulário comum por essas formulações, é considerado ganho, o que não foi, parece nem mesmo merecer ser destituído.
Ninguém hoje, em sã consciência, admitiria o surgimento de algo que viesse a receber o nome de “Ciência”, com “c” maiúsculo. Talvez seja até mais fácil, hoje, conquistar pessoas para acreditar que a filosofia tem lá uma função novamente unificadora que qualquer outra coisa. Não que eu concorde com essa força da filosofia, para mim, é claro, a filosofia é antes de tudo uma ação cultural política, uma espécie de função de árbitro organizador do jogo de conversação das várias linguagens do teatro, da literatura, da ciência, da religião, do senso comum entre si. Mas, não tudo isso, tem a ver com o Ocidente, ou com a característica do “desencantamento do mundo” (Weber) do Ocidente. Só que, também no Ocidente, há a força da religião, que toma diversos aspectos, que se parece com a sua força do senso comum do Oriente, quase que ignorando todo esse movimento que tivemos entre a apologia do marxismo e do freudismo até os nossos momentos atuais em que os colocamos, mais ou menos, no baú. É nisso que estamos hoje. Encontramos entre nós não mais os velhos embates do marxismo e da psicanálise com a filosofia, ou dessas coisas entre si, mas sim o nosso novo vocabulário, vindo dessas teorias, no enfrentamento de vocabulários que desconhecem a luta de Diderot e Voltaire pela construção do mundo que resultou no que vivemos.
© 2012 Filósofo Paulo Ghiraldelli, filósofo, escritor e professor da UFRRJ