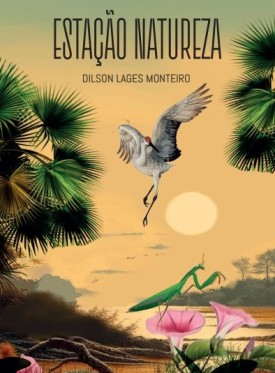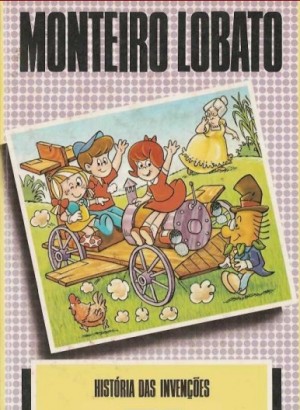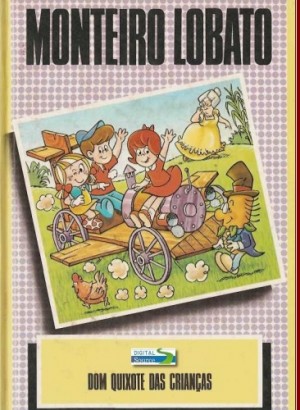SOUSÂNDRADE
 Por Rogel Samuel Em: 28/10/2011, às 09H16
Por Rogel Samuel Em: 28/10/2011, às 09H16

HUMBERTO DE CAMPOS - MEMÓRIAS INACABADAS
Obra póstuma
FREGUESES DA CASA
QUANDO leio as Memórias de Goethe, e vejo, lá, a galeria de grandes figuras a cuja sombra se formou o seu espírito, e examino a estatura dos homens de maior vulto que me coube contemplar, à distância, do balcão ou do tanque da Casa Trasmontana, é que avalio os recursos de que dispus para sair da mediocridade a que me votara o Destino. Houvesse eu encontrado a sombra, que fosse, de João Lisboa ou de Sotero, que se desdobraram em trabalhos e glória dentro da sua própria terra, e teria, talvez, recebido o eflúvio que delas emanava. Por isso mesmo, as pequenas entidades assumiam aos meus olhos proporções exageradas, e eu admirava cidadãos de Liliput como se eles procedessem de Brobdingnag.
Considerada um dos primeiros estabelecimentos da praça no seu gênero, e o primeiro pela sua seriedade, demonstrada na excelência e autenticidade dos produtos que fornecia, a Casa Trasmontana contava entre os seus fregueses algumas das figuras notáveis, ou simplesmente curiosas, que o Maranhão ainda possuía. Achavam-se entre elas, por exemplo, o poeta Joaquim de Sousândrade, o jornalista Alberto Pinheiro, e o Dr. Brandão, engenheiro sexagenário que arquitetava, então, as mais famosas mentiras da cidade.
Sousândrade era, sem dúvida, entre eles, o mais considerável pela projeção do nome e pela originalidade do aspecto. Ao vê-lo, pela primeira vez, atravessar a rua, vindo da Biblioteca, eu começava a armar no rosto de menino um sorriso de espanto e de mofa, quando vi “seu” Zé encaminhar-se para a porta e recebê-lo entre mesuras respeitosas e de pouco emprego na casa, antes mesmo que ele tivesse pisado a orla da calçada.
1 Na edição-base, o nome do poeta está escrito Joaquim de Souzandrade e, mais adiante, Souzandrade. Anotamos Joaquim de Sousândrade e Sousândrade, em atenção à grafia e prosódia prevalecentes, e à vista do registro Joaquim de Souzàndrade e Souzàndrade, que vem na primeira edição deste livro. (Rio de Janeiro: José Olympio, 1935, p. 16). (Nota do Editor).
Era um velho alto, carão moreno e rigorosamente escanhoado, colarinho entalando o pescoço, cabeleira grisalha caindo, fofa, para os ombros, cobrindo a orelha, e, sobre essa cabeleira, que dava a impressão de achar-se empoada, uma cartola, cuidadosamente posta e mantida em rigoroso equilíbrio. Calça de casimira escura, e de lista, descia-lhe até aos joelhos uma sobrecasaca abotoada e trespassante. No rosto largo, um sorriso polido, mas deixando à mostra uns grandes dentes cuidados. E, pendente de um fio negro, um monóculo, que levava de instante a instante, em gestos pausados, à órbita esquerda. Tipo de poeta ou de político norte-americano da primeira parte do século XIX.
– Sabe quem é esse? – sussurrou, a meu lado, Osório Lima.
Eu tinha visto, já, aquele sujeito não sei em que estampa de uma História do Brasil. Seria difícil, todavia, identificar essa estampa, depois de transformada em carne, osso, colarinho, cabeleira, sobrecasaca e chapéu de pêlo.
– Este é o grande Sousândrade... Dr. Joaquim de Sousândrade – tornou Osório, compreendendo a ignorância revelada pelo meu silêncio.
Depois da explicação, fiquei como estava antes dela. Eu jamais, na minha vida, ouvira, ou lera, aquele nome. Os poetas não tinham me interessado nunca. Em matéria de poesia, eu conhecia apenas os versos que minha mãe me fizera decorar em Miritiba, os de meu pai, os Oito Anos, de Casemiro de Abreu, com que minha mãe me fazia chorar, cantando-os em surdina, abraçada comigo, deitados na rede, quando eu contava precisamente a idade que o lírico celebrava; as quadras populares de Juvenal Galeno, e as rimas patrióticas de Dona Chiquinha Montenegro, professora municipal de Parnaíba. Poeta que não fosse cantado ao violão não ficava em minha lembrança. Eu tinha notícias de Gonçalves Dias pela estátua e pelas cousas que dele me contara Jovina Martins Ribeiro, senhora de Caxias, que o conhecera rapazola, na cidade em que ambos haviam nascido, e, mais vagamente, pelo “nosso céu tem mais estrelas”. Poesia para mim era o Bem Sei que Tu Me Desprezas, Bem Sei que Tu Me Abandonas, e o Perdão, Emília, para um Desgraçado. Daquele Sousândrade eu não tinha a menor ideia de ter ouvido cantar qualquer modinha.
Ele era, entretanto, uma individualidade curiosa, a última relíquia do velho Maranhão glorioso, e o remanescente vivo das altas figuras patrimoniais da velha Atenas agonizante. Surgindo quando a grande geração se extinguia, abandonou a pátria, e foi, no estrangeiro, afinar o espírito pelo rugido eólio dos ventos novos. Fixou residência nos Estados Unidos; fez-se, aí, republicano; e, fundando jornais de espírito brasileiro, repetiu, embora apagadamente, a missão evangélica de Hipólito José da Costa, o Paulo de Tarso da Independência, que pregava em Corinto o que devia ser ouvido em Jerusalém. Inteligência investigadora e rebelde, imaginou, então, um poema de proporções vastas, interessantes a todo o continente, do qual publicou um volume com os primeiros nove cantos, e que se tornou famoso pela bizarria desconcertante da forma e das ideias. Camilo Castelo Branco, que o considerava o “mais estremado, mais fantasista e erudito poeta do Brasil” no seu tempo, achava que o seu poema “pesa e enfara pela demasia dos adubos”. Sílvio Romero apontava-o como o único poeta brasileiro que havia “tomado o faro do século”. Regressara, porém, para o Maranhão, e lá vivia, por esse tempo, isolado em uma velha quinta à margem do rio Anil. Cercada de grandes muros, essa propriedade tornara-se a gaiola enorme de um velho pássaro que não cantava mais. Lá dentro, à sombra das grandes árvores que rodeavam a casa e se debruçavam sobre o rio, o autor d’O Guesa e das Harpas selvagens lia Homero e Virgílio, no original. De tempos a tempos, vendia alguns metros de muro da chácara aos construtores, que aproveitavam o material, de primeira ordem, em novas edificações urbanas. E isso dava oportunidade ao velho poeta, que vivia dessas pequenas transações, para uma fase de fina ironia:
– Como vai o senhor, senhor Doutor? Está passando bem? – perguntavam-lhe.
E ele, a voz macia, o sorriso inteligente:
– Comendo pedras, meu senhor; comendo pedras...
Sousândrade entrava na mercearia, inclinava a cabeça, sorridente, num cumprimento a cada um, e, mesmo de pé, fazia a sua pequenina encomenda delicada: uma lata de espargos, um pouco de queijo, sardinhas de Nantes, e tâmaras ou ameixas. Sortimento para oito ou dez mil réis, que um empregado levava à quinta, e que ele, semanas depois, vinha pagar, com as cédulas miúdas e os níqueis rigorosamente contados. A sua freguesia não dava lucro. Mas enchia de orgulho a casa.
Alberto Pinheiro era celebridade de outro gênero. redator-chefe do Diário do Maranhão, folha cuja matéria principal era constituída pelos atos do Governo e pelos anúncios das companhias de navegação, tornara-se famoso na imprensa do Estado pelas tolices que escrevia. Era um velhote pequeno e ágil, de cabeleira alvoroçada e grisalha, no alto da qual acomodava, como um pequeno pássaro num grande ninho, um chapéu-coco, de extremidades estreitas e reviradas. Usava invariavelmente um velho fraque presumivelmente preto, antiquíssimo, que lhe deixava a metade do colete a descoberto, e cujas abas curtas se empinavam atrás, compondo a mais grotesca das caricaturas. Mastigava permanentemente um pedaço de charuto, que viajava da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, sob o bigode sarrento. Devia ser excelente pagador. Pelo menos, havia ordem de “seu” Zé para dizermos que não havia mais nenhuma das mercadorias que ele desejasse comprar. As que se achavam na amostra já estavam vendidas.
As vitórias jornalísticas de Alberto Pinheiro ficaram inesquecíveis no Estado. Certa vez, uma carroça esmagou, com uma das rodas, o pé de um pretinho que brincava em frente ao mercado. Alberto Pinheiro deu a notícia. Epôs o título: Pé de Moleque. Um dia, na pressa de encerrar o expediente da folha, noticiou ele o falecimento de um comerciante que se achava gravemente enfermo. O homem ainda estava com a alma neste mundo, e a família, no dia seguinte, foi pedir uma retificação, contestando o óbito. O jornalista corrigiu o engano, desdizendo-se a si mesmo. Dois dias depois, porém, o doente morre mesmo. E Alberto Pinheiro fez-lhe o necrológio, que principiava assim: “Até que, afinal, morreu o nosso distinto amigo, etc.” A coleção do jornal sério em que ele escreveu é, hoje, o melhor patrimônio humorístico da imprensa do Maranhão.
O Dr. Brandão era um freguês que não comprava nada. Assim, porém, que ele chegava, e sentava-se fora do balcão sobre algum barril de vinho ou sobre alguma caixa vazia, os empregados acorriam de todos os cantos do estabelecimento para escutar-lhe as narrativas imaginosas. O seu tipo era, já, uma anedota. Alto, uma barbicha à D. Quixote, a originalidade da sua indumentária consistia em um fraque de brim pardo, calça da mesma fazenda, e chapéu de palha de carnaúba. E, como complemento, um cachimbo que só lhe saía da boca no momento patético da narração. Diplomado por uma das escolas superiores da Bélgica, dizia-se amigo íntimo do rei Leopoldo, que o tratava como irmão. Uma vez, achando-se em Paris, lembrou-se que, no dia seguinte, era o aniversário do seu real companheiro de turma e de pândega.
– Nesse tempo – dizia – não eram conhecidos os trens diários, e o que me poderia servir já havia partido. Tomei uma deliberação: aluguei um cavalo e parti, a toda carreira. De repente, começou a chover. A velocidade da corrida era, porém, tamanha, que a chuva apanhava apenas a anca do cavalo... De repente, o animal começou a cansar. Na carreira em que ainda ia, estirei a mão e apanhei um cipó que estava pendurado de uma árvore à margem do caminho. E chicoteei com ele o cavalo com tanta vontade que, no dia seguinte, pela manhã, eu pulava da sela em Bruxelas, na porta mesmo do palácio real. Como todos me sabiam íntimo da família, fui entrando, e ao ver o Leopoldo, atirei para cima de uma mesa o chapéu e o cipó e lançamo-nos nos braços um do outro. E está vamos ainda abraçados, quando ouvimos um grito desesperado, partido da saleta próxima. Corremos para lá, e que vimos? A Rainha, o terror estampado no rosto, correndo de um lado para outro, tendo uma cobra verde enrolada no braço!...
E o Dr. Brandão concluía:
– Eu tinha viajado léguas e léguas, a chicotear o cavalo com uma cobra viva, que havia agarrado pela cabeça, pendente de uma árvore, e que eu supunha fosse um cipó!...
O narrador, êmulo do Barão de Munchhausen, trazia sempre, para contar, dez ou quinze histórias como essa, que aprendia nos livros ou imaginava na ocasião. Esgotado, porém, o repertório, ia ao interior da casa. E como a passagem era por perto de um balcão interior em que ficavam as garrafas e os cálices de bebidas fortes, não regressava sem, no caminho, limpar a boca e a barbicha na manga do paletó...