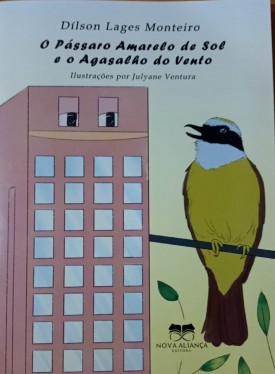O MORRO DA CASA GRANDE
Em: 01/11/2009, às 08H04

24. A cidade de água nas veias
Dílson Lages Monteiro
Mormaços de nuvens fechavam a tarde, sufocavam os pulmões e cobriam a vista lúgubre de galhos empiçarrados e secos, até que o caminhão deixasse atrás as primeiras casas esparsas da zona urbana. Marciano buliu no cofo de palha. Buliu, buliu – a franga piou. Ele sorriu por dentro. Vivinha e com sede. Sorriu por fora e agitou-se na cabine, quando o automóvel subiu os primeiros metros de paralelepípedos no morro da Rua Grande. O morro que marcava a grandeza da cidade; outro morro marcando os altos e baixos que separavam terras e gentes.
Tão logo atingiu a ladeira da Rua Grande, já pavimentada há alguns anos, o menino estirou as pernas e encheu-se de fôlego ao ver de longe detalhes da Igreja: o relógio numa das torres laterais, o alinhar-se visual de ambas as torres, o Cristo de braços abertos. Estava mesmo em Barras. Olhava tão demoradamente que não sentiu o caminhão costurar as curvas da Rua da Tripa, nem Genésio tirar do alto da carga de babaçu o cofo de palha que aprisionava a pedrês, muito menos as mercadorias da casa de Barras, embora o cheiro dos beijus de farinhada, de que tanto o pequeno gostava, estivesse entranhado no ar como o perfume dos jasmins do quintal da bisavó, o perfume que se pregava até no estômago.
Tomaz apertou o freio, desligou o motor, engatou uma marcha, correu a mão na testa suada e disse:
- Em casa, coronel Custódio!
- Já não era sem tempo, Tomaz. Não vejo a hora de levar esses meninos de volta pra casa. Saudade de mãe é saudade que mata.
Marciano saltou da Boleia antes mesmo que a mulher prenhe descesse e foi repreendido pelo avô:
- Velhinhos e mulheres é pra se respeitar, seja quem for. Ainda mais mulher em dias de parir. Se acalme. Barras não vai sair do lugar!
Os olhos de marciano cresceram, merejados de água, e nada disse.
O avô repetira meia dúzia de vezes, a paciência quase esgotando, que já, já, os meninos entrariam pela porta da casa dos pais, a casa no pedaço da Rua Grande conhecido como Rua do Caquengo, onde uns pretos vendiam pipoca em cacos de cuia. Já, já, veriam, ele e o irmão, o próprio abrigo e o afeto dos mais próximos, depois de trinta dias de férias na Aurora. Mas não os levaria para casa sem antes se assearem. Marciano soube disso e esqueceu a pressa; o mergulho no Marataoã, logo ali, no fundo do quintal, era razão para largar tudo, para tudo esquecer. Ia mesmo banhar no rio.
Custódio desceu para a beira do rio. Os apetrechos todos – o sabão, a toalha e o pente - já nas mãos de Genésio, os pequenos correndo à frente. Coronel esperou a lavandeira, que de saída estava, retirar-se das margens. Tinha que esperar para ter a privacidade necessária ao banho. Eram muitas as mulheres que ganhavam a vida assim – o dia inteiro lavando roupas em largas pedras, no ponto em que a casa do major colhia a água para lavar as louças, no ponto em que os da casa se banhavam.
Barras ainda sonhava com água encanada e os políticos prometiam que ela não tardava. Água para beber, banhar e cozinhar saindo de canos no interior das casas, como já existia em Teresina e Parnaíba. Enquanto ela não corresse por canos, a cidade se abastecia do Marataoã, de olhos d’água e das ancoretas carregadas no lombo de jegues. Não raro, meninos cruzavam as ruas, tangiam jumentos que transportavam o líquido para encher os potes nas bilheiras. Meninos vendendo água de porta em porta.
Coronel esfregava as costas com bucha de esponja, retirada de uma cerca, e botava sentido nos meninos. Marciano mergulhando, mergulhando; a todo custo, procurava enxergar em vão alguma coisa no fundo do rio, indiferente às advertências do avô:
- Não vá chegar à casa de Margarida com dor de ouvido, nem dar trabalho logo hoje, no dia do retorno, que ela está coberta de saudades.
Quem mergulhava agora era o coronel, mergulhava e nadava por extensão maior da praia grande, a área compreendida entre a Ilha dos Amores e os araçás da Prainha. Não havia bênção maior para Barras do que as águas do rio, ainda mais depois da barragem que Chico Luiz construiu há poucos anos. Depois dela, quando rompia o inverno, as correntezas desciam em torrentes violentas e tinha-se mais peixe em abundância.
Major lembrava o dia da inauguração. Era dezembro. Muita gente reunida para a festa que comemorava o paredão de concreto a tornar espessas as águas do Marataoã. No inverno, o rio ficava largo e feroz. Antes da inauguração, curvina, rabo de tesoura e liso já abundavam. Vendia-se surubim pelas ruas como se vendia carne de criação. Iria a barragem acabar com essa fartura? Tolice. Acabava não. No princípio da era de 1950, o governador estava ali para a tradicional pescaria do Marataoã. Liberavam-se as águas da praia grande para a pesca e a Festa da Padroeira em mais atrativos se excedia.
Pequena mostra do sol sugava os últimos pontos do dia ao sul, onde se concretizava a certeza do dia findo. Custódio, apontando para a margem, gritou aos netos:
- Saiam d’água que vão já pra casa. Joana Pó vai arrumá-los. E já abraçam a mãe de vocês.
- É já, vô! - disse o menorzinho, sacudindo o cabelo que cobria os olhos.
Segurando as mãos do avô, os meninos caminhavam quase correndo e, em companhia de Genésio, que sustentava entre os dedos as embiras amarradas ao cofo de palha de Marciano, desceram a Rua do Caquengo.
A noite seria de luz até às nove, enquanto funcionasse a usina, e o patrão já dissera: demorariam na rua. Da conversa na porta de coronel Lulu, iriam ao bar de Totonha e, de lá, jogariam prosa fora, bebendo cervejas no ambiente de “Mo bem”. Não era todo dia que podiam ir à cidade. Não era.