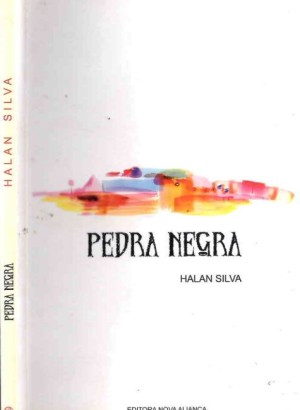MEMÓRIAS DE BARRANCO
 Por Rogel Samuel Em: 03/09/2021, às 17H00
Por Rogel Samuel Em: 03/09/2021, às 17H00
Memórias de barrancos: a poesia comprometida de Isaac Melo
Zemaria Pinto
Há exatos 90 anos, Ezra Pound publicou a primeira versão da sua teoria poética, definitivamente sistematizada três anos depois.[1] Numa palestra para entendidos em poesia, esse tópico frasal causaria comoção: 90 anos?!... Certamente, começariam a abandonar o recinto ou a desligar o aplicativo. Acrescento ainda, para os que não sabem, que Pound (1885-1972), norte-americano, era assumidamente fascista, tendo vivido na Itália de Mussolini, de 1925 a 1945, quando foi capturado pela Resistência e entregue às forças de seu país natal, sendo preso, torturado e declarado “doente mental perigoso”, ficando isolado nessa condição por doze anos. Uma teoria de 90 anos, formulada por um fascista, então? Sim. E ainda não ultrapassada. Se você – minha cara leitora, meu caro leitor – estivesse naquela hipotética sala, continuaria me ouvindo? Se positivo, sigamos adiante. Se não, obrigado pela atenção e até outra. Só não me cancele...
A teoria de Pound resume-se ao seguinte: há três modalidades de poesia; aquela em que predominam propriedades musicais, baseadas em características próprias da poesia, como metrificação, estrofação, rima, assonância, aliteração, anáfora etc.; uma segunda, onde as imagens são construídas a partir de figuras de linguagem consagradas na retórica, como metáfora, metonímia, alegoria, sinestesia, hipálage etc.; e, por fim, aquela em que predominam as ideias, a reflexão, sem prescindir das propriedades musicais e imagéticas – Pound dizia que esta é “a dança do intelecto entre as palavras”. Respectivamente, o querido leitor, a querida leitora, irão encontrar essas definições com os nomes gregos que Pound preferia: melopeia, fanopeia e logopeia.
Memórias de barrancos, de Isaac Melo, é um livro singular. Sua primeira qualidade é fugir de modismos e hermetismos inócuos, construindo uma poesia que tem cores e odores próprios. Uma poesia sensorial, que quase pode ser tocada. E que os idiotas – os daqui e os de lá – chamariam de regionalismo, como se isso fosse um crime de lesa-literatura e não um atributo para além do meramente acessório, o que leva à segunda qualidade do livro: sua universalidade. Calcada no contemporâneo, longe de se datar, colabora com a compreensão do que acontece para além do noticiário ordinário, atrelado a facções e a discursos que entendem a obra de arte apenas na sua superfície visível a olho nu com a mente em suspensão.
Alguns clichês descartáveis, um ou outro adjetivo supérfluo e até mesmo inevitáveis “gralhas”, podem ser corrigidos (ou não) numa próxima edição – o que me lembra um ensinamento poundiano: poesia é condensação, poesia é medula. Só assim, o poeta pode alcançar o máximo da sua expressão, atingindo a “linguagem carregada de significado até o mais alto grau possível” – outra sacada de Pound. Formado em filosofia, o autor orienta sua poesia a repensar a condição humana – e como ele está em Rio Branco ou Tarauacá, não em São Paulo ou no Paraná, sua poesia repensa o seu universo próximo – não apenas a gente, mas os mitos que fundaram essa gente.
Os oitenta e quatro poemas que compõem o livro não estão divididos por temas, embora obedeçam a uma organização lógica – que, às vezes, é negada. Mas isso não tem muita importância, embora fosse desejável. O poema que abre o livro – “Da Amazônia” – tem uma clara função de “poética”, na medida em que anuncia para o leitor o que o espera na leitura dos poemas consequentes:
escrevo da Amazônia (...)
escrevo com estes barrancos (...)
escrevo com estes igarapés podres (...)
São os versos que iniciam as três primeiras de dez estrofes. “Corpos rebeldes / que sucumbem nas periferias”; “rios assoreados”, onde faltam peixes “e se envenenam as águas”; a violência das queimadas; o sangue de indígenas, posseiros e quilombolas; matas que viram pastos, pastos que viram cemitérios.
escrevo também com as mãos calejadas
deste povo sofrido (...)
às vezes atadas, às vezes em oração
mãos em luta ou em luto
mas jamais em vão
O segundo poema, que dá título à coletânea, “Memórias de barrancos”, tem uma construção inusual, nas suas seis páginas e meia, misturando versos curtos e versos longos, que podem ser, equivocadamente, tomados como prosa, mas são poesia de alta tensão, lembrando um remoto Roberto Piva ou ainda um não menos longínquo José Agripino de Paula. E aqui, sigo o ensinamento soberano de Pound: nenhum poeta está sozinho no mundo. É preciso comparar e descobrir conexões, ainda que não intencionais. O poema de Isaac Melo tem um tom de manifesto, procura vínculos, nexos, links:
coração de ouricuri, dentes de coco jarina
olhos de sementes de mulungu
pele de barranco, cabelos pretos de igapós
mãos de sapupemas, dedos de cipós (...)
kaxinawá yawanawá katukina ashaninka (...)
e foi assim, sem brasão nem nobiliarquia, às margens do rio tarawaká, que tudo se deu. (...)
aí chamaram o delegado que chamou o pastor que chamou o padre que chamou o bispo que chamou a corte celestial do supremo (...)
A ironia de Isaac Melo tange a crueldade, quando trata da poesia como mero instrumento de ascensão social:
poesia, poesia sempre, não a guardada em potinhos, daquelas que os poetas lavram e levam para a admiração das confreiras e confrades sempre casta e castrada nunca cáustica.
Aliás, poesia cáustica não cabe na mediocridade de grupinhos de mensagens.
A aproximação com a poesia de Thiago de Mello é explícita: “faz escuro e eu me espanto”. Tal como em Thiago, a poesia de Isaac é comprometida – com a vida. “Memórias de barrancos” corre o risco mesmo de datar-se: quem haverá de lembrar-se, daqui a vinte, trinta anos, do sentido destas palavras de maldição?
chores por quem trocou o cristo pelas figuras caricatas dos messias de armas nas mãos com seus apóstolos da ignorância e da ignomínia do medo e da morte
Os dois poemas citados dão o tom geral do livro, mas não esgotam o prazer de novas descobertas, surpreendendo o leitor com subtextos diversos. Mulheres fortes: “A bisavó”, “Chica”, “Maria Mulher”, que “trabalhava o dia inteiro / e à noite ainda apanhava do companheiro”. Futebol-ópio: abordado no poema-título, retorna em “Seleção”, “e as almas exangues / já não aguentam gritar / tantos gols de sangue”. A poesia do silêncio: “Intervalo”, “O pó”, “A sombra”, “Epifania”, “No escuro”. A delicadeza dos tercetos, nas páginas 57 a 68. Imagens de altíssima densidade poética, como “o vento, pendurado no varal” (“Porque é domingo”); “o desossar das horas” (“Prisioneiros”); “sob o escarro do tempo” (“A existência”); “as vísceras das horas” (“A sombra”); “a vida tem o comprimento / de um banzeiro” (“Banzeiro”); “a lembrança em mim é água de repiquete” (“Memorial lírico da infância”); “o sangue das horas lentas” (“Momento”), um improvável diálogo com Raimundo Monteiro, como improvável é o diálogo com Anibal Beça em “Terna colheita”.
Sem descuidar do ritmo, da melodia e da harmonia, a principal sustentação das ideias em Memórias de barrancos são mesmo as imagens. O neologismo “servilização”, por exemplo, do poema “Coração doador”, é em si mesmo uma ideia que reflete uma imagem de servilidade, opondo-se à civilidade – esta, tão transparente que prescindimos de imagem para entendê-la. O poema “Uma tarde na Amazônia” tem um desfecho surrealista:
acordo-me, a rede é agora um poema
meu corpo, um rio de palavras
leio-me na nudez de minhas águas
E lembrando que, afinal, ninguém está sozinho, o poema “Epitáfio” é um papo descontraído com uma das “Polonaises” de Leminski: “um dia / a gente ia ser homero / a obra nada menos que uma ilíada”.[2] Intertextos.
A ironia, figura presente na maior parte dos poemas de Isaac Melo, pode ser ilustrada, sem necessidade de maiores explicações, no poema “Depois do último”, que transcrevo na íntegra:
depois do último
indígena sucumbir
pela bala envenenada
do capital
vão erguer
em plena capital
em bronze maciço
um grande memorial
para eternizar
e ensinar
às gerações futuras
o amor
e o valor
das culturas
Se “os artistas são as antenas da raça”, como acreditava Ezra Pound, Isaac Melo, de seu posto, às margens do Tarawaká plantado, capta, processa e retransmite os sinais da servilização, fazendo o seu trabalho de metamorfose – mudando a banalidade em linguagem – para que um dia cheguemos ao estágio da civilização. Ou não.
| Criador e criatura. |