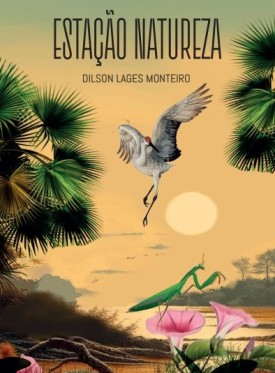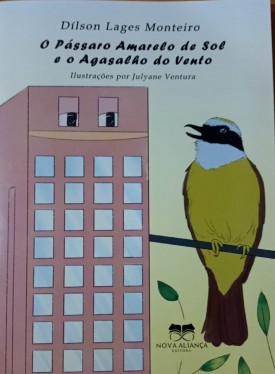Mario Vargas Llosa: "Elogio à leitura e à literatura"
Em: 26/02/2021, às 22H40

[Mario Vargas Llosa]
"Aprendi a ler aos cinco anos, em sala de aula do Frei Justiniano no Colégio La Salle, em Cochabamba (Bolívia). É a coisa mais importante que aconteceu em minha vida. Quase 70 anos depois, recordo, com nitidez, como a magia de traduzir as palavras dos livros em imagens enriqueceu minha vida, rompendo as barreiras do tempo e do espaço, e me permitindo viajar com o Capitão Nemo 20 mil léguas submarinas. E lutar junto com D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis contra as intrigas que ameaçavam a Rainha [Maria de Médici ou Médicis] nos tempos do ardiloso Richelieu, ou, ainda, me arrastar pelas entranhas de Paris, como se fora Jean Valjean, carregando, às costas, o corpo sem vida de Marius.
A leitura convertia o sonho em vida e a vida em sonho e colocava ao alcance do pedacinho de homem que eu era o universo da literatura. Minha mãe me contou que as primeiras coisas que escrevi foram continuações das histórias que eu lia, porque sentia tanta pena quando terminavam que queria prolongar o final. Talvez por isto, tenha passado a vida, ainda que sem perceber, prolongando no tempo, enquanto crescia, amadurecia e envelhecia, as histórias que preencheram minha infância de exaltação e de aventuras.
Gostaria que minha mãe estivesse aqui, ela, que sempre se emocionava e chorava a ler poemas de Amado Nervo e Pablo Neruda. Queria a presença do avô Pedro, de nariz grande e careca reluzente, que comemorava meus versos, e, também, do tio Lucho, que tanto me encorajou a me dedicar, de corpo e alma, a escrever, embora a literatura, naquela época e naquele lugar, “alimentasse” muito mal aos seus seguidores. Por toda vida, tive ao meu lado pessoas assim, que me amavam, me incentivavam, e me contagiavam com sua fé, quando eu hesitava. Graças a elas e, sem dúvida, também à minha obstinação e a certa dose de sorte, consegui dedicar boa parte de meu tempo a esta paixão, a este vício e a esta maravilha que é escrever. Criar uma vida paralela onde nos refugiamos contra as adversidades, e que transforma o extraordinário em natural e o natural em extraordinário. Dissipa o caos. Embeleza o feio. Eterniza o instante e torna a morte um espetáculo efêmero.
Não foi fácil escrever histórias. Ao lidar com as palavras, os projetos se desvaneciam no papel e as idéias e imagens desfaleciam. Como reanimá-las? Felizmente, aí estavam os mestres com quem pude aprender e seguir seu exemplo. Flaubert me ensinou que o talento é disciplina rígida e muita paciência. Faulkner, que é a forma (a escrita e a estrutura) o que engrandece e / ou empobrece os temas. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Thomas Mann, que o número e a ambição são tão importantes num romance quanto a habilidade estilística e a estratégia narrativa. Sartre, que as palavras são ações e que um romance, uma peça de teatro, um ensaio, comprometidos com a atualidade e com as opções mais justas, podem mudar o rumo da história. Camus e Orwell, que uma literatura desprovida de moral é desumana e Malraux, que o heroísmo e a épica se encaixam no presente tanto como no tempo dos argonautas e da Ilíada e da Odisséia.
Se convocar neste discurso todos os escritores a quem devo algo ou muito, suas sombras nos submergiriam na escuridão. São inumeráveis. Além de revelarem os segredos do ofício de contar, me ensinaram a explorar as profundezas do ser humano, admirar suas façanhas e me horrorizar com seus desvarios. Foram os amigos mais serviçais, os estimuladores de minha vocação, em cujos livros descobri que, mesmo nas piores circunstâncias, há esperança e que vale a pena viver, nem que seja porque sem a vida, nem podemos ler nem imaginar histórias.
Algumas vezes me perguntei se, em países como o meu, com poucos leitores e tantos pobres, analfabetos e injustiças, e onde a cultura é privilégio de tão poucos, escrever não seria um luxo solipsista. Mas estas dúvidas nunca sufocaram minha vocação e segui sempre escrevendo, mesmo em períodos em que trabalhos para sobrevivência imediata absorviam quase todo meu tempo. Acredito que fiz certo. Se para a literatura florescer numa sociedade fora preciso alcançar primeiro a cultura erudita, a liberdade, a prosperidade e a justiça, ela nunca teria existido. Ao contrário. Graças à literatura, às consciências que formou, aos desejos e às aspirações que incutiu, ao desencanto da realidade com que regressamos de uma viagem a uma bela fantasia, a civilização é, agora, menos cruel do que quando os contadores de histórias começaram a humanizar a vida com suas fábulas. Seríamos piores do que somos sem os bons livros que lemos, mais conformistas, menos inquietos e rebeldes, e o espírito crítico, motor do progresso, sequer existiria. Tal como escrever, ler é protestar contra as adversidades da vida. Quem procura na ficção o que não tem, diz, sem necessidade de dizê-lo e, talvez, sem sequer sabê-lo, que a vida tal como é não nos basta para preencher nossa sede do absoluto, fundamento da condição humana, e que deveria ser melhor. Inventamos a ficção para poder viver, de alguma maneira, as muitas vidas que quiséramos ter, quando apenas dispomos de uma única.
Sem a ficção seríamos menos conscientes da importância da liberdade para que a vida seja suportável e do inferno em que se converte a vida quando aviltada por um tirano, uma ideologia ou uma religião. Aqueles que duvidam que a literatura, além de nos submergir ao sonho de beleza e de felicidade, nos alerta contra todas as formas de opressão, pergunte-se porque todos os regimes empenhados em controlar o comportamento dos cidadãos do berço à sepultura, a temem tanto, que estabelecem sistemas de censura para reprimi-la e vigiam com tanta desconfiança os escritores independentes. Agem assim porque conhecem o risco que correm deixando a imaginação fluir através dos livros e quão sediciosa se torna a ficção quando o leitor confronta a liberdade que nela é possível e que nela se exerce com o obscurantismo e o medo que se escondem no mundo real. Queiram ou não, saibam disto ou não, os fabuladores, ao inventar suas histórias, propagam a insatisfação, mostrando que o mundo está mal feito e que a vida de fantasia é mais rica do que a rotina diária. Esta comprovação, se ela se enraíza na sensibilidade e na consciência, transforma os cidadãos mais difíceis de manipular, de aceitar as mentiras daqueles que querem lhes fazer crer que entre grades, inquisidores e carcereiros vivem mais seguros e melhor.
A boa literatura constrói pontes entre povos distintos, e, nos fazendo desfrutar, sofrer ou nos surpreender, nos une, apesar das crenças, dos idiomas, usos, costumes e preconceitos que nos separam. Quando a grande baleia branca sepulta o capitão Ahab no mar, faz com que o coração dos leitores fique apertado, de forma idêntica, estejam em Tóquio, em Lima ou em Tombuctu. Quando Emma Bovary engole arsênio; Anna Karenina se atira ao trem; Julien Sorel sobe à forca; e quando, em El Sur, o médico urbano Juan Dahlmann sai da mercearia dos pampas para enfrentar a faca de um valentão; ou quando avisamos que todos os moradores de Comala, o povoado de Pedro Páramo, estão mortos, a emoção é semelhante para o leitor que adora Buda, Confúcio, Cristo, Alá ou é ateu; ou para quem veste termo e gravata, batinas, quimonos ou bombachas. A literatura cria uma fraternidade dentro da diversidade humana e rompe as fronteiras que se erguem entre homens e mulheres, a ignorância, as ideologias, as religiões, as línguas e a estupidez.
Como todas as épocas tiveram seus horrores, a nossa é a dos fanáticos, dos terroristas suicidas, espécie antiga convencida de que matando alcança o paraíso, que o sangue dos inocentes apaga ofensas coletivas, corrige injustiças e impõe a verdade sobre falsas crenças. Inúmeras vítimas são sacrificadas, a cada dia, em diferentes localidades ao redor do mundo por aqueles que se sentem donos de verdades absolutas. Acreditávamos que, com o fim dos impérios totalitários, a convivência, a paz, o pluralismo, os direitos humanos se imporiam e o mundo deixaria para trás holocaustos, genocídios, invasões e guerras de extermínio. Nada disto ocorreu. Novas formas de barbárie proliferam atiçadas pelo fanatismo e, com a multiplicação de armas de destruição massiva, não se pode excluir a possibilidade de que qualquer grupo pequeno de loucos redentores provoque, num dia qualquer, um desastre nuclear. É preciso segui-los de perto, enfrentá-los e derrotá-los. Não são muitos, mas o eco de seus crimes repercute por todo o planeta e nos sobrecarregam de horror os pesadelos que provocam. Não devemos nos deixar intimidar por aqueles que querem arrebatar a liberdade que temos conquistado na longa façanha da história da civilização. Defendamos a democracia liberal, que, com todas suas limitações, continua significando pluralismo político, convivência, tolerância, direitos humanos, respeito à crítica, à legalidade, às eleições livres, à alternância no poder. Trata-se de tudo aquilo que nos livrou de uma vida selvagem, aproximando-nos (ainda que nunca cheguemos a alcançá-la) à vida bonita e perfeita idealizada nas obras literárias, aquela que somente inventando, escrevendo e lendo, podemos merecer. Enfrentando os fanáticos homicidas defendemos nosso direito de sonhar e transformar nossos sonhos em realidade.
Quando criança, sonhava em chegar, algum dia, a Paris. Deslumbrado com a literatura francesa, acreditava que viver ali e respirar o ar que Balzac, Stendhal, Baudelaire e Proust respiraram ajudaria a me transformar em verdadeiro escritor. Acreditava que se não saísse do Peru, seria apenas um pseudo-escritor de domingos e feriados. E a verdade é que devo a França e à cultura francesa lições memoráveis, como a de que a literatura é tanto vocação quanto disciplina, trabalho e obstinação. Morei ali quando Sartre e Camus estavam vivos e escrevendo. Eram os anos de Ionesco, Beckett, Bataille e Cioran; da descoberta do teatro de Brecht e dos filmes de Ingmar Bergman; do TNP [Théâtre National Populaire] de Jean Vilar; do Théâtre de L'Odéon, de Jean Louis Barrault; da Nouvelle Vague e do Nouveau Roman e dos discursos (belíssimas peças literárias) de André Malraux. E, talvez, do espetáculo mais teatral da Europa daquela época, as conferências de imprensa e os trovões olímpicos do General de Gaulle. Mas, talvez, o que mais agradeça a França seja a descoberta da América Latina. Ali aprendi que o Peru era parte de vasta comunidade unida pela história, geografia, problemática social e política, por certa maneira de ser e pela saborosa língua em que falava e escrevia. E que naqueles mesmos anos, produzia uma literatura inovadora e poderosa. Ali li Borges, Octavio Paz, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso e muitos outros, cujos escritos estavam revolucionando a literatura em língua espanhola e graças aos quais a Europa e boa parte do mundo descobriam que a América Latina não era somente o continente dos golpes de Estado, dos falsos líderes, dos guerrilheiros barbudos e dos maracás do mambo e do chá-chá-chá. Era, também, o continente de idéias, formas artísticas e fantasias literárias que transcendiam o pitoresco e se expressavam em linguagem universal.
A partir de então até hoje, não sem tropeços e escorregões, a América Latina tem progredido, embora, como dizia o verso de César Vallejo, todavia, irmãos, muito a ser feito! Suportamos menos ditaduras do que antes, só Cuba e sua potencial seguidora, Venezuela, e algumas pseudodemocracias populistas e palhaças, como as de Bolívia e Nicarágua. Mas, no resto do continente, bem ou mal, a democracia está funcionando, apoiada em consensos populares amplos; e pela primeira vez em nossa história, temos uma esquerda e uma direita, que, como no Brasil, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, República Dominicana, México e em quase toda a América Central, respeitam a legalidade, a liberdade de crítica, as eleições e a renovação do poder. Este é o caminho certo e se permanece nele, combate a insidiosa corrupção e segue se integrando ao mundo, a América Latina deixará, por fim, de ser o continente do futuro e passará a ser o continente do presente.
Nunca me senti um estrangeiro na Europa, na verdade, nem em qualquer outra parte. Em todos os lugares em que vivi, Paris, Londres, Barcelona, Madrid, Berlim, Washington, Nova York, Brasil ou República Dominicana, me senti em casa. Sempre descobri um recanto onde podia viver em paz e trabalhar, aprender coisas, alimentar ilusões, encontrar amigos, bons livros e temas para escrever. Não me parece que, ao me haver transformado, mesmo sem querer, em cidadão do mundo, isto tenha enfraquecido o que se chama "raízes", meus vínculos com meu país (o que tampouco teria muita importância), porque se assim fora, as experiências peruanas nem seguiriam me alimentando como escritor nem assomariam sempre em minhas histórias, mesmo quando parecem ocorrer muito longe do Peru. Creio que viver tanto tempo fora do país onde nasci fortaleceram ainda mais esses vínculos, acrescentando-lhes perspectiva mais lúcida, e a nostalgia, que sabe diferenciar o adjetivo do substancial, continua reverberando as recordações. O amor ao país em que alguém nasceu não pode ser obrigatório, e, sim, como qualquer outro amor, um movimento espontâneo do coração, como o que une amantes, pais a filhos, e amigos entre si.
O Peru, eu o levo nas entranhas, porque nele nasci, cresci, me formei e vivi experiências de infância e juventude que moldaram minha personalidade, forjaram minha vocação; e porque ali, amei, odiei, fui feliz, sofri e sonhei. O que ali acontece me afeta mais, me comove e me exaspera mais do que o que sucede em outros lugares. Não tenho buscado que assim seja nem tenho me imposto, simplesmente é assim. Alguns compatriotas me acusaram de traidor e estive a ponto de perder a cidadania quando, durante a última ditadura, pedi aos governos democráticos do mundo que penalizassem o regime com sanções diplomáticas e econômicas, como sempre acontece com todas as ditaduras de qualquer natureza, como a de Pinochet, a de Fidel Castro, a dos talibãs no Afeganistão, a dos imames do Irã, ao apartheid da África do Sul, aos sátrapas uniformizados da Birmânia (atual Myanmar). E voltaria a fazê-lo amanhã se (o destino não queira e os peruanos não permitam) o Peru for vítima, uma vez mais, de golpe de Estado que aniquile nossa frágil democracia. Aquela não foi uma ação precipitada e passional de um ressentido, como escreveram alguns polígrafos acostumados a julgar os demais desde sua própria pequenez. Foi um ato coerente com minha convicção de que uma ditadura representa o mal absoluto para um país, uma fonte de brutalidade e corrupção e de feridas profundas que tardam a cicatrizar, envenenam seu futuro e criam hábitos e práticas malignas, que se prolongam ao largo das gerações atrasando a reconstrução democrática. Por isto, as ditaduras devem ser combatidas impiedosamente por todos os meios a nosso alcance, incluídas as sanções econômicas. É lamentável que os governos democráticos, em vez de dar o exemplo, solidarizando-se com quem (como as Damas de Branco, em Cuba; os resistentes venezuelanos; Aung San Suu Kyi e Liu Xiaobo) enfrenta corajosamente as ditaduras a que estão submetidos, se mostrem, freqüentemente, complacentes não com eles, mas, sim, com seus carrascos. Esses bravos, lutando por sua liberdade, também lutam pela nossa.
Um compatriota meu, José María Arguedas, chamou o Peru de “o país de todos os sangues". Não creio que exista fórmula que o defina melhor. Somos e levamos dentro de nós, todos os peruanos, gostem ou não: uma soma de tradições, raças, credos e culturas procedentes dos quatro pontos cardeais. A mim causa orgulho sentir-me herdeiro das culturas pré-hispânicas, que fabricaram os tecidos e os mantos de plumas de Nazca e Paracas e as cerâmicas mochicas ou incas em exibição nos melhores museus do mundo; dos construtores de Machu Picchu, Gran Chimú, Chan Chan, Kuelap, Sipán; das tumbas da Bruxa e do Sol e da Lua; e dos espanhóis que, com seus alforjes, suas espadas e seus cavalos, trouxeram para o Peru a Grécia e Roma, a tradição judaico-cristã, o Renascimento, Cervantes, Góngora e Quevedo, e a língua vigorosa de Castilla que os Andes adocicaram. Com a Espanha chegou, também, a África, com seu vigor, sua música e sua efervescente imaginação para enriquecer a heterogeneidade peruana. Se fôssemos um pouco mais além, descobriremos que o Peru, como El Aleph de [Jorge Luis] Borges, é, em pequeno formato, o mundo inteiro. Que privilégio extraordinário o de um país que não tem identidade própria porque tem todas elas!
A conquista da América foi cruel e violenta, como todas as conquistas, é claro. E devemos criticá-la, mas sem esquecer, ao fazê-lo, de que aqueles que cometeram essas barbaridades e esses crimes foram, em grande escala, nossos bisavôs e tataravôs, os espanhóis que foram à América e se acrioularam, e não aqueles que permaneceram em suas terras. Estas críticas, para que sejam justas, devem ser uma autocrítica. Porque, ao nos independentizarmos da Espanha, 200 anos atrás, quem assumiu o poder nas antigas colônias, em vez de redimir o índio e lhe fazer justiça pelos antigos agravos, continuou o explorando com tanta cobiça e ferocidade como os conquistadores, e, em alguns países, o dizimando e o exterminando. Digamos com toda clareza: desde dois séculos atrás, a emancipação indígena é responsabilidade exclusivamente nossa e não a estamos cumprindo. Ela segue como tema pendente em toda América Latina. Não há uma única exceção a esta infâmia e vergonha.
Amo a Espanha tanto quanto ao Peru e minha dívida com ela é tão grande como a gratidão que nutro. Se não fosse a Espanha, jamais teria chegado a esta tribuna nem seria um escritor conhecido, e, talvez, como tantos colegas desafortunados, estaria no limbo dos escritores sem sorte, sem editores, sem prêmios, sem leitores, e cujo talento, talvez (triste consolo) se descobrisse algum dia, na posteridade. Na Espanha, todos os meus livros foram publicados; recebi reconhecimentos exagerados; amigos, como Carlos Barral e Carmen Balcells e muitos outros, se desvelaram para que minhas histórias conquistassem leitores. A Espanha me concedeu uma segunda nacionalidade, quando estive para perder a minha. Jamais vivi a menor incompatibilidade entre ser peruano e ter um passaporte espanhol, porque sempre senti que Espanha e Peru são o anverso e o reverso da mesma moeda, e não tão-somente no que se refere à minha pequena pessoa, mas, também, em realidades essenciais, como história, língua e cultura.
De todos os anos em que vivi em solo espanhol, recordo, com fulgor, os cinco anos que passei na querida Barcelona, início dos anos 70. A ditadura de Franco continuava de pé e ainda fuzilava, mas já era um fóssil em frangalhos, e, sobretudo, no campo da cultura, incapaz de manter os controles do passado. Abriam-se rachaduras e fendas que a censura não conseguia frear, e, por elas, a sociedade espanhola absorvia novas idéias, livros, correntes de pensamento, valores e formas artísticas até então proibidas por subversivas. Nenhuma cidade aproveitou tanto e melhor do que Barcelona este início da abertura nem viveu efervescência semelhante em todos os campos das idéias e da criação. Tornou-se a capital cultural da Espanha, o lugar onde era preciso estar para respirar a antecipação da liberdade que chegava. E, de certa forma, foi também a capital cultural da América Latina pela quantidade de pintores, escritores, editores e artistas vindos dos países latino-americanos que ali se estabeleceram, ou iam e vinham a Barcelona, porque era onde devia estar alguém que desejava ser poeta, romancista, pintor ou compositor de nosso tempo. Para mim, aqueles foram anos inolvidáveis de companheirismo, amizade, conspirações e trabalho intelectual fecundo. Como antes em Paris, Barcelona foi uma Torre de Babel, uma cidade cosmopolita e universal, onde era estimulante viver e trabalhar, e onde, pela primeira vez desde os tempos da Guerra Civil, escritores espanhóis e latino-americanos se uniram e se irmanaram, reconhecendo-se proprietários de uma mesma tradição, e aliados numa empreitada comum e numa certeza: o fim da ditadura era iminente e, na Espanha democrática, a cultura seria a principal protagonista.
Embora não tenha ocorrido exatamente assim, a transição espanhola da ditadura para a democracia tem sido uma das melhores histórias dos tempos modernos, um exemplo de como, quando a sensatez e a racionalidade prevalecem e os adversários políticos deixam de lado o sectarismo em favor do bem comum, podem acontecer feitos tão prodigiosos como os de romances de realismo mágico. A transição espanhola do autoritarismo à liberdade, do subdesenvolvimento à prosperidade, de uma sociedade de contrastes econômicos e de desigualdades terceiro-mundistas a um país de classes médias, sua integração à Europa e sua adoção, em poucos anos, de uma cultura democrática, causou admiração no mundo inteiro e disparou a modernização da Espanha. Foi para mim experiência emocionante e enriquecedora viver tudo isto de muito perto e, às vezes, por dentro. Tomara que os nacionalismos, praga incurável do mundo moderno e também da Espanha, não estraguem esta história feliz.
Detesto todas as formas de nacionalismo, de ideologia (ou melhor, religião) provinciana, de visão limitada e excludente, que recorta o horizonte intelectual e dissimula, em seu âmago, preconceitos étnicos e racistas, pois converte em valor supremo, em privilégio moral e ontológico, a circunstância fortuita do local de nascimento. Aliado com a religião, o nacionalismo tem sido a causa dos piores massacres da história, como os das duas guerras mundiais e do atual derramamento de sangue do Oriente Médio. Nada contribuiu tanto quanto o nacionalismo para que a América Latina se tenha fragmentado, ensangüentada em disputas sem sentido e em litígios, desperdiçando recursos astronômicos na compra de armas ao invés de construir escolas, bibliotecas e hospitais.
Não há que confundir o “nacionalismo de antolhos” e seu rechaço ao "outro", sempre semente de violência, com o patriotismo, sentimento saudável e generoso de amor à terra onde alguém nasceu, seus antepassados viveram e se forjaram os primeiros sonhos, paisagem familiar de territórios, seres queridos e ocorrências que se convertem em marcos da memória e escudos contra a solidão. A pátria não são nem bandeiras nem hinos, nem discursos irrefutáveis sobre heróis emblemáticos, mas, sim, um punhado de lugares e de pessoas que povoam nossas lembranças e as tingem de melancolia, a sensação cálida de que, não importa onde estejamos, há um lar ao qual podemos voltar.
O Peru é para mim uma Arequipa onde nasci, mas nunca vivi, uma cidade que minha mãe, meus avós e meus tios me ensinaram a conhecer através de suas recordações e de seus lamentos, porque toda minha tribo familiar (como costumam fazer os arequipenses) foi levada sempre à Cidade Branca, em sua existência errante. É a Piura do deserto, a alfarroba e o sofrido burrico, a que os piuranos de minha juventude chamavam de "o pé estranho” (lindo e triste denominação!); onde descobri que não eram as cegonhas que traziam os bebês ao mundo, mas os casais fazendo umas barbaridades, que eram pecado mortal. É o Colégio San Miguel e o Teatro Variedades, onde, pela primeira vez, vi subir ao cenário, uma obra escrita por mim. É a esquina de Diego Ferré com Colón, na Miraflores limenha (a que chamávamos de Bairro Alegre), onde troquei as calças curtas pelas calças compridas, fumei meu primeiro cigarro, aprendi a dançar, a me enamorar e a me declarar às garotas. É a redação empoeirada e temerosa do jornal La Crónica, onde, aos 16 anos, velei minhas primeiras armas como jornalista, profissão que, com a literatura, tem ocupado a maior parte de minha vida e me favoreceu, como os livros, a viver mais, conhecer melhor o mundo e conviver com gente de todos os lugares e de todos os tipos: gente excelente, boa, má e execrável. É o Colegio Militar Leoncio Prado, onde aprendi que o Peru não era o pequeno reduto de classe média, na qual eu vivera até então confinado e protegido, mas, um país grande, antigo, corrompido, desigual e sujeito a todo tipo de problemas sociais. São as células clandestinas de Cahuide, nas quais, com poucos sanmarquinos [alunos da Universidad Mayor de San Marcos, Lima], preparávamos a revolução mundial. E o Peru são meus amigos e minhas amigas do Movimento Libertad, com os quais, por três anos, entre bombas, apagões e assassinatos do terrorismo, trabalhamos em defesa da democracia e da cultura da liberdade.
O Peru é Patrícia, a prima de nariz arrebitado e de caráter indomável, com quem tive a sorte de me casar há 45 anos e ainda hoje suporta as manias, as neuroses e as birras que me ajudam a escrever. Sem ela, minha vida, há muito tempo, teria se transformado num turbilhão caótico e não teriam nascido Álvaro, Gonzalo e Morgana, nem os seis netos que nos prolongam e alegram a vida. Ela faz tudo e tudo, faz bem. Resolve os problemas, administra a economia, põe ordem no caos, mantém afastados jornalistas e estranhos, preserva meu tempo, decide os compromissos e as viagens, faz e desfaz malas, e é tão generosa que, mesmo quando acredita que me repreende, me faz o melhor dos elogios: "Mario, a única coisa para que você serve é para escrever."
Voltemos à literatura. O paraíso da infância não é para mim um mito literário, mas uma realidade que vivi e usufruí na casa grande da família com três pátios, em Cochabamba, onde, com meus primos e colegas de escola, podia reproduzir as histórias de Tarzan e de Salgari; e, na Prefeitura de Piura, em cujo sótão se abrigavam morcegos, sombras silenciosas que enchiam de mistério as noites estreladas dessa terra quente. Naqueles anos, escrever foi jogar um jogo com que a família me brindava, uma dádiva a que me destinavam aplausos, a mim, o neto, o sobrinho, o filho sem papai, porque meu pai morrera e estava no céu. Era um senhor alto e bonitão, com uniforme de marinheiro, cuja foto adornava minha mesinha de cabeceira e para quem eu rezava e a quem beijava antes de dormir. Em certa manhã piurana, da qual ainda não creio haver me recuperado, minha mãe me revelou que aquele cavalheiro, na verdade, estava vivo. E que, nesse mesmo dia, iríamos morar com ele em Lima. Eu tinha 11 anos e, desde então, tudo mudou. Perdi a inocência e descobri a solidão, a autoridade, a vida adulta e o medo. Minha salvação foi ler, ler bons livros, refugiar-me nesses mundos, onde viver era emocionante e intenso, uma aventura atrás da outra, onde eu podia me sentir livre e voltar a ser feliz. E fui escrever, às escondidas, como quem se entrega a um vício inconfessável, a uma paixão proibida. A literatura deixou de ser um jogo. Tornou-se uma forma de resistir à adversidade, de protestar, de me rebelar e escapar do insuportável, minha razão de viver. Desde então e até agora, em todas as circunstâncias em que senti abatido ou golpeado, à beira do desespero, entregar-me de corpo e alma ao meu trabalho de contador de histórias tem sido a luz que sinaliza a saída do túnel, a tábua de salvação que conduz o náufrago à praia.
Embora me custe muito trabalho e me faça suar sangue, e como qualquer outro escritor, sinta, às vezes, a ameaça da paralisia, da falta de imaginação, nada me fez apreciar tanto a vida quanto passar meses e anos construindo uma história, desde seu incerto despontar: uma imagem que a memória guardou de alguma experiência vivida, que se transformou em desassossego, entusiasmo, fantasia, e que logo deu origem a um projeto e à decisão de tentar transformar essa névoa agitada de fantasmas numa história. "Escrever é uma maneira de viver", disse Flaubert. Sim, verdade, uma maneira de viver com ilusão e alegria e um fogo crepitante na cabeça, lutando com as palavras rebeldes até adestrá-las, explorando o vasto mundo como um caçador em busca da presas cobiçadas para alimentar a ficção incipiente e aplacar o apetite voraz de toda história, que, ao crescer, deseja devorar todas as demais histórias. Chegar a sentir a vertigem a que nos conduz um romance em gestação, quando toma forma e parece começar a viver por conta própria, com personagens que se movem, agem, pensam, sentem e exigem respeito e consideração, e aos quais já não é possível impor arbitrariamente um comportamento nem privá-los de seu livre arbítrio sem matá-los e sem que a história perca poder de persuasão, é uma experiência que continua me fascinando como da primeira vez, de forma tão plena e vertiginosa como fazer amor com a mulher amada por dias, semanas e meses, sem cessar.
Ao falar de ficção, falei muito sobre romance e pouco sobre teatro, outra de suas sublimes modalidades. Uma grande injustiça, é claro. O teatro foi meu primeiro amor, desde quando, adolescente, assisti no Teatro Segura, em Lima, A morte de um caixeiro viajante, de Arthur Miller, um espetáculo que me deixou traspassado de emoção e me fez correr a escrever um drama com incas. Se na capital Lima dos anos 50 houvera existido um movimento teatral eu teria sido dramaturgo em vez de romancista. Não havia, e isto me levou, cada vez mais, à narrativa. Mas meu amor pelo teatro nunca cessou, cochilou aninhado à sombra dos romances, como tentação e nostalgia, sobretudo, quando assistia a uma peça cativante. Ao fim dos anos 70, a recordação persistente de uma centenária tia-avó, Mamaé, que, nos últimos anos de sua existência, se afastou da realidade circundante para se refugiar nos recordos e na ficção, me inspirou uma história. E senti, de maneira fatídica, que aquela era uma história para o teatro, que somente sobre um cenário adquiriria a animação e o esplendor das ficções de sucesso. Escrevi com o tremor cheio de excitação de um principiante e me deliciei tanto a assistindo em cena, com Norma Aleandro no papel da heroína, que, desde então, entre romance e romance, ensaio e ensaio, tenho reincidido várias vezes. Isto sim, nunca imaginei que, aos 70 anos, subiria (talvez devesse dizer, me arrastaria) a um palco para atuar. Essa temerária aventura me fez viver, pela primeira vez, em carne e osso, o milagre que é, para alguém que há passado toda a vida escrevendo ficção, incorporar, por umas horas, um personagem de fantasia, viver a ficção diante de uma platéia. Nunca poderei agradecer o suficiente aos meus queridos amigos, o diretor Joan Ollé e a atriz Aitana Sánchez Gijón, por terem me encorajado a partilhar com eles essa experiência fantástica (em que pese o pânico que a acompanhou).
A literatura é uma falsa representação da vida, que, sem dúvida, nos ajuda a compreendê-la melhor, a nos guiar pelo labirinto em que nascemos, transcorremos e morremos. Ela nos compensa dos reveses e das frustrações que nos inflige a vida real e, graças a ela, deciframos, pelo menos parcialmente, o hieróglifo que costuma ser a existência para a grande maioria dos seres humanos, principalmente para nós, aqueles que alentamos mais dúvidas do que certezas e confessamos nossa perplexidade diante de temas, como a transcendência, o destino individual e coletivo, a alma, o sentido ou a falta de sentido da história, o mais aqui e mais ali do conhecimento racional.
Sempre me fascinou imaginar as circunstâncias incertas em que nossos antepassados, apenas um pouco distintos dos animais, recém-nascida a linguagem que lhes permitia se comunicar, iniciaram, nas cavernas, em torno das fogueiras, em noites cheias de ameaças (relâmpagos, trovões, grunhidos das feras), a inventar histórias e a contá-las. Esse foi o momento crucial de nosso destino, porque, nessas rondas de seres primitivos perplexos diante da voz e da imaginação do contador de histórias, começou a civilização, o longo transcorrer que, pouco a pouco, nos humanizaria e nos levaria a inventar o indivíduo soberano e a desgarrá-lo da tribo, as ciências, as artes, o direito, a liberdade, a escrutar as entranhas da natureza, do corpo humano, do espaço e a viajar às estrelas. Esses contos, fábulas, mitos, lendas, que ressonaram, pela primeira vez, como uma nova música diante de auditórios intimidados pelos mistérios e perigos de um mundo onde tudo era desconhecido e perigoso, devem ter sido um mergulho refrescante, um remanso para esses seres, para os quais viver significava apenas comer, proteger-se das intempéries, matar e fornicar. Desde que começaram a sonhar em coletividade e compartilhar sonhos, incentivados pelos narradores de histórias, deixaram de estar atados ao círculo da sobrevivência, ao turbilhão de tarefas de entorpecimento mental, e sua vida se transformou em sonho, prazer, fantasia e um desígnio revolucionário: romper aquele confinamento e mudar e melhorar, uma luta para aplacar os desejos e as ambições que os incitavam a vidas figurativas, e a curiosidade para desvendar as incógnitas de que estava pleno seu entorno.
Esse processo, nunca interrompido, se enriqueceu, com o nascimento da escrita e das histórias; além de ouvir, puderam ler e alcançar a permanência que lhes confere a literatura. Por isto, há que repetir, sem tréguas, até convencer as novas gerações: a ficção é mais do que entretenimento, mais do que um exercício intelectual que aguça a sensibilidade e desperta o espírito crítico. É uma necessidade imprescindível para que a civilização siga existindo, renovando-se e preservando em nós o melhor do ser humano. Para que não retrocedamos à barbárie da incomunicação e a vida não se reduza ao pragmatismo dos especialistas que vêem as coisas em profundidade, mas ignoram o que os rodeia, precede e continua. Para que não deixemos de utilizar as máquinas que inventamos para ser seus servos e escravos. E porque um mundo sem literatura seria um mundo sem desejos nem ideais nem desacatos, um mundo de autômatos desprovidos do que faz com que o ser humano seja verdadeiramente humano: a capacidade de sair de si mesmo e mover-se em outro, em outros, modelados com a argila de nossos sonhos.
Da caverna aos arranha-céus, do garrote às armas de destruição massiva, da vida tautológica da tribo à era da globalização, as ficções da literatura têm multiplicado as experiências humanas, impedindo que homens e mulheres sucumbamos à letargia, ao isolamento, à resignação. Nada tem semeado tanto a inquietude, agitado tanto a imaginação e os desejos como essa vida de mentiras que acrescentamos à que temos, graças à literatura para protagonizar grandes aventuras, grandes paixões, que a vida real nunca nos dará. As mentiras da literatura se transformam em verdades através de nós, os leitores transmutados, contaminados de desejos e, por causa da ficção, em permanente desafio com a medíocre realidade. Feitiçaria que, ao nos iludirmos em ter o que não temos, ser o que não somos, aceder a essa impossível existência, onde, como deuses pagãos, nos sentimos terrenos e eternos, ao mesmo tempo, a literatura introduz em nossas mentes o inconformismo e a rebeldia, subjacentes a todas as façanhas que têm ajudado a reduzir a violência nas relações humanas. Para reduzir a violência, e não acabar com ela. Porque a nossa será sempre, felizmente, uma história inacabada. Por isto, temos que prosseguir sonhando, lendo e escrevendo, a maneira mais eficaz que encontramos para aliviar nossa natureza perecível, derrotar a podridão do tempo e tornar possível o impossível."
Discurso de Mario Vargas Llosa quando do recebimento do Prêmio Nobel de Literatura, em Estocolmo, Suécia, a 7 de dezembro de 2010.
Tradução de Graça Targino.
Fonte: http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/20101207/elogio-lectura-ficcion/614666.shtml
Assista: