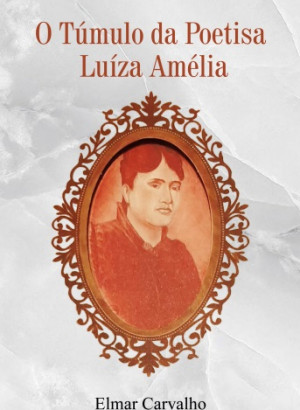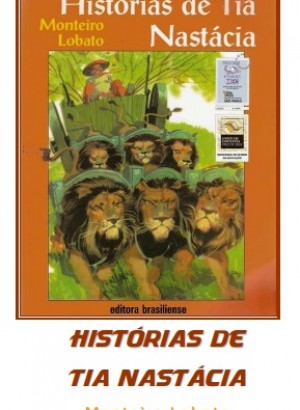Luiz Rufatto: Até aqui, tudo bem!
Em: 10/02/2018, às 08H12

[Luiz Rufatto]
Na mesa do meu escritório, de onde avisto os prédios do bairro de classe média alta de Higienópolis, do outro lado da Avenida Pacaembu, em São Paulo, há um porta-retrato. Nele, uma fotografia embaçada registra uma estranha composição: em primeiro plano um menino, trajando uma curta blusa de flanela, um desajeitado short e um sujo par de chinelos de dedo, tristes e assustados olhos semifechados. Pousadas em seus ombros magros, duas mãos femininas; ao lado, parte de uma perna de calça e uma barriga, que se adivinha em breve proeminente, indica a existência de um homem (marido das mãos femininas, talvez). Assentada sobre o braço da mulher, uma outra mão. Pela posição das sombras, deduz-se a tarde, e pelas roupas, o final de inverno. Assim a foto sobre a mesa: o menino surge de corpo inteiro, mas os outros três personagens são inidentificáveis – falta-lhes o rosto, página em branco onde se imprime nossa individualidade, nossa singularidade, nossa história, enfim.
Todo o meu esforço como escritor tem sido o de tentar recompor essa imagem. O menino, identifico-o, sou eu, aos cinco ou seis anos de idade. Mas quem são os outros três personagens que, numa tarde de inverno para sempre perdida, imobilizaram-se para o olhar amador de alguém por detrás da máquina fotográfica? Quais são seus nomes, de onde vieram, onde estarão agora, o que fizeram de suas vidas, foram felizes? Do menino, sei eu – e, curiosamente, é o que menos importa. Mas, e todos aqueles que sucumbiram, sem voz e sem nome, e que a História registrará apenas nas lápides de humildes cemitérios que a borracha do tempo apagará? E os outros, que nem mesmo a morte resgatará do anonimato?
Tive o privilégio de nascer numa pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada Cataguases. Digo privilégio pelo fato de ter crescido num lugar de forte tradição industrial – onde os interesses de classe são bem demarcados, conformando-nos uma visão de mundo menos ingênua, mais pragmática. Num país onde até hoje as relações ocorrem no plano do clientelismo, fruto do nosso atavismo rural, creio que desde cedo percebi o que havia para além das diferenças semânticas entre uma mansão e uma mansarda.
A indústria têxtil implantou-se em Cataguases a partir da década de 1910, fruto da inversão de capitais da cafeicultura em crise, e expandiu-se, atraindo mão de obra da região, afundada na pasmaceira da agricultura de subsistência. Na década de 1950, recém-casados, meus pais abandonaram a total falta de perspectiva da roça e buscaram dias melhores em Cataguases. Ambos, embora meu pai semianalfabeto e minha mãe analfabeta, tinham consciência de que somente o conhecimento formal acenaria com possibilidades de mudanças reais para os filhos e incentivaram-nos a estudar. Sonhavam para nós uma vida de operários especializados, com salário suficiente para comprar casa própria, enfeitá-la com inúmeros eletrodomésticos, casar, ter filhos saudáveis, futuro garantido, estável… Tudo o que lhes foi negado, enfim…
Meu irmão formou-se ajustador-mecânico. Fez carreira brilhante: trabalhou em Diadema, na Grande São Paulo, voltou, a convite, para Cataguases, e com 26 anos conquistava o lugar de encarregado-geral de uma fábrica de tecidos. Mas, por essa época, uma descarga de 22 mil volts interrompeu sua ascensão… Minha irmã, tecelã, largou os estudos e o trabalho para se casar… Hoje é merendeira de uma escola pública municipal… Quanto a mim… Bem, quanto a mim, posso dizer a meu favor que tudo se encaminhava segundo os preceitos de meus pais: estudante mediano, cavalgava-me, até que, num início de ano letivo, refugiando minha timidez numa biblioteca, passeava meus olhos displicentes pela lombada dos livros, quando a bibliotecária, confundindo distração com interesse, pescou-me, felicíssima, depositando em minhas mãos um livro, que por polidez não recusei. Carreguei-o para casa, abri-o e, em dois ou três dias de profunda excitação, li-o, deitado numa poltrona de napa amarela, as janelas escancaradas para a imóvel tarde anil de verão.
Nunca deixarei de lembrar daquela semana, daquele verão, daquela poltrona, daquele livro, do barulho líquido que vinha do puxado de telhas de amianto onde minha mãe, esfregando roupas no tanque, calada intuía o veneno que exalava das aparentemente inocentes páginas impressas, que, consumindo-me em febres, me conduziam a abismos de onde ninguém volta incólume. Eu tinha doze anos e pela primeira vez me dava conta de que o mundo era maior que meu bairro, maior que minha cidade, maior talvez que as montanhas que azulavam lá longe. E isso descobri pelas palavras de um escritor ucraniano, então soviético, Anatoly Kusnetzov, e seu romance-documentário, Bábi Iar, que narra o genocídio de milhares de judeus num campo de extermínio nas proximidades de Kiev. Por erráticos mistérios, o menino do bairro do Paraíso, em Cataguases, identificou-se imediatamente com a solidão, a angústia, o senso de sobrevivência daquelas famílias judias em plena Segunda Guerra Mundial.
Então, minha cidade, que julgava tão íntima, surgiu outra à minha frente. Percebi, assustado, que minha sina seria seguir os passos do meu irmão e da minha irmã, que acordavam antes do sol e, ensonados, dirigiam-se de bicicleta rumo à fábrica, incendiando seus sonhos por detrás de janelas hermeticamente fechadas, calor e barulho insuportáveis. Ou dos nossos conhecidos, que levavam a tristeza aos botequins para embriagar-se de álcool e futebol. Ou dos nossos vizinhos, cujos filhos sumiam em direção a São Paulo ou Rio de Janeiro, em busca de uma alforria nunca assinada. Ou das mulheres todas, que se entupiam de tranquilizantes ou de ilusões. E abracei-me aos oitis e fícus que protegem as calçadas e irriguei o leito do rio Pomba, que corta a cidade. Passei a frequentar com assiduidade a biblioteca. Li todos os dezoito volumes do Tesouro da Juventude e devorei a esmo romances brasileiros e estrangeiros, afundando-me, cada vez mais, na areia movediça da inquietação.
Em 1976, adquirimos uma televisão, que rapidamente tornou-se atração no bairro inteiro. Em meados daquele ano, entrou no ar uma novela na TV Globo, O feijão e o sonho, que contava a história de um professor, Juca, dividido entre o feijão (a sobrevivência numa pequena cidade do interior) e o sonho (a indignação, a poesia). Descobri, estupefato, que Juca era eu… E passei a dizer para todas as pessoas que quando crescesse seria escritor, para desespero da minha mãe, que, espectadora da novela, adivinhava os percalços do caçula. Ela tanto se martirizou, e eu a amava tanto, que resolvi satisfazer meus pais: entrei para uma escola técnica onde me formei torneiro-mecânico, uma profissão séria e de futuro. O sonho, abandonei-o… momentaneamente apenas, pois uma vez contaminado, em algum momento ressurgiriam os sintomas, eu sabia…
Em 1978, mudei-me para Juiz de Fora, onde, exercendo a profissão de torneiro-mecânico, inscrevi-me no vestibular de Comunicação da Universidade Federal… Jornalista, cuidei do feijão: exerci a profissão em Juiz de Fora, em São Paulo. Para alegria da minha mãe – e também do meu pai – galguei postos na rígida hierarquia das redações: repórter, redator, subeditor, editor, coordenador, secretário de redação. Durante quase vinte anos renunciei, conscientemente, à criação literária. Me preparava… Algumas perguntas me perseguiam: para que escrever? Sobre o que escrever? Como escrever?
Sobre o que escrever era a pergunta que me parecia mais fácil responder. Obviamente, eu pensava, sobre o universo que conheço, o do trabalhador urbano, os sonhos e pesadelos da classe média baixa, esse recorte social indefinido, com todos os seus preconceitos e toda a sua tragédia. Digo obviamente porque para mim a Arte é manifestação de experiências pessoais, embora não necessariamente autobiográficas. Mas, curiosamente, quando fui pesquisar na história da literatura brasileira os meus antecessores, imensa a minha decepção. Poucos, ou melhor, pouquíssimos autores haviam se debruçado sobre essa questão. Por quê? Porque, penso contribuir para essa reflexão, de um lado o trabalhador urbano não suscita o glamour, por exemplo, que suscita o malandro ou o bandido – personagem sempre presente na ficção nacional, representado do ponto de vista da classe média como um desestabilizador da ordem social; de outro lado, absorvidos pela inflexível hierarquização da sociedade brasileira, os indivíduos oriundos de classe média baixa necessitam negar suas origens para serem aceitos na sociedade.
Se então eu tomara a decisão de retratar o universo do trabalhador urbano em minha obra, faltava-me responder à questão seguinte: como escrever? O romance tradicional, tal como o conhecemos, nasce no século 18 como instrumento de descrição da realidade do ponto de vista de uma classe social ascendente, a burguesia. Ou seja, o romance ideologicamente serve a uma visão de mundo específica. Como usar a forma sem trair o conteúdo? Ou, de outra maneira: qual a forma adequada de representar o ponto de vista da classe média baixa, do trabalhador urbano? Paralelamente ao aparecimento do romance tradicional burguês, surge o que chamo de antirromance, que espasmodicamente construiu uma tradição: Sterne, Xavier de Maistre, Richardson, Dujardin, Machado de Assis, Joyce, Proust, Faulkner, Robbe-Grillet, Calvino, Pérec… E poderíamos incluir ainda nessa tradição, que chamaríamos de “literatura experimental”, contistas como Tchekov, Pirandello, Mansfield… Portanto, havia uma janela aberta…
Em 1998, publiquei Histórias de remorsos e rancores e em 2000 (os sobreviventes). Eram passos tímidos ainda, mas importantes para consolidar minha opção. Então, em 2001, radicalizei a experiência, lançando Eles eram muitos cavalos. Esse romance nasceu da necessidade de tentar entender o que estava acontecendo à minha volta – e para isso tomei a cidade de São Paulo como síntese da sociedade brasileira. Um dia, caminhando pelos corredores de uma das bienais de arte de São Paulo, deparei com uma curiosa instalação: um amontoado aparentemente aleatório de calçados abandonados (tênis, chinelos de dedo, sapatos masculinos e femininos, infantis e adultos, botas, sandálias, pantufas, etc.) que me provocou uma série de reflexões. A sola daqueles calçados percorrera o asfalto e a poeira das ruas, tomara chuva e sol, fora feliz e infeliz, enfim, nas curvas deformadas pelo uso imprimira-se uma individualidade, que recolhida e rearranjada tornara-se depoimento coletivo. Ali, de uma maneira singular e criativa, o artista reconstruíra a História.
Eles eram muitos cavalos é uma proposta de reflexão sobre o meu tempo. Nele tento recriar um dia na megalópole: uma visada panorâmica pela cidade, cujos atores, embora reconhecíveis, são apresentados como fantasmagoria em capítulos estanques. A deterioração das relações sociais emerge na precariedade formal do livro, que avança sem avançar, que tartamudeia em espasmos, numa espiral de solidão, abandono e denegação. Ruínas, forma e conteúdo, apenas ruínas…
Publicado Eles eram muitos cavalos encontrei-me num impasse: havia proposto uma reflexão sobre o “agora”, mas talvez necessitasse compreender antes “como chegamos onde estamos”. Então, comecei a elaborar o Inferno provisório, uma “saga” projetada para cinco volumes (dos quais quatro já publicados, a saber: Mamma, son tanto felice, O mundo inimigo, Vista parcial da noite e O livro das impossibilidades), que tenta subsidiar essa inquietação, discutindo a formação e evolução da sociedade brasileira a partir da década de 1950, quando tem início a profunda mudança do nosso perfil socioeconômico, de um modelo agrário, conservador e semi-feudal para uma urbanização desenfreada, desarticuladora e pós-industrial, e suas conseqüências na desagregação do indivíduo. Para tanto, uso da máxima de Caetano Veloso, que sintetiza bem as nossas agruras, “Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína”. Ou seja, pulamos da roça para a periferia decadente urbana sem escalas…
Evidentemente, essa descrição abarca apenas a superfície da narrativa. Contudo, é o entrecruzamento das experiências “de fora” e “de dentro” dos personagens o que me interessa. Importa-me estudar o impacto das mudanças objetivas (a troca do espaço amplo pela exiguidade, a economia de subsistência pelo salário, etc.) na subjetividade dos personagens. Erigir essa interpenetração da História com as histórias, acompanhar a transformação do país pelos olhos de quem a realiza sem o saber, eis minha proposta.
Só que não compreendo uma reflexão sobre essa questão sem que sejam colocados em xeque os próprios fundamentos de gênero. Do meu ponto de vista, para levar à frente um projeto de aproximação da realidade do Brasil de hoje, torna-se necessária a invenção de novas formas, em que a literatura dialoga com as outras artes (música, artes plásticas, teatro, cinema, etc.) e tecnologias (internet, por exemplo), problematizando o espaço da construção do romance, que absorve onivoramente a estrutura do conto, da poesia, do ensaio, da crônica, da oralidade…
Os cinco volumes do Inferno provisório são compostos de várias unidades compreensíveis se lidas separadamente, mas funcionalmente interligadas, pois que se desdobram e se explicam e se espraiam umas nas outras, numa ainda precária transposição da hipertextualidade. Então, pode-se ler de trás para frente, pedaços autônomos ou na ordem que se quiser estabelecer, assumindo um sentido de circularidade, onde as histórias se contaminam umas às outras. E a linguagem acompanha essa turbulência – não a composição, mas a decomposição.
Definido o tema, definida a forma, restava-me ainda uma questão: para que escrever? Para mim, escrever é compromisso. Compromisso com minha época, com a minha língua, com meu país. Não tenho como renunciar à fatalidade (será uma fatalidade?) de viver nos começos do século XXI, de escrever em português e de viver num país chamado Brasil. Esses fatores, junto com a minha origem social, conformam toda uma visão de mundo à qual, mesmo que quisesse, não poderia renunciar. Fala-se em globalização, mas as fronteiras entre os países caíram para as mercadorias, não para o trânsito das pessoas. Proclamar nossa singularidade é uma forma de resistir à mediocrização, à tentativa de aplainar autoritariamente as diferenças culturais.
A realidade se impõe a mim e o que move o meu olhar é a indignação. Não quero ser cúmplice da miséria nem da violência, produto da absurda concentração de renda no meu país. Por isso, proponho, no Inferno provisório, uma reflexão sobre os últimos 50 anos do Brasil, quando acompanhamos a instalação de um projeto de perpetuação no poder da elite econômica brasileira, iniciado logo após a Segunda Guerra Mundial com o processo de industrialização brutal do país, com o deslocamento impositivo de milhões de pessoas para os bairros periféricos e favelas de São Paulo e Rio de Janeiro. O imigrante, a qualquer tempo, carrega consigo a sensação de não pertencimento, fazendo com que a sua história pessoal tenha que ser continuamente refundada. Partir não é só desprender-se de uma paisagem, de uma cultura. Partir é principalmente abandonar os ossos dos antepassados, imersos na solidão silenciosa dos cemitérios. E os ossos são aquilo que nos enraízam numa história comum, feita de dor e luta, de alegrias e memórias. Rompido esse lastro, perambulamos sem saber quem somos. E se não temos autoconsciência, se permanecemos imersos na inautenticidade, não reconhecemos o estatuto do outro, do diferente de nós. E perdido esse reconhecimento, instaura-se a barbárie. A Arte serve para iluminar caminhos: e se ela modifica o indivíduo, ela é capaz de modificar o mundo. Para isso, portanto, escrevo.
O menino, trajando uma curta blusa de flanela, um desajeitado short e um sujo par de chinelos de dedo, tristes e assustados olhos semifechados, hoje tem rosto, nome e história. Mas as mãos femininas que pousam sobre seus ombros magros, a barriga masculina que se adivinha em breve proeminente e a mão esquerda (feminina também) que se assenta sobre o braço da mulher, essas desapareceram na memória dos tempos. Crescido, hoje o menino senta-se à mesa de seu escritório e tenta reconstruir a história desses personagens, inventando-lhes nomes, desenhando-lhes rostos, estabelecendo-lhes trajetórias, na ilusão de que, agindo assim, estará contribuindo para que em algum lugar alguém se lembre deles e celebre sua passagem pela Terra.
Estar aqui agora é poder dizer que o projeto está caminhando. Ou seja, poder dizer: até aqui, tudo bem!