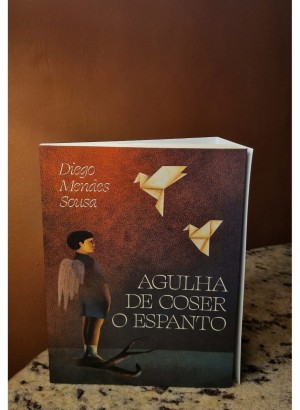Literatura: felicidade da lembrança e do existir
 Por Dílson Lages Em: 10/09/2019, às 14H54
Por Dílson Lages Em: 10/09/2019, às 14H54
Dílson Lages Monteiro – da Academia Piauiense de Letras
Descobri a literatura, formalmente, na cartilha escolar e em paradidáticos infantis que integravam uma ciranda de livros. Três pequenas narrativas dão-me o sentido da descoberta dessa aventura: habitam aos pedaços minha memória mais longínqua da relação com a palavra. Numa delas, ricamente ilustrada, uma criança brincava com um barquinho de papel em córregos e os obstáculos para o percurso nas águas formavam rios no texto e na imaginação.
Enxergava no texto de “O barquinho amarelo” o mundaréu de águas formado pelas chuvas em minha rua da infância imorredoura. A correnteza descendo em grande força, arrastando a curiosidade ao que por ela descia e, principalmente, os barquinhos de papel que aprendi a fazer. Divertia-me, vendo-os descer até onde a visão alcançasse. Ao fim da rua, ela esbarrava numa cerca de estacas, desaguando em uma quinta, onde uma lagoa tragava o sonho e a clareza dos pensamentos.
Só adulto é que conheci o que nela havia, depois que a cerca fora substituída por uma rua e o trânsito passou a ser livre onde antes cresciam mato e incertezas. Sobre o lugar, preferi ficar com a imagem do passado: a da imaginação que eu mesmo controlava, ou que me descontrolava, porque baseada nas regras da liberdade de criança. Nessa imagem de outrora revisitada, está o barquinho de papel do livro, o barquinho fora dele: uma só nau, um só sentimento, o da saudade de um tempo revertido na felicidade da lembrança e do existir.
No outro paradidático, cujo título em vão me esforço por lembrar, e igualmente rico em ilustrações, um peixe no aquário sentia-se sufocado no minúsculo espaço que o aprisionava, sufocado em admiração ao mundo externo à parede de vidro entre seu mundo de água e o mundo dos humanos. Para mim, o peixe era vivo, vivo. Assemelhava-se aos inúmeros do rio paralelo à minha casa. Dourados, piaus, piranhas, pirambebas, mandis, num tempo em que pescar de anzol de linha era lazer preferido da garotada na pequena cidade de águas fartas. Muitos desses peixes, eu me habituara a ver os irmãos e os amigos, mais velhos que eu, pescarem de anzol, na brincadeira ansiosa de esperar as vítimas puxarem as iscas, geralmente minhocas, e serem fisgadas e recolhidas, sob a dança da linha, para a margem, na expectativa de saber o que vinha na ponta do anzol. Como não pescasse ainda, aquele peixe do livro era meu peixe. Felicidade da lembrança e do existir.
Na cartilha escolar, a literatura brilhou para mim na forma de pequeno conto. A primeira vez, de memória, que li sozinho de verdade um texto (li, estabelecendo as associações com o campo dos afetos, das memórias e da própria materialidade da língua). Jamais lembramos como tudo realmente aconteceu. Recordação é sempre uma forma única de contar. Mesmo para as ciências que lidam com os fatos, a escritura é uma escritura: um momento, um recorte, uma releitura. Mas lembro de detalhes, porque o primeiro texto que li autonomamente. Sem ninguém por perto. Li, sem perceber, toda a estória de uma senhora tomando um taxi para chegar a algum destino. Li, friso, sem que me percebesse lendo de tão absorvido pelo êxtase da novidade... Ao encerrar, ciente do que me acontecera, gritara euforicamente: “Já sei leeerrr!”. Ainda que não conhecesse de verdade um táxi. Tinha 6 anos e, na pequena cidade, táxi sequer era palavra na boca dos adultos. Minha cidade era um rio, uma igreja, seu centro e a vida rural. A cartilha escolar, também, felicidade da lembrança e do existir.
As reminiscências me servem para pontuar que a literatura passou a se confundir e a se entranhar com o meu cotidiano. Seja como Leitor, propriamente dito. Seja como escrevinhador, este só existe retroalimentando-se de leitura. Leitura vivida. Leitura propriamente dita. Seja como o professor, para o qual ler é interpretar metalinguagens, estabelecendo entre elas uma ponte firme com os significados do discurso e de suas condições de produção. A literatura se tornou indispensável: condição existencial. Como manifestação artística, remete ao que anotou Ernest Fischer, em ensaio sobre “a função da arte”: forma de “identificação com o que está sendo representado” ou de “se escapar do poder da realidade”, refletindo “a união do indivíduo com um todo”, “a infinda capacidade humana para a associação, para a circulação de experiências e ideias”.
Tão necessária é a arte que, sem considerar a simetria da sentença, porque o significado está acima de tudo, não canso de repetir: literatura, felicidade da lembrança e do existir.