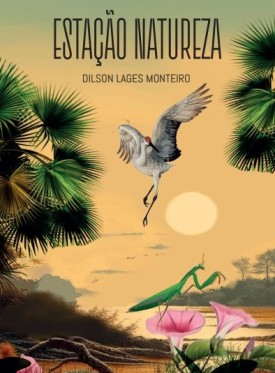DIA DE FINADOS E A MORTE NA POESIA
 Por Elmar Carvalho Em: 08/11/2015, às 20H57
Por Elmar Carvalho Em: 08/11/2015, às 20H57
ELMAR CARVALHO

Como de hábito, neste Dia de Finados não fui a nenhum cemitério. No entanto, pensei em meus mortos, parentes e amigos. Respeito os que têm o costume de visitar a cova dos seus, mas não considero que os meus ali estejam. Ali estão apenas os seus restos mortais. Eles estão em minha saudade e em minha lembrança constante. Na verdade, meus amigos mortos me acompanham, cada vez mais vivos. E talvez estejam pairando sobre os montes, os rios, as florestas e os lagos, e sobre outras belezas infinitas de uma outra desconhecida dimensão. Quando eu me for, por vontade própria jamais estarei em um cemitério. Com certeza há outros lugares mais aprazíveis em que gostaria de estar, se tal me for concedido.
Todavia, já estive em campo santo algumas vezes, sobretudo no sepultamento de pessoas amigas. No início de minha adolescência, em José de Freitas, estive algumas vezes no pequeno cemitério velho (também conhecido, algo ironicamente, como dos ricos), ao pé do Morro do Livramento. Nele, por simples curiosidade de garoto, fazia uma espécie de pesquisa histórica, e lá me deparei com os mausoléus do patriarca José de Almendra Freitas, de Antônio Freitas e o de Cândida Cunha. Esta morreu solteira e legou parte de seu rico patrimônio para a paróquia de N. S. do Livramento, além de haver construído a bela igreja de São Francisco.
Nessa mesma época, voltando a morar em Campo Maior, residi, por curto período, numa casa que ficava a dois quarteirões do velho cemitério dessa cidade. Da calçada, eu lhe avistava o portão, os cravos de defunto e o muro branco. Já ele se encontrava inativo. Ali estão sepultados, além de outros parentes, minha avó paterna e meu avô materno. Certa vez, ao contemplar vários de seus túmulos, alguns verdadeiros mausoléus, deparei-me com o do poeta Moisés Eulálio. Escrevi uma crônica, em que lhe prestei comovida homenagem, depois publicada no jornal A Luta, quando eu tinha dezesseis anos.
Aos dezesseis ou dezessete anos de idade, em companhia de meu amigo Otaviano Furtado do Vale, o Tavico, falecido em dezembro de 2013, mesmo ano em que minha mãe morreu, fiz uma viagem a Regeneração. O ônibus passava perto de um campo santo campestre, cheio de matagal. Nele havia túmulos em ruína e cruzes mutiladas. Isso foi a origem mais remota de alguns de meus poemas, entre os quais o Noturno do cemitério velho de Oeiras. No retorno escrevi um poema que falava nesses túmulos abandonados e num “agre e agressivo agreste”. Perdi esse texto ou as traças o devoraram, prestando com isso um inestimável serviço à literatura. Do meu referido Noturno transcrevo: “Cemitério / de uma morte / absoluta e sem fim / como uma música / sublime de bandolim / tangido por dedos mágicos / de Arcanjo ou Serafim ...”
Num desses cemitérios que visitei, havia um túmulo sem reboco, com os tijolos expostos e desaprumados, o que me fazia lembrar os escombros de uma tapera. De imediato me lembrei de um soneto inserto em Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, do qual transcrevo estes versos: “nada participava da quietude / absoluta, absoluta, eternamente / absoluta daquela pedra de / tumba, compacta, lisa, desprezada”. É recomendável que o leitor leia o poema completo.
Não posso dizer que a morte seja uma coisa bela, exceto transfigurada sob a forma de arte. Talvez uma exceção seja a de Sócrates, que considero bela em si mesma e no excelente texto de Platão, que a descreve. Quando fui juiz de Direito em Curimatá, o senhor Mundinho Mascarenhas me narrou a morte de Joaquim Lustosa Nogueira, que também rotulei como tendo beleza. Sobre este final de vida escrevi a crônica Uma bela morte, que publiquei no meu livro Lira dos Cinqüentanos.
 Contudo, como disse, a literatura, mormente a poesia simbolista, conseguiu transformar a morte em algo revestido de encanto e solenidade. Ali estão belas, louras e jovens virgens, com mortalhas brancas, com as níveas mãos cruzadas sobre intocados seios, adornadas por rosas e lírios. Essas angelicais virgens foram pranteadas em melodiosos versos por magníficos poetas, entre os quais Cruz e Sousa, Alphonsus de Guimaraens e o piauiense Celso Pinheiro.
Contudo, como disse, a literatura, mormente a poesia simbolista, conseguiu transformar a morte em algo revestido de encanto e solenidade. Ali estão belas, louras e jovens virgens, com mortalhas brancas, com as níveas mãos cruzadas sobre intocados seios, adornadas por rosas e lírios. Essas angelicais virgens foram pranteadas em melodiosos versos por magníficos poetas, entre os quais Cruz e Sousa, Alphonsus de Guimaraens e o piauiense Celso Pinheiro.
De o solitário de Mariana hão de ficar ressoando pela eternidade os versos: “Hão de chorar por ela os cinamomos, / Murchando as flores ao tombar do dia. / Dos laranjais hão de cair os pomos, / Lembrando-se daquela que os colhia.” Dentro dessa linha de poesia, do cancioneiro português ficarão estes versos de Antônio Feijó: “– Lírio que murcha ao despontar do dia, / Foi descansar no derradeiro leito, / As mãos de neve erguidas sobre o peito, / Pálida e loira, muito loura e fria...”
Augusto dos Anjos, poeta original, que cantou a morte, a podridão, as ossadas, o horrendo, os vícios e a degradação da carne, em versos repletos de termos cientificistas, inoculados de virulento pessimismo e morbidez, teve seus instantes de sublimidade e esperança, e em suave elegia desta forma pranteou a morte de seu pai: “Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, / Como Elias, num carro azul de glórias, / Ver a alma de meu Pai subindo ao Céu!”
Dos livros Os Literatos e a República: Clodoaldo Freitas, Higino Cunha e as tiranias do tempo, de Teresinha Queiroz, e Literatura Piauiense: horizontes de leitura & crítica literária recolhi a informação de que no início do século passado morreram Mocinha Araújo, Iaiá Pearce e Santa Martins, “jovens, belas, namoradas, noivas” da sociedade teresinense, que mereceram as mais sentidas elegias dos mais festejados poetas de então.
Sobre o falecimento de Santa Martins disse Celso Pinheiro, um dos maiores bardos do Piauí: “Quando ela morreu, a comoção foi tão funda, o golpe tão violento, os poetas choraram tanto, que a própria sociedade sentiu se lhe arrepiarem os nervos, atordoada por tão forte sentimentalismo. // Dias inteiros, semanas sucessivas, ecoou, pelo ambiente dos salões, a música magoada da nostalgia das rimas. Eram sonetos tristes, baladas lânguidas, loas sentidíssimas ressoando enternecidamente, aos nossos ouvidos, numa plangência adorável.”
 Sobre o perecimento dessas belas jovens, como um simples aperitivo, para que o leitor busque os poemas na íntegra, vejamos os seguintes versos de Celso Pinheiro: “Quando Santa morreu a Terra toda / Se cobriu de tristeza à noite, pelas / Horas mortas, porque não ia à boda / De Santa, no Palácio das Estrelas!...” E estes outros de Antônio Chaves, extraídos do soneto Yaiá Pearce: “Eras a minha fé soberba, indefinida, / Eras a minha crença, ó lírio imaculado, / Tu, que trazias n’alma inocente e querida / A ária do nosso amor e do nosso noivado.”
Sobre o perecimento dessas belas jovens, como um simples aperitivo, para que o leitor busque os poemas na íntegra, vejamos os seguintes versos de Celso Pinheiro: “Quando Santa morreu a Terra toda / Se cobriu de tristeza à noite, pelas / Horas mortas, porque não ia à boda / De Santa, no Palácio das Estrelas!...” E estes outros de Antônio Chaves, extraídos do soneto Yaiá Pearce: “Eras a minha fé soberba, indefinida, / Eras a minha crença, ó lírio imaculado, / Tu, que trazias n’alma inocente e querida / A ária do nosso amor e do nosso noivado.”
Tísico, magro, celibatário e feio, inclusive tendo passado por tratamento em sanatório suíço, tudo parecia conspirar para que o excelso poeta Manuel Bandeira morresse jovem. Mas contra todos os maus augúrios, teve uma vida longa. Seu pai desejava que ele se tornasse arquiteto, porém ele preferiu ser poeta maior (e não menor, como ele se classificou num de seus poemas). No Itinerário de Pasárgada, o poeta confessa que enquanto seu pai era vivo nada lhe causava preocupação, porque pondo a sua na mão de seu pai, “nada haveria que eu não tivesse a coragem de enfrentar”. Talvez por isso tenha escrito, em Poema de finados: “Leva três rosas bem bonitas. / Ajoelha e reza uma oração. / Não pelo pai, mas pelo filho: / O filho tem mais precisão.”
Certa feita, indo ao Cemitério da Ressurreição, onde tenho jazigo há duas décadas, espiei várias lápides. Muitas eram de pessoas jovens. Por motivos que não desejo abordar agora, hoje morrem muitas pessoas no verdor dos anos. Conheci alguns dos mortos. Lembrei-me do que dizia o impoluto juiz Hilson Bona, que considero um paradigma da magistratura piauiense, de quem tive a honra de ser aluno no antigo ginásio.
Dizia ele que, quando notava que poderia estar sendo acometido de vaidade ou orgulho, ia passear no cemitério de sua comarca. Talvez visitasse as covas dos que se julgaram imprescindíveis e insubstituíveis. Nesse aspecto o nome do velho campo santo de Parnaíba é exemplar, e serve de legítima advertência: Cemitério da Igualdade.