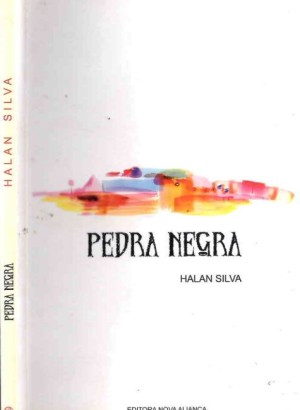Começos inesquecíveis: Michael Chabon
 Por Sérgio Rodrigues Em: 31/12/2009, às 18H15
Por Sérgio Rodrigues Em: 31/12/2009, às 18H15
Sérgio Rodrigues
Anos depois, falando a um entrevistador ou a um público de velhos fãs numa convenção de histórias em quadrinhos, Sam Clay gostava de declarar, a propósito da maior criação sua e de Joe Kavalier, que, quando menino, trancado e de mãos e pés atados dentro do recipiente estanque conhecido como Brooklyn, Nova York, costumava ser assombrado por sonhos de Harry Houdini. “Para mim, Clark Kent numa cabine de telefone e Houdini num caixote eram uma só coisa”, expunha em tom erudito na WonderCon ou em Angoulême ou ao editor do The Comics Journal. “Você não era, ao sair, a mesma pessoa que tinha entrado. O primeiro número de mágica de Houdini, vocês sabem, quando ele estava começando. Chamava-se ‘Metamorfose’. Nunca foi uma simples questão de escapar. Era também uma questão de transformação.” A verdade é que, quando garoto, Sammy só tinha um interesse casual, na melhor das hipóteses, em Harry Houdini e em seus feitos lendários; seus grandes heróis eram Nikola Tesla, Louis Pasteur e Jack London. No entanto, o relato do seu papel – do papel da sua própria imaginação – no nascimento do Escapista, como todas as suas melhores fabulações, soava verdadeiro. Seus sonhos sempre tinham sido houdiniescos: eram os sonhos de uma crisálida debatendo-se no seu casulo cego, louca por um gosto de luz e ar.
O começo de “As incríveis aventuras de Kavalier & Clay”, do americano Michael Chabon (Record, 2002, tradução de Roberto Muggiati), lança mão do velho esqueminha “Mais tarde, quando se lembrasse daquele tempo, fulano diria?” – o mesmo truque que abre “Cem anos de solidão” e outras centenas de livros, mas que nunca perde sua eficácia. Além de ser uma espécie de trailer que permite a apresentação sumária e concentrada de um bom número de traços do protagonista e da trama, esse tipo de começo planta uma cenoura lá na frente, no limite do campo visual do leitor, que, assim, terá dificuldade maior de desistir da viagem antes de alcançar a Daucus carota.
No caso, a viagem vale a pena. Chabon é um escritor pouco prestigiado e ainda menos lido no Brasil, mas muito talentoso. Remexendo meus arquivos, encontrei um pequeno texto que escrevi sobre este livro, publicado na época do lançamento. Como foi feito em cima do laço e diz mais sobre as qualidades do romance do que eu, de memória, seria capaz de dizer hoje, reproduzo-o aqui.
Resenha publicada no caderno Idéias do “Jornal do Brasil” em 2002:
Para os fãs de histórias em quadrinhos, eis um livro mais imperdível que a última graphic novel de Alan Moore. Mas reduzir dessa forma o público-alvo do terceiro romance de Michael Chabon não seria justo com seu talento. A história dos primos Joe Kavalier e Sammy Clay, respectivamente desenhista e roteirista de quadrinhos na época de ouro do gênero, na Nova York dos anos 30 e 40, deve tanto ao ritmo alucinante e à liberdade de imaginação dos comics quanto à ambição de criar personagens tridimensionais e inseri-los num painel histórico detalhista e abrangente – esta mais própria da literatura. Não exatamente da literatura torturada favorecida pelos contemporâneos de Chabon – que estreou em 1988, aos vinte e poucos anos, com “Os mistérios de Pittsburgh” – mas esse anacronismo é justamente um dos charmes do livro, vencedor do Pulitzer de melhor romance do ano passado [em 2001, portanto].
O sucesso se explica por um raro hibridismo: Chabon, autor ainda da boa comédia de costumes [realmente adaptada para o cinema] “Garotos incríveis”, consegue ser esteticamente ambicioso e, ao mesmo tempo, mover-se sem desconforto aparente num universo romanesco tradicional, quase passadista. Fã declarado de estilistas como Vladimir Nabokov e John Cheever, escreve “bonito” como há muito tempo não se usa fazer. Gosta de adjetivos e jamais recusa uma metáfora. Não é fácil encontrar um escritor de sua geração que dispense tanta atenção à reconstituição de época a ponto de encher sua prosa de cheiros, detalhes de vestuário e mobília, gírias e participações especiais de figuras históricas – como a hilariante intervenção de Salvador Dalí numa festa desbundada nova-iorquina. Ou que gaste tanto esforço para dotar cada personagem de motivações meticulosamente esmiuçadas. Chega a ser perturbador que o sujeito, a essa altura do campeonato, acredite tanto assim no velho romance. Mas é gratificante que ele ponha todo esse aparato a trabalhar por uma história que não poderia ter sido escrita no século XIX.
Sammy Clay é um jovem judeu do Brooklyn que sonha com o sucesso no nascente mundo das revistas em quadrinhos. Imaginação para criar histórias mirabolantes não lhe falta. Seu único problema é que desenha mal, mas isso se resolve de modo mais que satisfatório quando um parente tcheco que ele não conhecia, Joe Kavalier, vem se hospedar em sua casa depois de fugir espetacularmente de uma Praga dominada pelos nazistas. Kavalier é um gênio do traço. A dupla não demora a criar O Escapista, super-herói de malha justa que tem como especialidade, como um Houdini vitaminado, escapar de qualquer prisão ou armadilha. A exemplo de outros super-heróis (reais, como o Super-Homem) de seu tempo, O Escapista declara guerra ao Eixo antes que o governo americano o faça. Kavalier e Clay viram grife, ganham dinheiro, e em determinado momento parece que o velho mito do sonho americano triunfará mais uma vez, a história tendo um final feliz ambientado em alguma casa suburbana com gramado na frente. Felizmente, não é nada disso.
“Kavalier & Clay” pode agradar em cheio aos leitores de best-sellers digestivos: é cheio de peripécias e apresenta sua trama de forma linear, sem qualquer contorcionismo formal. Há jovens que sonham com o sucesso e o alcançam. Há um grande amor fraturado pela Segunda Guerra Mundial. Sob a superfície, porém, deixam-se entrever abismos que não fariam feio na obra de literatos mais sintonizados com a “modernidade” e, portanto, mais angustiados com seus meios de expressão: desde a homossexualidade mal resolvida de Sammy até a discussão sobre os limites da cultura de massa, da qual O Escapista é um símbolo evidente. O que sobra ao fim do livro é um gosto amargo de vida real, além de uma pergunta cheia de esperança: quem disse que o escapismo – a capacidade de distrair as pessoas de seus infernos particulares – é uma função menor da arte?