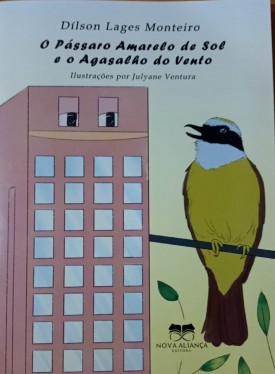A PANTERA
 Por Rogel Samuel Em: 05/10/2021, às 01H17
Por Rogel Samuel Em: 05/10/2021, às 01H17

A PANTERA - ROGEL SAMUEL
- Vocês querem um avião? – foi perguntando aquele homem sinistro sem olhar para nós, sem levantar a cabeça, e certamente julgando que éramos garimpeiros.
- Sim, respondeu Val. Você tem? – perguntou ela.
- Tenho. No aeroporto você vai encontrar, respondeu ele, um caboclo velho.
Mas ele não nos olhava nos olhos.
- Que homem estranho, disse eu, para Val.
E chegamos naquele lugar que desaparecia entre nuvens, fugidos da selva, da guerra, da morte. Aquilo era uma dúzia de casas em direção ao rio e onde poderíamos comprar tudo que quiséssemos naquela única loja existente, inclusive armas e drogas.
O proprietário não nos olhava de frente e continuava a trabalhar enquanto respondia acostumado com garimpeiros, traficantes, bandidos naquela terra sem lei. Se tivesse olhado veria Val, aquela mulher bonita que era responsável pelas finanças da guerrilha de que eu nada tinha a ver.
- Vamos ver esse avião? – falei para Val.
- Sim, respondeu depois. E nos dirigimos para o que o homem disse ser um aeroporto e que era uma péssima pista de terra onde havia um monomotor velho, um Cessna 172 da década de 50, que alugamos por uma fortuna e que nos deixou na cidade onde compramos um carro, que Val trazia da floresta duas pesadas mochilas de dinheiro, dinheiro vivo, em várias cédulas da guerrilha, e imediatamente partimos para onde membros da sua organização trataram dos papéis de sairmos rapidamente do país, atravessando a fronteira por terra, viajando para Sydney pela Argentina, vôo trans-polar, conexão na Nova Zelândia.
Depois em Sydney, no Sullivans Hotel, Oxford Street 21, em Paddington, livrarias, pubs, excelentes restaurantes asiáticos. Em frente, um clube noturno com música ao vivo.
Mas logo voamos para Katmandhu, e lá ficamos um tempo para seguir para Paris, Hotel Fondary, na rua do mesmo nome, ao lado do prédio da Annie Guiraud, que nos convidou para um maravilhoso chá que só ela sabia fazer.
Naquela mesma noite saímos em direção à Torre Eiffel, Val elegante, no seu casaco tibetano. Atravessamos o Duplex por baixo do metrô e, ao passar pela Avenida Motte Picquet 52, parei para indicar a galeria “Paris-Manaus”.
No dia seguinte, almoçamos no “Le Roi du Couscous” e nos mudamos para o Hotel Du Petit Louvre, perto, mais conveniente.
Foi quando recebi um recado do Brasil, de meu tio Carlos, que eu não via há muitos anos, com o número do seu telefone. Solteiro, vivia num sítio nos arredores do Rio, sozinho.
- Eu gostaria de rever Paris, disse-me ele ao telefone. Combinamos e mandei-lhe a passagem.
Encontrei-o no Aeroporto, alegria intensa, mas o achei envelhecido e doente. No táxi lhe disse: “Não existe mais a Paris do seu tempo. Acabou com a guerra”. E perguntei:
- Quanto tempo você quer ficar aqui?
- Uns seis anos! – respondeu às gargalhadas.
Dias depois, aluguei um pequeno apartamento, ali perto, na rue Violet, para onde nos mudamos. Era sala e quarto que tinha um hall de entrada e a sala dividida por um biombo desbotado. Eu e Val ficamos no pequeno quarto, meu tio na sala que tinha um jogo de sofás velho, que eu cobri com um pano, perto da cozinha e do pequeno e desconfortável banheiro.