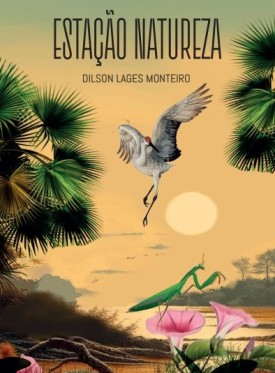VARIAÇÕES INTERTEXTUAIS SOBRE A MORTE
 Por Elmar Carvalho Em: 06/02/2012, às 19H25
Por Elmar Carvalho Em: 06/02/2012, às 19H25
ELMAR CARVALHO
 Fui à administração financeira da URBAPI, responsável pelas taxas de manutenção do cemitério da Ressurreição, localizado no alto de uma colina, e razoavelmente arborizado. Paguei, com desconto, todas as parcelas vincendas do corrente ano. Comprei o jazigo de que sou titular faz mais de catorze anos. Não o adquiri por não ter medo da morte. Ao contrário, talvez tenha sido uma maneira de exorcizá-la ou adiá-la por alguns anos a mais. Também não foi um ato de arrogância. Foi mais de humildade, ante a consciência da finitude da vida terrena.
Fui à administração financeira da URBAPI, responsável pelas taxas de manutenção do cemitério da Ressurreição, localizado no alto de uma colina, e razoavelmente arborizado. Paguei, com desconto, todas as parcelas vincendas do corrente ano. Comprei o jazigo de que sou titular faz mais de catorze anos. Não o adquiri por não ter medo da morte. Ao contrário, talvez tenha sido uma maneira de exorcizá-la ou adiá-la por alguns anos a mais. Também não foi um ato de arrogância. Foi mais de humildade, ante a consciência da finitude da vida terrena.
Embora essa aquisição não possa ser considerada um ato de coragem, rezo e peço ao Senhor para não temer a morte quando a minha hora chegar. Ouço falar que algumas pessoas oram a Nossa da Boa Morte para ter um bom termo de seus dias. Tenho ouvido contar que alguns de nossos semelhantes sabem o dia e a hora em que vão morrer, e anunciam isso com tranquilidade. E têm uma morte serena, sem terror e sem sofrimento. É como se encarassem a morte com naturalidade, posto que ela é mesmo natural, parte integrante da aventura e milagre que chamamos vida. Chamo de milagre o existir, porque talvez fosse mais fácil e menos trabalhoso o não vir à existência, o simples inexistir, que existe, uma vez que conseguimos pensá-lo, imaginá-lo como algo, ainda que esse algo seja o nada.
É claro que eu gostaria de ter uma boa morte, uma morte tranquila, sem medo e sem sofrimento, como uma vela que se fosse lentamente finando, e se extinguisse com o último resquício da parafina. Mas, como diz minha mãe, sobretudo quando se refere a arrogantes e enfatuados, nós não sabemos sequer como iremos morrer. O final de cada um é um completo mistério, por vezes surpreendente; às vezes a velha ceifadora surge através de um desastre automobilístico ou por meio de uma tragédia passional, ou através de uma catástrofe da natureza, como uma enchente, um raio, um desmoronamento de encostas de morro ou um tsunami. Alguns, talvez privilegiados, passam do sono à morte, do pequeno sono ao sono maior.
O poeta Manuel Bandeira que, tísico, levou a vida a conviver com a morte, esperando-a chegar a qualquer momento, não a celebrou, posto que não era suicida, nem nunca fez a apologia de tal ato desesperado, mas a cantou algumas vezes. No poema Consoada imaginou a hipótese de sorrir para “a indesejada das gentes”, e de que o seu dia teria sido bom, quando a grande noite descesse sobre ele, “com cada coisa em seu lugar”. Ante o inelutável, creio ser esse o desejo de todos nós. Contudo, como disse Bandeira e como não diz minha mãe, em suas palavras singelas, jamais saberemos se a morte chegará “dura ou caroável”.
O mesmo Bandeira fala em alguém morrer tão profundamente que não deixasse sequer o seu nome na memória de outrem. Fernando Pessoa, no poema Tabacaria, diz que certo comerciante deixaria a tabuleta de sua loja e que ele deixaria seus versos, mas que, após algum tempo, desapareceriam os versos e a tabuleta, e depois de mais algum tempo desapareceria até o planeta onde esses fatos ocorreram. Junqueira Freire, que ingressou na Ordem dos Beneditinos, provavelmente sem vocação para o claustro e para o celibato, tratando a morte de forma carinhosa, chamando-a de amiga, afirma que ela seria o fim de dois fantasmas de sua existência – sua alma vã e seu corpo enfermo.
 Muitos deixam as suas disposições de última vontade, algumas cheias de pormenores, inclusive dispondo até sobre o ritual fúnebre e sobre a arquitetura de seu mausoléu. Alguns fazem recomendações de humildade franciscana sobre a maneira de seu sepultamento. Contudo, dizem que recomendações sobre o próprio funeral são sempre indício de vaidade, mesmo quando aparentam modéstia. O sacerdote e grande poeta cearense Antônio Tomás, autor de alguns sonetos antológicos, disse que gostaria de ser sepultado de tal modo que ninguém pudesse identificar o local onde seria enterrado, que não deveria conter datas, sinais, nomes ou palavras. Como assinalou o escritor Assis Brasil, se o sacerdote e aedo desejasse mesmo cair em completo esquecimento deveria ter queimado todos os seus poemas, que ainda hoje são admirados e declamados. Outros chegam ao ponto de escrever até as frases que gostariam de ter estampadas em sua lápide. O grande romântico Álvares de Azevedo deixou estes versos literalmente lapidares, conforme a contextualização do poema: “Foi poeta, sonhou e amou na vida...”
Muitos deixam as suas disposições de última vontade, algumas cheias de pormenores, inclusive dispondo até sobre o ritual fúnebre e sobre a arquitetura de seu mausoléu. Alguns fazem recomendações de humildade franciscana sobre a maneira de seu sepultamento. Contudo, dizem que recomendações sobre o próprio funeral são sempre indício de vaidade, mesmo quando aparentam modéstia. O sacerdote e grande poeta cearense Antônio Tomás, autor de alguns sonetos antológicos, disse que gostaria de ser sepultado de tal modo que ninguém pudesse identificar o local onde seria enterrado, que não deveria conter datas, sinais, nomes ou palavras. Como assinalou o escritor Assis Brasil, se o sacerdote e aedo desejasse mesmo cair em completo esquecimento deveria ter queimado todos os seus poemas, que ainda hoje são admirados e declamados. Outros chegam ao ponto de escrever até as frases que gostariam de ter estampadas em sua lápide. O grande romântico Álvares de Azevedo deixou estes versos literalmente lapidares, conforme a contextualização do poema: “Foi poeta, sonhou e amou na vida...”
Para não alongar demasiado este despretensioso registro, consigno apenas que eu próprio já escrevi vários textos, em prosa e em versos, em que feri o assunto morte. Em dois deles, tratei da morte trágica de uma cadela e de um cão, e em outro narrei a bela morte de um homem bom e digno, que se chamou Joaquim Lustosa Nogueira. Soube ele o dia e o horário de seu falecimento, e morreu placidamente, com a face composta, sem um ricto sequer, sob o olhar de sua filha, com a qual conversava.
Por fim, derramarei agora a última pá de cal e de terra sobre esta nota, depondo sobre ela a “pedra de tumba, compacta, lisa, desprezada” dos cinco versos finais de um soneto de Jorge de Lima, componente da Invenção de Orfeu: “Nem tristeza talvez nem alegria, / não mais perpassam sobre sua face / parada, indiferente mesmo à morte / que ela encerrou em treva, e esquecimento, / e o próprio esquecimento abandonou”.