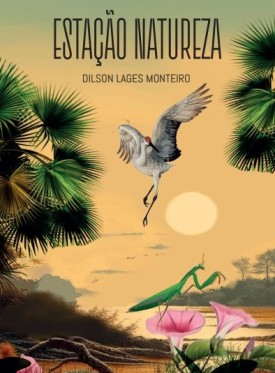Todorov: entrevista
Em: 11/03/2013, às 06H50

Maria da Paz Trefaut
Em uma era de polarização política, o pensador franco-búlgaro Tzvetan Todorov, 73 anos, não é um homem de extremos. Com a mesma veemência, critica o totalitarismo comunista, que experimentou em seu país, a Bulgária, e o modelo liberal-democrático ocidental, que tenta impor seus valores pela força em vários países. Na sua visão, um e outro constituem formas de “messianismo humanitário” que configuram ameaças à democracia.
Essa é a tese central do último livro do autor, Os Inimigos Íntimos da Democracia, recém-lançado no Brasil (Companhia das Letras). Todorov escreveu ensaios literários, obras de filosofia, linguística e crítica política, discorrendo sobre assuntos tão diferentes como a conquista da América e os campos nazistas. Seus livros já foram traduzidos em 25 países.
Nada indicava uma carreira internacional em 1963, quando deixou Sófia, capital da Bulgária, durante o regime comunista, para se radicar em Paris. Durante décadas, Todorov construiu uma refinada obra sobre teoria literária. Viveu na costa leste dos Estados Unidos e deu aulas na Universidade Yale. Depois, assumiu o cargo de professor da École Pratique de Hautes Études, em Paris. Em 2008, seu reconhecimento consolidou-se quando recebeu o Prêmio Astúrias para Ciências Sociais, da Espanha. Hoje, é conferencista disputado por universidades do mundo inteiro.
No Brasil, Todorov esteve pela primeira vez em 1969. Como palestrante do ciclo Fronteiras do Pensamento, falou com exclusividade à PLANETA, em São Paulo, reafirmando a força de uma reflexão sobre o mundo contemporâneo que não leva nem ao otimismo nem ao pessimismo: “Tento ficar lúcido, apenas.”
O sr. afirma que o colonialismo, o comunismo e o imperialismo têm políticas semelhantes, na medida em que tentam se impor pela força em nome do bem. Por que é tão difícil perceber isso?
É difícil porque esses movimentos políticos se apresentam como promotores do bem comum. Todos ficam orgulhosos de participar de uma empresa que aparenta levar a felicidade ao mundo. Isso funciona muito bem. Foi por isso que as pessoas se engajavam nas Cruzadas, durante a Idade Média, e, durante o período colonial, pensavam sinceramente que deveriam levar aos seus irmãos africanos ou asiáticos a civilização, as luzes, a tecnologia e a medicina – todos esses benefícios que o homem ocidental considera indispensáveis. Também havia sinceridade nesses movimentos, não era só uma exploração cínica. É próprio da nossa natureza não querer olhar como somos vistos do exterior. Só conseguimos nos olhar depois que o tempo passou.
É uma limitação da percepção?
Exato. Quando a escravidão existia, ela não chocava as pessoas. Os mais generosos, os mais impregnadas pelo espírito de justiça, achavam que era assim mesmo: havia escravos e homens livres. Só depois, pouco a pouco, a escravidão se tornou algo insuportável e surgiram movimentos abolicionistas. Se você fizer uma pesquisa e recuar no tempo, não se espante, pois a escravidão não provocava indignação. Não sabemos que coisas deixarão as crianças espantadas ao saber o que se fazia no século XXI, quando verificarem como éramos cegos e incapazes de perceber. Pegue a ecologia, por exemplo. Há 50 anos, nem a palavra existia. Vivíamos com a ideia de que os recursos naturais da terra, do mar e do céu eram infinitos. Podíamos jogar os dejetos fora, explorar à vontade e isso não teria fim. Hoje, muita gente acordou para essa questão.
Como situar a ecologia nessas “cruzadas pelo bem”?
Em termos de “messianismo humanitário”, eu diria que a fraqueza do movimento ecológico é vislumbrar a relação entre o homem e a natureza como se o confronto fosse entre o homem só e a natureza. Os seres humanos não vivem sós, mas em sociedade. Por conta disso, acho que está na hora de se pensar numa ecologia social. Pensar que a natureza do ser humano é estar com os outros homens. Os ecologistas não podem continuar a tratar os seres humanos como entidades autossuficientes capazes de preservação total. Existe um meio do caminho entre o desejo e a realidade.
Os ecologistas são utópicos?
Eu não creio no paraíso. Essa é uma crença própria do messianismo, acreditar na possibilidade de um paraíso e tentar impô-lo. Como o paraíso é um lugar desejável, esses movimentos não hesitam em usar a força, às vezes militar, para atingir seus objetivos. Acho que no caso dos ecologistas importa menos a ideia de construir um paraíso futuro do que uma visão nostálgica de uma idade de ouro, do paraíso perdido. O objetivo é regressar ao paraíso e tentar reconstituí-lo. Claro que há mil anos não havia uma exploração dos recursos naturais como a que existe hoje. Acho que o paraíso terrestre nunca existiu. Nem creio que possamos dizer: “Naquela época a terra ia bem e hoje vai mal.” Temos uma sociedade complexa, que consome muita energia. O ser humano do século XXI precisa de muito mais energia do que o do século XI, quando ela servia para aquecimento.
Sua memória mais forte do tempo em que vivia na Bulgária foi a imposição do mal praticada em nome do bem? Como isso se manifestava na vida cotidiana?
Para resumir, posso dizer que vivíamos sufocados por slogans. Slogans todo o tempo, a toda hora. Nos muros, havia slogans e palavras de ordem que diziam: “Avante para a vitória do trabalho socialista”; ou “Viva a amizade búlgaro-soviética”. Onde vivíamos não havia nem trabalho socialista, nem amizade, nem igualdade, nem paz. Víamos slogans sobre a igualdade reinante e havia lojas específicas para o consumo de diferentes setores da sociedade. Havia supermercados para os membros do bureau político do partido. Desigualdade absoluta. Os privilegiados possuíam um cartão especial para frequentar esses estabelecimentos e tinham acesso a todos os produtos ocidentais. Num patamar menor, membros do partido que não pertenciam ao alto escalão tinham acesso a outro tipo de lojas, com certo tipo de regalias. E, finalmente, aqueles que não eram membros de nada – nós – frequentavam lojas e supermercados vazios, que não tinham nada. Então, ser confrontado diariamente com esses slogans, com essas declarações vazias sobre a liberdade e a igualdade, era...
...uma eterna contradição...
Exatamente. Era insuportável. As palavras mais nobres perdiam sentido. A gente sabia que atrás delas não havia nada. As palavras estavam lá para esconder a verdade real.
Demagogia, cegueira e palavras vazias não fazem parte, de alguma forma, da natureza da política?
Talvez exista um pouco disso na política, intrinsecamente. O problema é quando se leva ao extremo e não pode se dizer nada em contrário. Se a gente dissesse o contrário, virava opositor e ia para os campos de reabilitação e de trabalhos forçados. Havia dezenas de campos, para onde eram enviados aqueles que levantavam a voz e que diziam, por exemplo: “Vocês dizem que vivemos num país próspero, mas o pão que comprei na padaria é ruim.” Bastava isso para ser preso.
O Brasil criou, recentemente, uma comissão da verdade para esclarecer os crimes políticos durante a ditadura militar. O que o sr. pensa sobre esse tipo de trabalho?
É preciso examinar de perto cada caso. Ver em que circunstâncias e em que contexto ele aconteceu. Minha atitude em princípio é que não pode haver restrições à busca da verdade. Conhecer a verdade é algo indispensável, seja para onde for que ela nos leve, mesmo quando não é agradável. Acho que não basta saber os atos de transgressão de direitos humanos por parte do Estado, mas é preciso também saber em que contexto eles foram produzidos. Não é a mesma coisa ter matado três pessoas ou três mil; essa diferença faz parte da verdade. É preciso reconstituir quem agiu e por que agiu. Seres humanos não são monstros. O mundo não é feito só de vítimas inocentes e de brutos desumanos. Uns e outros são feitos da mesma matéria. Sou pela verdade e pela história, pela abertura e pela divulgação dos arquivos. Mas não penso que, depois de tanto tempo, necessariamente isso deva terminar nos tribunais. Tenho uma posição um pouco mix.
O sr. se apaixonou pela literatura com as histórias das Mil e Uma Noites e com os contos dos irmãos Grimm. Por que as novas gerações leem tão pouco?
Uma das razões é que outras formas de comunicação ocuparam o espaço. Quando eu era criança na Bulgária não havia televisão e quase não havia rádio. O cinema era raro e caro. Não havia computador. Hoje, as crianças passam horas por dia diante de uma tela. Nós não tínhamos isso e os livros e a literatura ocupavam esse espaço.
Os meios de comunicação podem desenvolver a imaginação infantil da mesma forma?
É diferente, mas preciso dizer que a leitura também não é um valor eterno. No século XVIII, apenas 5% da população sabia ler. Isso só mudou depois. Eu li muitos contos populares. Naquela época, as crianças liam muitos contos, conheciam o folclore e isso fazia parte de sua formação. Acho que isso é bom talvez porque fui educado assim. Às vezes penso que os desenhos animados de televisão e as imagens de jogos de computador são muito simplistas, comparados com a riqueza imaginativa dos contos que li. De qualquer forma, acho que é importante perceber que a mudança provoca uma passagem do verbal para o visual. No visual, com frequência, a imaginação não é solicitada. Quando se conta alguma coisa com palavras é preciso imaginar, provoca-se uma excitação da imaginação. Em contrapartida, é muito mais fácil ficar passivo diante de uma tela de televisão ou computador apenas recebendo, recebendo e recebendo.
Publicado originalmente na Revista Planeta, edição de fevereiro de 2013