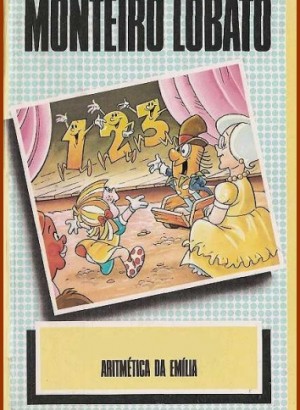Rubem Braga e o poder
Em: 11/03/2013, às 06H36

Mauro Santayana
Em 1990, Rubem Braga descobriu que estava com câncer. O presidente Collor confiscara todos os haveres bancários, incluídos os das cadernetas de poupança. Carlos Castello Branco – que não era amigo do cronista e havia feito uma cirurgia nos Estados Unidos, para livrar-se de mal semelhante – escreveu-lhe uma carta. Nela, com grande otimismo, aconselhava o autor de O Conde e o Passarinho a tratar-se no mesmo hospital em que se tratara, creio que em Houston.
Rubem disse aos amigos comuns que iria a Houston, com prazer, desde que o governo liberasse as suas aplicações. Sua amiga Vera Brant acionou as excelentes relações em Brasília, para que o dinheiro de Rubem – não tão grande assim – lhe fosse entregue para a viagem e o tratamento, comunicou ao cronista as suas diligências e a confiança em que tudo seria resolvido logo.
Rubem, segundo alguns amigos, começou a pensar na viagem, enquanto o tempo passava. Uma semana, duas semanas, um mês – e nada. As pessoas do governo, contatadas por Vera Brant, davam vagas informações do pleito, até que a brava mineira reclamou uma resposta clara: o Ministério da Fazenda – ou da Economia, não me lembro ao certo – informou que, se todos os que estivessem com câncer pedissem a liberação de seus haveres, o Plano Collor fracassaria.
Vera então imaginou um ardil. Disse a Rubem que o dinheiro já estava liberado, mas dependia de meras providências burocráticas. Assim, ela e outros amigos iriam adiantar-lhe a importância necessária para a viagem, e ele, quando recebesse seu dinheiro, poderia devolvê-la.
Rubem agradeceu muito, mas como homem honrado e orgulhoso, não aceitava. Percebera a manobra amiga da escritora, agradeceu, recusou com elegância e polidez. Não era um necessitado, só queria que lhe devolvessem as economias que fizera, e com as quais cuidaria da própria saúde. Entendia a solidariedade de Vera e seus amigos, mas era um homem soberbo.
Quando percebeu que não havia outro jeito, tratou de se preparar para o pior. Com o dinheiro que reunira, de seus salários na televisão, Rubem foi a São Paulo, onde funcionava o único crematório no Brasil, indagou pelo preço, preencheu o cheque. Quando lhe perguntaram onde se encontrava o corpo, apontou o próprio peito e disse que seriam informados na hora certa, mas descontassem o cheque logo. Voltou para o Rio, reuniu os amigos em seu apartamento, dois dias antes da morte, e falaram de tudo, dos ausentes, das mulheres amadas, daquele verão, com seu sol e suas chuvas.
Uma porca mal capada
Conheci Rubem em 1956, em Belo Horizonte, quando ele esteve na redação do Diário de Minas, para ver o jornalista Hermenegildo Chaves, de quem havia sido companheiro no Diário da Tarde no início dos anos 30. Rubem tinha então 43 anos e estava no auge de sua carreira. Sempre que eu ia ao Rio o visitava e, enquanto trabalhava com Chaves – que tinha o apelido de Monzeca –, era portador de cachaça e requeijão de Montes Claros que ele enviava ao amigo.
Ao longo dos anos, sempre que nos encontrávamos, ele era muito amável e conversávamos invariavelmente sobre Minas e os mineiros.
Lembro-me de sua irritação quando descobriu que um sósia visitava escolas do Rio e se apresentava com seu nome, sendo homenageado pelas professoras e pelos pequenos alunos. Vociferava contra o canalha, por enganar as crianças e as professoras ingênuas. Chegou mesmo a escrever uma crônica, denunciando que havia no Rio um sujeito que tinha o péssimo hábito de se passar por Rubem Braga.
Não houve, em meu modesto juízo, quem melhor escrevesse em nossa língua portuguesa, nos dois lados do oceano. Seu texto fluía como as águas limpas de um riacho na montanha, contornando suavemente as rochas: sua profundidade se revelava, sem pudores e sem disfarces, na superfície. Era, embora muitos assim não o vissem, severo crítico da sociedade, já em seu tempo hipócrita e egoísta – embora muito menos do que hoje.
Certo marido, alertado por delator anônimo, surpreendeu a mulher em companhia do amante – e matou os dois. No dia seguinte, a sua crônica se endereçou ao canalha responsável pela tragédia, chamando-lhe hiena e o cumprimentando pelo provável prazer diante dos mortos, dos filhos órfãos, das famílias atingidas.
Poucos conseguiram mostrar a patologia do regime militar com a precisão de Rubem, ao compará-lo, em crônica, a “uma porca mal capada”. Os que conhecem o meio rural sabem que raramente a porca castrada com imperícia consegue sobreviver: sobre a ferida as moscas pousam suas larvas, a infecção se torna invencível e o animal agoniza lentamente – a menos que alguém o sacrifique.
Vai, aqui, modesta sugestão aos responsáveis pelo ensino de nossa língua: adotem os textos do velho Braga no ensino fundamental. Não há, neles, nada de politicamente incorreto, posto que são, e declaradamente, subversivos contra a ordem do ódio, as regras do ressentimento, o domínio do dinheiro.
Aconselho, como obrigatório, talvez o mais sério de seus textos, em que, aparentemente sem assunto, narra tenaz acompanhamento do cronista à fugaz borboleta amarela (leia destaque abaixo, nesta página) nas ruas centrais do Rio: alegre concessão da vida a si mesma, cumplicidade do homem e do inseto, partilhando a alegria de estarem vivos, sem destinos, sob o sol e o azul.
Rubem foi um dos maiores nomes da literatura brasileira. Há quem o compare a Machado de Assis. Ao autor de Dom Casmurro – salvo em dois ou três contos, nos quais a ironia ainda era mais forte do que a compaixão – faltava solidariedade para com o sofrimento e não havia a alegria com a felicidade dos outros.
Foram esses dois sentimentos que marcaram todos os textos de Rubem Braga.
Texto originariamente publicado no Jornal do Brasil
A borboleta amarela
A crônica A Borboleta Amarela, foi publicada em três pequenas partes, de 30 linhas cada uma – em 1952, no Correio da Manhã, no Rio. O texto daria também nome a um livro editado pela primeira vez em 1955, reunindo crônicas escritas para o jornal. O centenário de nascimento do escritor foi completado em 12 de janeiro. Leia a seguir íntegra da crônica.
Parte 1
Era uma borboleta. Passou roçando em meus cabelos, e no primeiro instante pensei que fosse uma bruxa ou qualquer outro desses insetos que fazem vida urbana; mas, como olhasse, vi que era uma borboleta amarela.
Era na esquina de Graça Aranha com Araújo Porto Alegre; ela borboleteava junto ao mármore negro do Grande Ponto; depois desceu, passando em face das vitrinas de conservas e uísques; eu vinha na mesma direção; logo estávamos defronte da A.B.I. Entrou um instante no hall, entre duas colunas; seria um jornalista? – pensei com certo tédio.
Mas logo saiu. E subiu mais alto, acima das colunas, até o travertino encardido. Na rua México eu tive de esperar que o sinal abrisse: ela tocou, fagueira, para o outro lado, indiferente aos carros que passavam roncando sob suas leves asas. Fiquei a olhá-la. Tão amarela e tão contente da vida, de onde vinha, aonde iria? Fora trazida pelo vento das ilhas – ou descera no seu vôo saçaricante e leve da floresta da Tijuca ou de algum morro – talvez o de São Bento Onde estaria uma hora antes, qual sua idade? Nada sei de borboletas. nascera, acaso, no jardim do Ministério da Educação? Não; o Burle Marx faz bons jardins, mas creio que ainda não os faz com borboletas – o que, aliás, é uma boa idéia. Quando eu o mandar fazer os jardins de meu palácio, direi: Burle, aqui sobre esses manacás, quero uma borboleta amare... Mas o sinal abriu e atravessei a rua correndo, pois já ia perdendo de vista a minha borboleta.
A minha borboleta! Isso, que agora eu disse sem querer, era o que eu sentia naquele instante: a borboleta era minha – como se fosse meu cão ou minha amada de vestido amarelo que tivesse atravessado a rua na minha frente, e eu devesse segui-la. Reparei que nenhum transeunte olhava a borboleta; eles passavam, devagar ou depressa, vendo vagamente outras coisas – as casas, os veículos ou se vendo –, só eu vira a borboleta, e a seguia, com meu passo fiel. Naquele ângulo há um jardinzinho, atrás da Biblioteca Nacional. Ela passou entre os ramos de acácia e de uma árvore sem folhas, talvez um "flamboyant"; havia, naquela hora, um casal de namorados pobres em um banco, e dois ou três sujeitos espalhados pelos outros bancos, dos quais uns são de pedra, outros de madeira, sendo que estes são pintados de azul e branco. Notei isso pela primeira vez, aliás, naquele instante, eu que sempre passo por ali; é que a minha borboleta amarela se tornava sensível às cores.
Ela borboleteou um instante sobre o casal de namorados; depois passou quase junto da cabeça de um mulato magro, sem gravata, que descansava num banco; e seguiu em direção à Avenida. Amanhã eu conto mais."
(Segunda parte)
Eu ontem parei a minha crônica no meio da história da borboleta que vinha pela rua Araújo Porto Alegre; parei no instante em que ela começava a navegar pelo oitão da Biblioteca Nacional.
Oitão, uma bonita palavra. Usa-se muito no Recife; lá, todo mundo diz: no oitão da igreja de São José, no oitão do Teatro Santa Isabel... Aqui a gente diz: do lado. Dá no mesmo, porém oitão é mais bonito. Oitão, torreão.
Falei em torreão porque, no ângulo da Biblioteca, há uma coisa que deve ser o que se chama um torreão. A borboleta subiu um pouco por fora do torreão: por um instante acreditei que ela fosse voltar, mas continuou ao longo da parede. Em certo momento desceu até perto da minha cabeça, como se quisesse assegurar-se de que eu a seguia, como se me quisesse dizer: "estou aqui".
Logo subiu novamente, foi subindo, até ficar em face de um leão... sim, há uma cabeça de leão, aliás há várias, cada uma com uma espécie de argola na boca, na Biblioteca. A pequenina borboleta amarela passou junto ao focinho da fera, aparentemente sem o menor susto. Minha intrépida, pequenina, vibrante borboleta amarela! pensei eu. Que fazes aqui, sozinha, longe de tuas irmãs que talvez estejam agora mesmo adejando em bando álacre na beira de um regato, entre moitas amigas – e aonde vais sobre o cimento e o asfalto, nessa hora em que já começa a escurecer, oh tola, oh tonta, oh querida pequena borboleta amarela! Vieste talvez de Goiás, escondida dentro de algum avião; saíste no Calabouço, olhaste pela primeira vez o mar, depois...
Mas um amigo me bateu nas costas, me perguntou "como vai bichão, o que é que você está vendo aí?" Levei um grande susto, e tive vergonha de dizer que estava olhando uma borboleta; ele poderia chegar em casa e dizer: "encontrei hoje o Rubem, na cidade, parece que estava caçando borboleta".
Lembrei-me de uma história de Lúcio Cardoso, que trabalhava na Agência Nacional: Um dia acordou cedo para ir trabalhar; não estava se sentindo muito bem. Chegou a se vestir, descer, andar um pouco junto da Lagoa, esperando condução, depois viu que não estava mesmo bem, resolveu voltar para casa, telefonou para um colega, explicou que estava gripado, até chegara a se vestir para ir trabalhar, mas estava um dia feio, com um vento ruim, ficou com medo de piorar – e demorou um pouco no bate-papo, falou desse vento, você sabe (era o noroeste) que arrasta muita folha seca, com certeza mais tarde vai chover etc., etc..
Quando o chefe do Lúcio perguntou por ele, o outro disse: "Ah, o Lúcio hoje não vem não. Ele telefonou, disse que até saiu de casa, mas no caminho encontrou uma folha seca, de maneira que não pode vir e voltou para casa."
Foi a história que lembrei naquele instante. Tive – por que não confessar? – tive certa vergonha de minha borboletinha amarela. Mas enquanto trocava algumas palavras com o amigo, procurando despachá-lo, eu ainda vigiava a minha borboleta. O amigo foi-se. Por um instante julguei, aflito, que tivesse perdido a borboleta de vista. Não. De maneira que vocês tenham paciência: na outra crônica, vai ter mais história de borboleta.
(Última parte)
"Mas, como eu ia dizendo, a borboleta chegou à esquina de Araújo Porto Alegre com a Avenida Rio Branco; dobrou à esquerda, como quem vai entrar na Biblioteca Nacional pela escada do lado, e chegou até perto da estátua de uma senhora nua que ali existe; voltou; subiu, subiu até mais além da copa das árvores que há na esquina – e se perdeu.
Está claro que esta é a minha maneira de dizer as coisas; na verdade, ela não se perdeu; eu é que a perdi de vista. Era muito pequena, e assim, no alto, contra a luz do céu esbranquiçado da tardinha, não era fácil vê-la. Cuidei um instante que atravessava a Avenida em direção à estátua de Chopin; mas o que eu via era apenas um pedaço de papel jogado de não sei onde. Essa falsa pista foi que me fez perder a borboleta.
Quando atravessei a Avenida ainda a procurava no ar, quase sem esperança. Junto à estátua de Floriano, dezenas de rolinhas comiam farelo que alguém todos os dias joga ali. Em outras horas, além de rolinhas, juntam-se também ali pombos, esses grandes, de reflexos verdes e roxos no papo, e alguns pardais: mas naquele momento havia apenas rolinhas. Deus sabe que horários têm esses bichos do céu.
Sentei-me num banco, fiquei a ver as rolinhas – ocupação ou vagabundagem sempre doce, a que me dedico todo dia uns 15 minutos. Dirás, leitor, que esse quarto de hora poderia ser mais bem aproveitado. Mas eu já não quero aproveitar nada; ou melhor, aproveito, no meio desta cidade pecaminosa e aflita, a visão das rolinhas, que me faz um vago bem ao coração.
Eu poderia contar que uma delas pousou na cruz de Anchieta; seria bonito, mas não seria verdade. Que algum dia deve ter pousado, isso deve; elas pousam em toda parte; mas eu não vi. O que digo, e vi, foi que uma pousou na ponta do trabuco de Caramuru. Falta de respeito, pensei. Não sabes, rolinha vagabunda, cor de tabaco lavado, que esse é Pai do Fogo, Filho do Trovão?
Mas essa conversa de rolinha, vocês compreendem, é para disfarçar meu desaponto pelo sumiço da borboleta amarela. Afinal arrastei o desprevenido leitor ao longo de três crônicas, de nariz no ar, atrás de uma borboleta amarela. Cheguei a receber telefonemas: "eu só quero saber o que vai acontecer com essa borboleta". Havia, no círculo das pessoas íntimas, uma certa expectativa, como se uma borboleta amarela pudesse promover grandes proezas no centro urbano. Pois eu decepciono a todos, eu morro, mas não falto à verdade: minha borboleta amarela sumiu. Ergui-me do banco, olhei o relógio, saí depressa, fui trabalhar, providenciar, telefonar... Adeus, pequenina borboleta amarela."
Rio, setembro de 1952