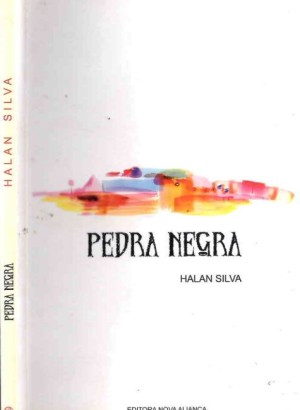Professor, teacher e coach
 Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 07/11/2010, às 17H57
Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 07/11/2010, às 17H57
[Paulo Ghiraldelli Jr]
O professor professa. Talvez este seja o grande problema técnico do campo de formação de professores no Brasil. Professar é fazer profissão de, é declarar. Eis aí o drama da língua portuguesa. Nossos mestres professam. Eles têm de professar – são professores. Ora, não se pode negar que a origem do professar tem a ver com os primeiros cristãos: os que professavam a fé em público, os que declaravam publicamente terem determinadas crenças. Essa situação tinha, sim, a ver com ensinar. Quem declarava sua fé em público, ou seja, dava o testemunho da fé, podia então ensinar a outros do que se tratava ser cristão. Declarar é uma forma de contar, de ensinar. Ensinar é declarar.
O interessante é que no mundo de língua inglesa, o professor é apenas o professor universitário, o que lida com adultos. Quem lida com crianças e jovens não é o professor, e sim o teacher.
A palavra “teacher” vem do inglês arcaico tæcam, que diz respeito ao que pratica verbos como “to show” ou “ to point out”. A referência é, portanto, a verbos visuais, próprios de quem lida com aqueles que se importam menos com declarações verbais e mais com exemplos, com o que é apontado com os dedos. Em certo sentido, “teacher” é o que indica.
No mundo de língua inglesa aquele que lida com criança não tem sua tarefa umbilicalmente ligada à religião no sentido de dar declaração ou dar testemunho. Não é o que declara. O teacher aponta. É mais fácil transformar o teacher em um profissional burguês que o professor. É fácil tomar como plausível, razoável, o que o teacher faz, já que é o ensino com crianças e jovens, e então age indicando e exemplificando. É menos razoável o que o professor faz, que é ensinar crianças falando, fazendo declarações.
Essas distinções de palavras no âmbito do inglês e do português estiveram ligadas à maneira como a teoria da educação se desenvolveu nos Estados Unidos e no Brasil.
Enquanto os americanos sempre lidaram com o desenvolvimento de comportamentos, habilidades e know how, nós brasileiros tentamos ensinar nossas crianças verbalmente, fazendo declarações sobre assuntos e cobrando delas que repetissem conosco o que declaramos. Nossos mestres sempre foram homens do sacrifício e da declaração. Os mestres americanos sempre foram burgueses que, mesmo se religiosos, deveriam ser pagos, e cujo trabalho era dar o exemplo, mudar comportamentos, desenvolver habilidades e apontar caminhos.
Não à toa, portanto, quando chegaram influências americanas entre nós, em várias ondas, sempre houve algo comum nessas ondas, exatamente o que era difícil de nós absorvermos: a idéia de que educação é um processo que tem êxito se há uma mudança de comportamento, e não uma mudança apenas retórica, que pode permitir que se diga alguma coisa e, no entanto, se mantenha os comportamentos intactos.
Os “Pioneiros da Educação Nova” levantaram esse problema técnico na formação de nossos mestres, nos anos vinte e trinta. Eles atacaram a “educação beletrista”. Falava-se muito solenemente e, depois, cobravam-se discursos Não se avaliava mudança de comportamento – essa era a prática de sala de aula que os “Pioneiros” criticaram. Herdeiro dos “Pioneiros” e, por meio de Anísio Teixeira, herdeiros dos grandes educadores americanos, especialmente John Dewey, Paulo Freire criou uma figura de disputa para exemplificar o que ele queria e o que a educação “tradicional” fazia: a idéia da pedagogia transformadora (ou libertadora) versus a “pedagogia bancária”. Esta última falava sobre conteúdos, os depositava no aluno por meio da declaração, para então, nos exames de avaliação, sacar o discurso de volta. A primeira deveria transformar atitudes, mudar comportamentos, desenvolver habilidades e aptidões no sentido de uma mudança da prática social, em especial a prática social política, isto é, a ação em relação aos mecanismos de poder. Paulo Freire foi uma espécie de John Dewey do Terceiro Mundo.
É claro que faz parte dos comportamentos, sem dúvida, a linguagem. Quando falamos de modo diferente, tendemos a agir de modo diferente. Linguagem é comunicação, interação e, portanto, estabelece compromissos. Mas, no caso da declaração, do professar, a idéia é diferente. Especialmente no campo da educação, professar ou declarar é falar algo solene, muito importante, um tipo de oração que não pode ser mudada. A declaração como testemunho é um ato meio que individual, cuja idéia de interação não é um componente forte. Quem apreende a declaração, para mostrar que a apreendeu, deve devolvê-la, de preferência intacta. Quem aprendeu ou apreendeu prova que aprendeu devolvendo a declaração. No “dia da prova”, entrega de volta o que foi declarado.
Agora, quando tratamos do uso da linguagem sem vínculos mesquinhos com o professar, o declarar, e sim com a idéia de indicar, de exemplificar e, enfim, de mudar comportamentos indicando, mostrando e exemplificando, aí sim há o que é feito pelo teacher, não pelo professor. Então, no dia da avaliação, como estudante, não dou testemunho, não provo, apenas tenho minha performance – a realização do que tenho de realizar, pois tenho um comportamento novo que me orgulho de mostrar.
Os americanos levaram uma grande vantagem sobre nós e sobre vários europeus por causa disso. Eles inventaram algo que era mais que o “to know”, eles inventaram o “know how”. Deter o “know how” é algo que mostramos se explicitamos comportamentos diferenciados, ou seja, práticas específicas que demonstram nossa nova habilidade, a habilidade desenvolvida na escola, aquilo que, antes do processo de ensino-aprendizagem, não tínhamos. Não saber, para nós, é não saber. Não saber, para os americanos, é não saber fazer. Isso dá uma enorme diferença e que tem a ver com a diferença entre professar e mostrar.
Tudo isso que acabei de falar parece banal. Mas há de se tirar isso da banalidade. Essa prática do ensino que, enfim, está inscrutada nas palavras “professor” e “teacher” e que, nisso, se mostra diferente, é algo que divide culturas. Os americanos criaram uma cultura nova. Nós brasileiros ficamos com a cultura velha. Eles levaram adiante algo de uma Europa bárbara preenchida por invasões árabes, nós nos aferramos à prática antiga, a dos romanos. Europa que emergiu de romanos, bárbaros e árabes deu a nova engenharia. Os antigos romanos deram as leis. Os povos novos da Europa foram os que desenvolveram a idéia da experimentação, os romanos, sempre foram os cultivadores da retórica. A cultura do privilégio da confecção das disputas da retórica, posta por quem declara, professa, e a cultura do privilégio da mudança de comportamento, posta por quem mostra, aponta, é o que está na raiz de situações que trazem enormes dificuldades para nós, falantes do português, herdeiros de uma cultura da “educação bancária”.
Está na hora de sabermos nos comunicar, de usar a linguagem, sem a terrível dissociação com a transformação de nossos comportamentos. Caso possamos ter teachers e não professores no ensino fundamental, vamos fazer alguma diferença.
Todavia, tudo isso precisa ser tomado com extremo cuidado. No passado, jogamos fora um bom ensino médio, onde tínhamos as ciências, as humanidades e as artes de modo correto, por meio de um discurso que, ao falar que éramos “beletristas”, nos deu em troca não a apreensão do know how e, sim, a profissionalização rasteira, para não dizer, imbecil.
Há, até hoje, quem faça confusão entre a proposta americana que implica em se ter o teacher e não o professor e a mera profissionalização rasteira. A escola americana do teacher, a escola básica, é voltada para a prática no sentido filosófico desse termo. Prática tem a ver com comportamento, com o feito, e tem conotação ético-moral. Assim é na filosofia. Prática em um sentido menor, menos filosófico, é qualquer coisa oposto ao teórico. Neste caso, é o mero fazer. O teacher é o que dá a atenção à prática no primeiro sentido, pois a escola básica americana é, antes de tudo, uma escola de civismo, de apreensão de direitos civis, de culto à democracia.
No passado, quando se atacou o “beletrismo”, assim foi feito por acharmos que estávamos privilegiando demais a retórica vazia – essa foi a crítica vinda dos “Pioneiros”. Todavia, quando realizamos nossos projetos de profissionalização e, pior ainda, quando, por meio da 5.692/71, destruímos a estrutura legal de nosso ensino fundamental e médio, o fizemos como coisa da Ditadura Militar que, enfim, se aproveitou de modo enviesado da crítica dos “Pioneiros” ao “beletrismo”. A profissionalização rasteira foi o que ganhamos, como se isso fosse a realização, enfim, de uma escola livre do “beletrismo”. Ficamos livres, sim, foi da cultura clássica, dos fundamentos das ciências e da habilidade com as artes.
Hoje, vale a pena lembrar essas disputas de 1961, 1971 e 1978 – neste último caso, quando enfim o ensino médio totalmente profissionalizante, posto na lei em 1971, foi deixado de lado. Lembrar dessas disputas é saber que, se criticamos aqui, novamente, o fato de termos professor e não teacher, não é porque queremos que o nosso professor seja transformado em coach. Menos ainda em personal trainning. Não queremos reeditar o erro do passado, de destruir nossa bela escola normal, nossos excelentes colégios, em nome de uma profissionalização que deu errado e que, se desse certo, seria pior ainda. O passado é o passado. Não temos como voltar. O que devemos fazer, agora, é entender é colocar a crítica ao “beletrismo” em outro patamar. Pois somos ainda “beletristas”, ainda que, atualmente, sem as “belas letras”.
Paulo Ghiraldelli Jr é filósofo, escritor e professor da UFRRJ