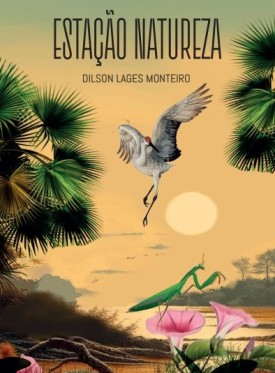Porque eu existo
Em: 05/11/2007, às 14H05

Dílson Lages Monteiro
Ainda se confunde a noite com o dia, mas nos paralelepípedos o caminhar converge para o alto do morro, no Matadouro, onde o indício da existência encontrou o porto derradeiro. De velas em mãos e pensamentos no após, os cristãos misturam o passado e o porvir e rendem homenagens ao tempo e à brevidade do ar que respiram.
E esse também o meu percurso, neste dois de novembro, quando paro para “celebrar” os dias cuja memória conservou na imaterialidade do que é morto. Subo o morro de trajeto muitas vezes melancólico, na redimensão das ausências que o tempo vai moldando ou sufocando, à proporção do tamanho da juventude e da certeza do cavalgar uniforme das horas.
Paradoxalmente, o momento também significa luz. O brilho do olhar se reflete no ideal da longevidade; na satisfação de recordar dos tios-bisavós, cujas famílias numerosas de outras eras conseguiam gerar. Helena Carvalho olhando para o adro da igreja; Chico Luiz, ainda guiando a C10 numa Barras quase desprovida de automóveis; Maria Alice rumo ao Poço do Fio, onde o Marataoã cabia na palma dos olhos.
A reinvenção do olhar regozija-se também na casa de Dasinha. Lá, o presépio da bisavó aduba o sonho e estar em Belém ou na sala, pequena para tantos enfeites, é similar, porque presépio e sala se somam as cores de uma fé que apaixona. Dasinha, invadida pelo gosto de jasmins, pela casa de frondosas goiabeiras, cujo cheiro gruda-se à pele e acompanha o menino rua afora. Dasinha, de cadeira em mão, a caminho da igreja em dia de procissão.
O menino amadureceu, mas o ontem é hoje O avô Manuel, na estrada dos Tipis, admirando o horizonte sob a carroça abundante de netos. O avô e os netos, nos banhos no Tanque ou no Açude. O avô e os netos, atentos ao dominó à luz de lamparinas. O avô e os netos, no terreiro da fazenda a dividirem a semi-escuridão do céu esculpido com a arte de Deus.
O ontem é hoje. Os tios-avós, também. José Lages na LBA. José Lages na madrugada da criança em febre ardente a tremer por inteiro. José Lages de conversas norteadas de lições para a vida inteira. Assim como ele, ainda caminha imaginariamente pela cidade Alcides, de cabeça raspada (disse-me um dia que foi uma aposta), a dar o dinheiro dos bombons, a contar a história de Maria da Assunção, a exaltar as façanhas de prefeito.
Ainda caminham os vizinhos mortos. Pedro Alves Furtado, quem descobri ser, além de poeta, o marceneiro que lapidou o próprio caixão, para esperar o dia final; Luizinho do Carmo, na manobra da máquina de costura; Antônio Maria, pedalando em disparada para o rio. Mortos; materialmente, mortos. Porém, vivos no sangue e no afeto dos que multiplicam a história ou, de repente, interrompem-na.
A cidade, cotidianamente, alimento vital para o sentir, é neste amálgama de tempos uma casa fechada. A cidade e seu cemitério. As reminiscências mais ternas do pai, vencido já agora pela brevidade do ser. Os passeios de bicicleta. A companhia no Marataoã. A atenção de quem nasce para ouvir. O despertar na madrugada para encarar a natureza como gente. A sensibilidade maior que si. Tudo em cinzas se verteu. Em pó e adubo.
Ficaram essas lembranças e os nomes que a Gonçalo antecederam. Os nomes e destinos entre Jerumenha e Água Branca. Agostinho da Costa e Silva, no Baixão do Coco, em Amarante, parte antecipadamente e se enfileira no Cemitério da Cruz das Almas, onde, talvez, Raimunda Soares Ribeiro repouse depois do parto mal-sucedido. Umbelino do Rego Monteiro e Raimunda Soares de Neiva, entre o Jardim do Mulato e o Tanque dos Umbelinos, alongam o céu. Manuel Barbosa do Rego Monteiro e Laudelina Soares Ribeiro, a fotografia no armário. Nomes e destinos que a poeira vai congelando e arquivando para sempre, no vazio do desaparecimento.
Subo o morro de trajeto melancólico. No campo santo, Trasíbulo é o túmulo esquecido. Filomena Rosa, fragmento de mármore atirado ao sol. Os taratavós e sua íntima essência são o silêncio do desconhecido. Mortos e esquecidos na aparência do efêmero. Mas vivos, eles e todos de minha linhagem, quando subo o morro, enquanto viver, para deles me lembrar. Nem que seja apenas por um instante. Para deles me lembrar, se não pela dor da saudade, pela certeza de que existiram um dia, porque eu existo.
Ainda se confunde a noite com o dia, mas nos paralelepípedos o caminhar converge para o alto do morro, no Matadouro, onde o indício da existência encontrou o porto derradeiro. De velas em mãos e pensamentos no após, os cristãos misturam o passado e o porvir e rendem homenagens ao tempo e à brevidade do ar que respiram.
E esse também o meu percurso, neste dois de novembro, quando paro para “celebrar” os dias cuja memória conservou na imaterialidade do que é morto. Subo o morro de trajeto muitas vezes melancólico, na redimensão das ausências que o tempo vai moldando ou sufocando, à proporção do tamanho da juventude e da certeza do cavalgar uniforme das horas.
Paradoxalmente, o momento também significa luz. O brilho do olhar se reflete no ideal da longevidade; na satisfação de recordar dos tios-bisavós, cujas famílias numerosas de outras eras conseguiam gerar. Helena Carvalho olhando para o adro da igreja; Chico Luiz, ainda guiando a C10 numa Barras quase desprovida de automóveis; Maria Alice rumo ao Poço do Fio, onde o Marataoã cabia na palma dos olhos.
A reinvenção do olhar regozija-se também na casa de Dasinha. Lá, o presépio da bisavó aduba o sonho e estar em Belém ou na sala, pequena para tantos enfeites, é similar, porque presépio e sala se somam as cores de uma fé que apaixona. Dasinha, invadida pelo gosto de jasmins, pela casa de frondosas goiabeiras, cujo cheiro gruda-se à pele e acompanha o menino rua afora. Dasinha, de cadeira em mão, a caminho da igreja em dia de procissão.
O menino amadureceu, mas o ontem é hoje O avô Manuel, na estrada dos Tipis, admirando o horizonte sob a carroça abundante de netos. O avô e os netos, nos banhos no Tanque ou no Açude. O avô e os netos, atentos ao dominó à luz de lamparinas. O avô e os netos, no terreiro da fazenda a dividirem a semi-escuridão do céu esculpido com a arte de Deus.
O ontem é hoje. Os tios-avós, também. José Lages na LBA. José Lages na madrugada da criança em febre ardente a tremer por inteiro. José Lages de conversas norteadas de lições para a vida inteira. Assim como ele, ainda caminha imaginariamente pela cidade Alcides, de cabeça raspada (disse-me um dia que foi uma aposta), a dar o dinheiro dos bombons, a contar a história de Maria da Assunção, a exaltar as façanhas de prefeito.
Ainda caminham os vizinhos mortos. Pedro Alves Furtado, quem descobri ser, além de poeta, o marceneiro que lapidou o próprio caixão, para esperar o dia final; Luizinho do Carmo, na manobra da máquina de costura; Antônio Maria, pedalando em disparada para o rio. Mortos; materialmente, mortos. Porém, vivos no sangue e no afeto dos que multiplicam a história ou, de repente, interrompem-na.
A cidade, cotidianamente, alimento vital para o sentir, é neste amálgama de tempos uma casa fechada. A cidade e seu cemitério. As reminiscências mais ternas do pai, vencido já agora pela brevidade do ser. Os passeios de bicicleta. A companhia no Marataoã. A atenção de quem nasce para ouvir. O despertar na madrugada para encarar a natureza como gente. A sensibilidade maior que si. Tudo em cinzas se verteu. Em pó e adubo.
Ficaram essas lembranças e os nomes que a Gonçalo antecederam. Os nomes e destinos entre Jerumenha e Água Branca. Agostinho da Costa e Silva, no Baixão do Coco, em Amarante, parte antecipadamente e se enfileira no Cemitério da Cruz das Almas, onde, talvez, Raimunda Soares Ribeiro repouse depois do parto mal-sucedido. Umbelino do Rego Monteiro e Raimunda Soares de Neiva, entre o Jardim do Mulato e o Tanque dos Umbelinos, alongam o céu. Manuel Barbosa do Rego Monteiro e Laudelina Soares Ribeiro, a fotografia no armário. Nomes e destinos que a poeira vai congelando e arquivando para sempre, no vazio do desaparecimento.
Subo o morro de trajeto melancólico. No campo santo, Trasíbulo é o túmulo esquecido. Filomena Rosa, fragmento de mármore atirado ao sol. Os taratavós e sua íntima essência são o silêncio do desconhecido. Mortos e esquecidos na aparência do efêmero. Mas vivos, eles e todos de minha linhagem, quando subo o morro, enquanto viver, para deles me lembrar. Nem que seja apenas por um instante. Para deles me lembrar, se não pela dor da saudade, pela certeza de que existiram um dia, porque eu existo.