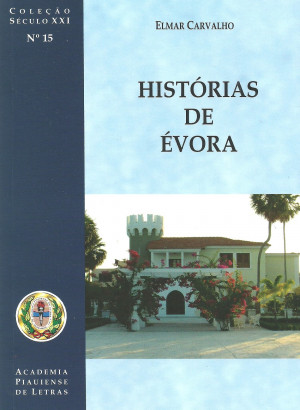Pensamento social, filosofia e modernidade
 Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 18/12/2013, às 14H06
Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 18/12/2013, às 14H06
[Paulo Ghiraldelli Jr,]
Karl Marx e Friedrich Nietzsche não leram um ao outro. Todavia, um dos principais saberes nascidos na transição do século XIX para o XX, o da sociologia, emergiu considerando-os fundamentais não só para o entendimento da vida social, mas como retratistas excepcionais da modernidade. E sabemos bem o quanto a sociologia, ela própria, quis se estruturar e se desenvolver traçando o que seria o melhor retrato dos “tempos modernos”. Os dois grandes clássicos do pensamento social ou da sociologia ou mesmo da filosofia social são Max Weber e Emile Durkheim, e ambos foram leitores de Marx e Nietzsche.
Durkheim trabalhou com uma temática cara a Marx: a divisão do trabalho e o socialismo. Todavia, ele foi fundamentalmente um pensador dos elementos morais envolvidos no trabalho, exatamente o tema mais caro a Nietzsche. Weber trabalhou com o desenvolvimento capitalista, exatamente o tema de Marx, mas casou esse tema com os desdobramentos da moral religiosa, uma quase obsessão de Nietzsche. Quando lemos a sociologia clássica, lemos uma descrição da modernidade que nada é senão uma espécie de visão por espelhos do que foi o século XVIII e XIX sob os olhos do filósofo que se tornou ativista e do filólogo que se tornou filósofo.
Muitos vieram depois de Durkheim e Weber, aproveitando-os e, ao mesmo tempo, fazendo o que eles fizeram, indo a Marx e Nietzsche. O pensamento social nasceu, cresceu e, de certa maneira vive segundo um itinerário que não mudou: entender a nós mesmos, nossa vida, parece não ser possível se não dissermos o que é esse tempo, a modernidade. Nisso, a filosofia social se tornou um eixo, de um lado, para a sociologia traçar monografias de todo tipo sobre elementos da vida social que precisariam ser tratados com métodos menos ou mais empíricos, de outro lado, a própria filosofia apanhou esse saber da filosofia social não só para a crítica de seu próprio centro, a metafísica, mas também para compreender o que seria um sentido para o mundo se o mundo, sem metafísica, não fizesse mais sentido.
A questão do sentido do mundo e da vida é alguma coisa que preocupou demais Weber e Durkheim. Este último estudou justamente um fenômeno no qual a questão do sentido da vida é premente: o suicídio. Durkheim sabia como ninguém o quanto a modernidade havia abalado o sentido do mundo tradicionalmente estabelecido. Talvez por isso mesmo, por ver o quanto tudo empurrava para um terrível pessimismo, ele tentou formular uma teoria otimista a respeito da vida moderna.
Para ele, a modernidade se abria segundo uma nova forma de solidariedade entre os homens. Enquanto vários socialistas diziam que a divisão social do trabalho seria a catástrofe de todos, e que contribuiria para que cada um ficasse cego diante do todo ao se concentrar só no seu saber particular, ele viu exatamente aí o elemento salvacionista dos tempos modernos. Uma sociedade inflacionada de especialistas não seria algo ruim se todos eles estivessem fazendo aquilo que suas vocações demandavam. Ao mesmo tempo, isso criaria um laço de interligação quase que indestrutível entre os homens. Cada um precisaria a cada dia mais do saber e do trabalho específico do outro. O todo social funcionaria coeso – e não dilacerado como diziam alguns socialistas – por essa interdependência, o que Durkheim chamou de “solidariedade orgânica”. A sociedade funcionaria não mais como um relógio, com engrenagens dentadas, mecanicamente, mas como um organismo vivo, em que não há rodas dentadas e sim órgãos, cada um com sua função colaborando com o outro e, assim, fazendo funcionar harmonicamente o todo.
Com essa teoria da divisão do trabalho, Durkheim resolveu o problema do funcionamento social moderno, algo da ordem do que havia sido colocado por Marx ao criticar a nova vida fabril. Todavia, faltava ainda propor uma solução para o problema levantado por Nietzsche, o do niilismo, ou seja, o problema da “desvalorização de todos os valores”, que seria uma característica da vida moderna e, enfim, o responsável, junto com o fim da metafísica, pela perda de sentido do mundo e da vida. Para solucionar essa parte do problema moderno, Durkheim inventou as esferas de moral ligadas ao profissionalismo.
Até então, ética e moral tinham a ver com a vida pública e privada, podiam até ter a ver com o trabalho, mas não necessariamente com a profissão. Durkheim disse então que cada profissão era uma forma de levar a vida e, por isso mesmo, não o trabalho em geral, mas cada trabalho profissional acabaria por gerar um código de ética próprio. Um mundo organizado a partir de corporações poderia reunir, em cada uma delas, essas diretrizes éticas profissionais. Elas então dariam ao homem moderno uma ressignificação da vida.
Olhando hoje para as profissões, ainda que todas elas tenham ampliado muito aquilo que utilizam como saberes gerais e comuns para sobreviverem, nós vemos de modo claro que elas formam corporações e estas dão características, dão um etos profissional próprio. Falamos em ética médica, mas, ao mesmo tempo, falamos em “modo de agir e pensar de médico”. Assim fazemos com cada profissão. Durkheim viu na reunião dessas éticas profissionais, encaminhadas por cada corporação, a base para a construção de códigos de conduta mais gerais, quase que uma forma de religião secular nascida do trabalho. Ainda que restos da metafísica e da religião pudessem continuar existindo, uma sociedade moderna seria uma sociedade da ética dos grupos profissionais, e isso daria o sentido social e da vida para cada homem moderno.
Foi com a solidariedade orgânica e com a ética profissional articulada por corporações que Durkheim traçou o seu retrato da modernidade, imaginando ter dado um bom encaminhamento para os problemas levantados por Marx e Nietzsche, respectivamente, no quadro que eles traçaram dos mesmos tempos modernos.
Weber nunca se ateve, ao ler Marx, aos detalhes da divisão social do trabalho. Sua preocupação era com o motor energético do desenvolvimento moderno ou, na linguagem do economista que ele também era, o desenvolvimento da sociedade capitalista. O problema de Weber era a sua não concordância com Marx a respeito da práxis específica que moveu a modernidade para ser o que ela era em termos da vida econômica e social. Os tempos modernos eram tempos do capitalismo, ele sabia disso, claro, mas como explicar o capitalismo? Por que ele havia se desenvolvido só no Ocidente, e não no resto do mundo?
A solução do que ele conhecia como sendo “o marxismo” para esse problema lhe parecia pobre. A práxis do trabalho, por ela própria, segundo a dinâmica dialética da dupla “forças produtivas” e “relações de produção”, soava para ele como uma explicação superficial e unidirecional. Dizer que as “forças produtivas” (o homem, a terra, a ciência etc.) avançam e precisavam das relações de produção (a legislação, as ideologias etc.) sempre sendo alteradas em seu favor para continuarem avançando, para Weber, era alguma coisa um pouco mecânica, pouco explicativa. Weber entendia que uma tal explicação funcionava maquinalmente, sem levar em consideração os motivos, as razões humanas. Weber via o materialismo dialético fornecido pelos marxistas como uma teoria que despistava a pegada humana na história.
Weber trouxe para os tempos modernos um elemento que, em Durkheim e mesmo em Marx, parecia ter ficado no passado, sem grande peso na modernidade: as religiões, ou melhor, uma religião especial: o cristianismo na sua versão pós-Reforma. Ele também viu a perda de sentido do mundo e da vida anunciada por Nietzsche. Mas ele localizou tal coisa de um modo menos amplo, ou seja, já antes como sociólogo que como filósofo. Viu essa perda na modernidade tardia, consolidada, e não no seu início. O início da modernidade teria dependido da visão protestante do homem predestinado. O empresário que arrisca e tenta criar algo novo mostra na terra que ele foi o escolhido dos céus. Mostra para si mesmo, para sua família e para a sociedade, que tem uma identidade, agora dada pelo seu êxito social e econômico, mas que é uma identidade também concedida por Deus. Essa base da religião protestante foi o que Weber viu como sendo o elemento não maquinal, o elemento propriamente humano e de energização necessário para o capitalismo se desenvolver como se desenvolveu. Fez do capitalismo um fato histórico de melhoria das relações entre as pessoas e, ao mesmo tempo, quando necessário, uma força para as decisões que cabiam a violência. Weber ficou contente consigo mesmo ao entender que, assim teorizando, parecia não solucionar o problema de Marx, mas basicamente criar uma teoria melhor que a dos marxistas a respeito da modernidade.
Todavia, e quanto à perda de sentido? E quanto ao problema de Nietzsche, não o de Marx?
Weber atacou esse problema puxando pelo fio que tinha nas mãos: a religião. Ele não viu os tempos modernos como tempos do fim da religião, mas como uma era de crescente “desencantamento do mundo”, ou seja, da criação de um mundo em que cada homem prefere sempre a solução racional e não a solução mística para explicar tudo, ainda que, em várias situações, possa ser atropelado pelo misticismo. Essa forma de agir de modo econômico (ou seja, mais simples) e racional, própria do homem moderno, teria vindo por meio de uma crescente separação das esferas de valor.
O que Nietzsche chamou de niilismo, a “desvalorização de todos os valores”, Weber chamou de separação e autonomização das esferas de valor. Os valores sociais não teriam desaparecido e muito menos a ética social teria se esvaído, o que teria ocorrido deveria ser descrito da seguinte maneira: os saberes da ciência, os saberes das regras morais e, enfim, os saberes da política tinham saído da capa religiosa, e se tornado esferas autônomas e independentes. A ciência laica serviria para explicar o mundo; a estética, agora não mais só enaltecedora de cenas bíblicas, serviria para avaliar o belo, praticamente redefinindo o belo; e a ética (e a moral) ficaria com o governo da cidade, agora separado da finalidade da igreja. Enfim, a ética incorporaria o que havia sido a capa ideológica geral da sociedade pré-moderna, agora reduzida ao conteúdo de uma só das esferas de valor. Ou seja, os preceitos religiosos e éticos caberiam em uma só esfera, tão autônoma quanto as outras duas. Assim, Weber se obrigou, também, a falar de mais uma característica da modernidade: a subjetivação.
Os tempos modernos foram reconhecidos por vários pensadores como tempos de crescente subjetivação do mundo. Os deuses já vinham sendo absorvidos pelo coração, e não mais estavam no mundo de maneira imperativa e autônoma. Nietzsche havia falado disso ao mostrar a modernidade como um produto da hegemonia cristã, uma religião tipicamente subjetiva. De certa maneira, isso havia sido tematizado por Kant e descrito por Hegel. Mas com Weber, a subjetivação ganhou um campo funcional na sua teoria. Pois o saber da ciência seria um saber de especialistas, mas cada vez mais autônomo ao prestar serviços ao homem. A política também. Ou seja, os estados teocráticos haviam perdido força no Ocidente moderno. Para onde teria ido a ética religiosa ou, enfim, a ética? Para o interior. Ela teria ido para o lugar que os românticos disseram que era o melhor lugar, a intimidade, onde estaria o Deus cristão. Rousseau havia inaugurado uma ética e, de certo modo, uma epistemologia vinculadas à “sinceridade do coração”, e esse tipo de cristianismo em forma de preceito filosófico moderno, que havia conquistado Kant, fez-se sentir em Weber.
Weber não viu sua teoria dando uma solução positiva para os problemas de Marx e Nietzsche. Ele tentou explicar a sociedade, e não mostrar sua sobrevivência, como Durkheim quis. Por isso mesmo, seu diagnóstico final sobre a modernidade jamais foi algo otimista. Ele disse claramente que o homem, na modernidade, havia se tornado o “especialista em inteligência e o hedonista sem coração”. Ou seja, cada homem estaria exercendo sua inteligência segundo a ciência e a política, mas de modo centrado em técnicas separadas do sentido da vida. Portanto, alguma coisa do trabalho que se faz segundo uma alta técnica, mas sem qualquer visão inteligente do significado da vida e do mundo. Ao mesmo tempo, graças a essa vida moderna em que as esferas de valor são livres do invólucro religioso, o homem teria conseguido, ao menos em tese, gozar a vida de maneira mais livre, isto é, ser hedonista. Todavia, se o homem estaria conseguindo realmente gozar o gozo, ele, Weber, tinha lá suas dúvidas. Afinal, o homem teria ficado sem sensibilidade em um mundo em que a ética e o próprio sentido da vida teriam se reduzido aos momentos da alma consigo mesma, separada da vida social. Talvez, solitária, a alma não fosse outra coisa que não aquilo que Pascal havia denunciado e Schopenhauer reiterado: um vazio, ou mais exatamente um nada.
O que restaria ao coração se ele, responsável pela vida correta e pelo contato com Deus, só pudesse fazer isso não somente sozinho, mas fechado, sem qualquer contato com o resto da vida social? A privatização da vida religiosa, a transformação dos preceitos morais e religiosos em algo “de foro íntimo” podia ser a promessa de liberdade, mas ao mesmo tempo seria uma forma de insensibilidade, de perda do próprio coração. Weber foi o primeiro teórico da filosofia social a considerar de modo profundo o que outros haviam intuído: um coração cheio de amor, mas incapaz de amar porque não pode sair de si mesmo, acabará secando. Desde os tempos do início da civilização grega os antigos já haviam dito que Eros, o deus-amor, precisava para crescer de Anteros, seu irmão. Sem brincar com Anteros, Eros voltava a ser uma criança minguada.
Considerando o que Durkheim e Weber disseram da modernidade, e levando em conta a questão da sensibilidade, o diagnóstico não parece ser promissor. Uma ética profissional, como Durkheim propugnou para a modernidade, seria o campo ideal para as pessoas serem sensíveis? Por tudo que nós passamos no trabalho profissional, mesmo considerando aqueles que estão “em sua vocação”, seja lá o que for isso, é difícil responder positivamente a essa pergunta. Viver com o coração livre, porém à beira de um abismo vazio, seria a fórmula melhor para, enquanto modernos, sermos sensíveis? Weber colocou essa alternativa e, ele mesmo, considerou-a inóspita.
Mas, se é assim, então nós, já há muito tempo pessoas modernas, como ainda falamos em sensibilidade? Ou estamos apenas falando de uma palavra vazia, sem qualquer correspondência em atitudes? Talvez sejamos todos zumbis elegantes, andando pelas ruas sem qualquer indício da horrível aparência descarnada, mas efetivamente zumbis. Abrimos o dicionário e lá encontramos uma dúzia de possibilidades. Elas começam pelo ser vivo e pelo homem e terminam pela máquina. O homem sensível tem a ver com sensação e sentimento. A máquina tem a ver com sensibilidade em termos de quantidade do que a afeta, luz, por exemplo. A modernidade parece deixar os dicionários ainda com a palavra sensibilidade funcionando, mas de um modo puramente quantitativo. Alguém sensível seria, então, se plenamente moderno, alguém afetável por algo externo ou interno, mas de uma forma a jamais ter no horizonte aquilo que seria, em filosofia, o desespero de Cioran, por exemplo.
Cioran soube dizer em que ponto nós teríamos de cortar as doze possibilidades do termo “sensibilidade” no nosso dicionário. Isso porque ele talvez tenha sido um daqueles últimos homens sensíveis. Alguém que soube, com sinceridade, dizer coisas como “ao notar a miséria, envergonho-me até de existir a música”. Não nego que outros homens foram sensíveis assim. Adorno disse tudo sobre isso quando afirmou que não poderia haver poesia após Auschwitz. Mas, diante do diagnóstico da modernidade feito pelos clássicos da sociologia, que é um seu retrato cuidadoso, tenho de admitir a excepcionalidade de pessoas capazes de saberem exatamente o que é ter e sentir esse pensamento de Cioran, sobre a vergonha da existência da música, ou o de Adorno, sobre a inibição da arte após a barbárie. Arte é gênio e gozo. Quem poderia gozar sem culpa ou sem desrespeito após termos a miséria e a barbárie?
No diagnóstico da modernidade, ou pelo profissionalismo ou por uma subjetivação específica, acabamos por realizar aquele ideal de Sade, que ele nunca achou que seria possível de ser alcançado, e que Adorno chamou de “a feliz apatia”. O que é uma feliz apatia: é a felicidade que não se sente. É a tristeza que não se sente. Pois tudo está diante do império da apatia, o a-pathos. Tudo toca sem tocar o homem. O mais atroz sofrimento não toca o outro. A mais exuberante felicidade é falsa. O que é pior que o tédio vampiriza o mundo.
O problema disso tudo é que a modernidade nos fez pessoas insensíveis e, no entanto, não nos tornou pedras. Ninguém é “frio como uma pedra”. No entanto, todos nós somos insensíveis naquele sentido que Sade queria que fôssemos para sermos senhores de si mesmos e do mundo.
Se a minha sensibilidade está restrita ao meu fazer profissional e ao meu coração aparentemente cheio, mas, na verdade, vazio e solitário, ou vazio porque solitário, como que a palavra sensibilidade ainda está nos dicionários? Posso ser bombardeado por pornografia e por imagens sublimes e por mil dados computacionais ao mesmo tempo. Posso! Posso, mas por ser seletivo ou por ser efetivamente insensível? Essas duas coisas, na modernidade, não vieram juntas? Não sou um bom técnico que tudo aprende à medida que sou um sensível insensível?
Haveria uma teoria filosófica que pudesse descrever o homem como aberto à modernidade e, então, crescentemente insensível, mas ao mesmo tempo tendo algum germe de sensibilidade, para que, então, ainda pudéssemos nos descrever como homens e não como zumbis? É aí que entra a descrição feita por Peter Sloterdijk. Mas isso é assunto para outro dia.
© 2013 Paulo Ghiraldelli , filósofo