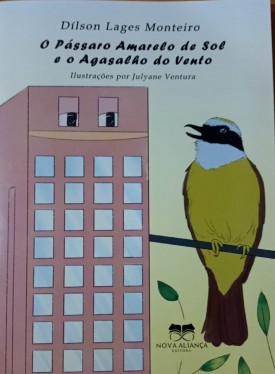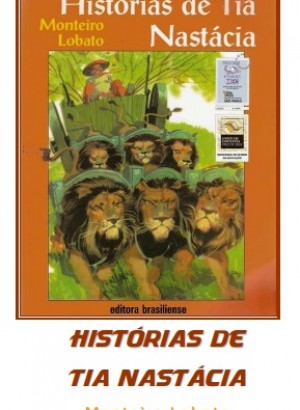O morro da casa grande
Em: 25/07/2009, às 11H57

17. A noite virava bicho
Na foto, o escritor Dílson Lages, o último à direita, aos oito anos
Dílson Lages Monteiro
O mugir grave e cadenciado das reses no terreiro, o entrecruzar de cocoricós em pontos imprecisos do quintal, o rodopiar do vaga-lume, que circulava a rede sem conseguir pousar, fizeram da madrugada, entre um despertar e outro, rápida passagem para um sol longo. Tão longo quanto aquele conjunto de instrumentos vivos cantando a transição entre a sombra e a luz.
Ainda sonolento, Marciano jogou-se de pé e esfregou a mão no rosto. Tentava conter o clarão que invadira o telhado e borrava paredes, janelas, portas, além do quadro do menino Jesus, o menino nos braços de São José. O quadro que guardava dos anjos maus um dos oitos quartos da casa. Quando, antes de dormir, não aparecia para rezar no oratório, suspenso à direita da cama do avô, rezava de joelhos sob a imagem presa a uma das escapas. Rezava sem mexer uma pestana, de lamparina em ângulo medido, a ave-maria, o pai nosso e a metade da salve rainha – a metade porque, por enquanto, não decorara a reza inteira, embora estivesse no catecismo da casa paroquial e repetisse a oração na hora sagrada do terço. Rezava para pedir sempre: “Muitos anos de vida pro papai e pra mamãe”.
Que dia da semana era? A vontade de ficar por mais tempo era tamanha que esquecera se segunda, se terça ou qualquer outro. Irrompeu as dúvidas efêmera melancolia: as férias terminavam e, meio-dia, Enoque frearia o caminhão no morro. Ia viajar no caminhão do coco. O motorista desceria em prosa que parecia infinita. O caderninho na mão. Almoçaria, conferiria as sacas de amêndoas de babaçu e o veículo, com as crianças na boleia, desafiaria a distância: Marciano achava a fazenda o fim do mundo e, ao centrar as retinas no automóvel ou dele se lembrar, falava ao irmãzinho: “Um dia tenho um caminhão. E vou ser motorista”.
Enoque estava mesmo para chegar. Na quitanda, uma mulher de barrigão esperava. Que ela não inventasse de parir dentro da boleia! Que não inventasse! Barulho distante fez Marciano sondar o vento, mas não passava de impressão ligeira, impressão de ansioso. O caminhão nunca chegava naquela hora. Nunca chegava, mas a manhã voaria como a saudação do bem-te-vi no pé de jaca do jardim. Todo dia, ele atazanava o silêncio, para sumir sem deixar pistas. Na manhã seguinte, seria o bem-te-vi, e somente cantaria de novo ali quando chegasse dezembro. Se a mãe deixasse.
Viu-se no caminhão. Ele, ao lado do irmão, rumo a Barras. Os corações menorzinhos, machucados de prévia saudade. Quem sabe ele não dirigiria aquela beleza de máquina? Ele, Marciano, girando o volante com força, triturando mato, pedras e curvas em trilhas que acreditava virgens. Se Enoque deixasse?
Primeiro precisava vencer o medo. Tinha medo até de mata virgem, cheia de onça! Muita onça, como contava Genésio, para afastar o medroso dos perigos do campo. Eram as mesmas onças que via passar ao lado da rede, depois que a casa dormia, as mesmas onças, não sabia se vivas ou em sonho. Onças existiam e, por conta delas, às vezes tinha-se que estender a tipoia dele ao lado da cama dos avós, senão a noite virava bicho.
Voltando-se para a porta da casa, onde porcos remoiam sabugos de milho, esbarrou o pensar no Cabra Preta, o homem que virava cabra, como lhe dissera repetidas vezes Custódio, quando o sujeito de gargalhada solta levava o babaçu para vender. Ai foi que o medo esfriou-lhe as mãos e o piralho disparou para a cozinha. O homem virava bicho. Cabra preta.