O LIRISMO RADICAL: CONVERGÊNCIA E DIVERGÊNCIA DA NOSTALGIA DO NADA NA POESIA DE DIEGO MENDES SOUSA
 Por Diego Mendes Sousa Em: 22/12/2020, às 09H46
Por Diego Mendes Sousa Em: 22/12/2020, às 09H46
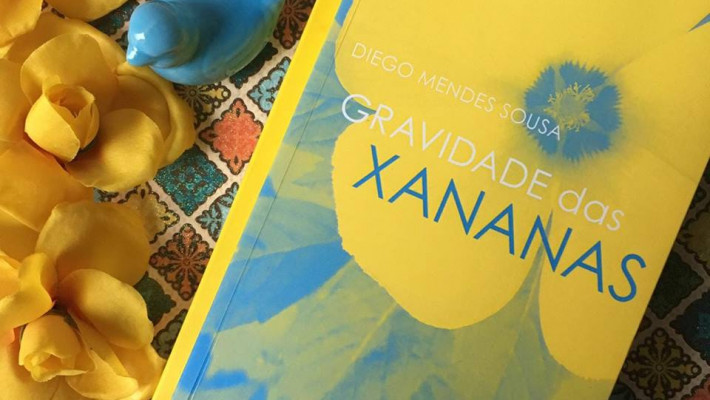
Trecho sobre "Gravidade das xananas", extraído do longo e conceitual estudo acadêmico do Doutor João Carlos de Carvalho:
Vejamos como em alguns exemplos, retirados da obra de Diego Mendes Sousa publicada em 2019, poderemos procurar pistas da missão do poeta se redimensionando do apelo da pureza perdida, em tempos pós-pós, por meio de estilhaços produzidos entre o referente e sua representação, quando ambos se projetam como um enlace do impossível, pois as palavras, agora, são colocadas para o engodo do gesto de reconquista. Em “Ensinamentos sobre a vida”, o Eu lírico convoca as naturezas desumanas como provocação do imponderável: “E desde que ainda/ vivamos da luz e/ do olhar submerso/ em Deus –/ A neblina, / na noite escura/ da nossa íntima/ e triste solidão, / é aterradora/ de sombras” (2019a, p. 25). Podemos notar que não há, na verdade, nada em que se agarrar fora o gesto de risco poético, como derradeiro recurso, na expressão irregular dos próprios versos que buscam uma regularidade perceptiva na própria dispersão, reafirmando a impotência pulsional do entrelaçar entre vida e vagueza. Mais adiante: “E o coração, /essa miséria/angular/nas cordas/do obscuro”. E a seguir: “– grades de tempos/e séculos/que suportam/a rota elegante/da metafísica –” (2019a, p. 26). Em nada existe a segurança que antevê a palavra “ensinamento” que dá título ao poema, pois apenas temos um pretexto para a elegância de postura diante da dissolução cronológica e da ausência de respostas. E segue, ainda: “é o céu que se abisma/ao homem e ao seu destino, /ao vivido em seu encanto e/ao morto em seu desespero:” (2019a, p. 26). E termina, de maneira paradoxal em relação ao que foi abstratamente discorrido até esse momento: “Sonolência apinhada de sonhos, /sempre, a vida, ensina.” (2019a, p. 26). O que a vida ensina a partir das sobrenaturezas apresentadas pelo Eu lírico? Provavelmente que o caminho é de recolhimento das sobras sígnicas e seus “ressignificados”, pois até o “morto” se desespera. Mas qual desespero? Claro, o da representação da própria inconclusão da forma. Há uma sobrecarga sígnica que se autossabota em nome da salvaguarda do consolo metafísico, nesse e em outros poemas de sua lavra, que apenas repetem o gesto inercial, no entanto, incapazes de superar os impasses que o universo contemporâneo quer e exige de pragmático para a ação dos sentimentos em contradição, e que o poeta teima em driblar e propor saída pelo próprio enfeitiçamento que o ritmo faz escorrer através de um antipragmatismo pontual e imagístico.
Em “Ensinamentos sobre o tempo”, confirmamos o itinerário vagamundo discursivo-didático do Eu lírico disperso em sua própria magia de (des)encantador das palavras, em um momento de construção/descontração/desconstrução: “Apreendo, sim, /seguro talvez do infinito, / o Belo –/ a eternidade da música/no Tempo”. E mais adiante: “Agora vejo, /somos todos/aprendizes/da infância, /que está / perdida / nas reminiscências / sofridas/da inocência / rediviva:” (2019a, p. 27-8). Sobrenaturezas que se acumulam, retemperando a busca do inefável, do enfronhar-se ao possível abismo metafísico como salvação do signo saturado, pois a própria “reminiscência” é um engodo aguardado. Essa poesia segue a trilha aberta pelos simbolistas franceses no século XIX, mas se acumula de novas desobrigações reinventando os seus óbices para além da própria necessidade de registro da “luta” com o referente.
Não podemos deixar de perceber, logo neste início de análise, que há um traço de ironia em tudo isso, nesse esforço de fazer uma poesia que naufraga nos próprios signos que sustentam a vaguidão de seus propósitos claramente abstratos, simulando uma possível proeza didática. O poeta produz uma consciência poderosa da sua capacidade de se afastar e aproximar de palavras que são muito mais caras do que seus valores em si. É uma poesia difícil e ao mesmo tempo simples em seus propósitos de desafio das coisas “fora do lugar” que, na realidade, devem continuar dispersas, como nesse trecho de “Ensinamentos sobre a melancolia”:
Devemos permanecer
claridade nas mesuras
escuras das lembranças
e das memórias
para que sejamos
amanhecidos
na abundância
das tristezas,
horizontes despertos
ao acordarmos
à deriva, na tarde,
de olhos nostálgicos
e agora envelhecidos:
outras paisagens
a adornar o mistério
da luz
para que
não fadamos
o nosso destino
à bela sombra
da essência aflita.
(2019a, p. 30-1)
Tocamos aqui no ponto nevrálgico que conduzirá cada vez mais essa poesia na direção de uma memória nostálgica e consequentemente uma lavra discursiva que se possa apascentar ao bel prazer das incongruências entre representação e representado, como um torcicolo proposital da sua própria força fragmentária, já que a abstração é o pasto que prepara o caminho para uma utopia da linguagem, no fundo, através de um esforço aparentemente mnemônico, mas que apenas recuperam as transações entre o coberto e o descoberto, entre a vida e a morte possível da significação das palavras em sua origem, onde a união antitética soa como um escárnio à recondução ao próprio pasto da miséria metafísica que o Eu lírico se propôs enfrentar desde o início. Sua nostalgia não é de um tempo concreto vivido, pois esse não existe, ou de uma infância saudosa, propriamente, mas de uma possível paisagem que não havia sido tocada (e também não pode ser) pela própria poesia. Sua melancolia será infinita, intratável, fora da dispersão que seus versos a submetem, em uma reconfiguração do impermeável das palavras entre si, cada vez mais afastadas do contexto como origem, procurando, paradoxalmente, a tradução do inefável na própria nostalgia apoética. Bendita maldição[1] que o conduz aos ínvios caminhos do criar, no entanto que cobra, idem, o preço de uma nostalgia do intratável, onde só a folha em branco salvaria. Em “Miss trajada de acordes”, o Eu lírico se esmera em encontrar o equilíbrio entre o apelo da imagem e a agonia do registro: “E no seio de fera da Morte /só quem morre /é quem nunca morreu: /E ainda nos embebedamos/ dessa eternidade primitiva /que, é sim, a Morte /e a sua frialdade /extremamente azul.” (2019a, p. 47). Não há porto seguro para essa poesia a não ser uma vaga reminiscência do nada, que atrai, que imobiliza e faz o radical abstrato se flexionar verbalmente como uma insistência aliterante que intenta capturar a magia do instante que se apaga. A imagem não salva o Eu lírico, mas reafirma a nostalgia do nada, mote para a busca do “consolo metafísico”, consolidação da utopia apoética. Em “Música da agonia”, a vedação do inquieto, a passagem interrompida que pode apenas vislumbrar um aceno da sua verdade, o que permite, no fundo, a atração ainda mais inexorável ao nada que só pode ser expresso pela forma em dissolução, no apelo antipatético: “A voz calou-se/dentro das essências/ ruidosas” (2019a, p.54). Não apenas um paradoxo, mas um enfrentamento da ruína que o Eu lírico vinha palmilhando, aqui e ali, ao procurar um resgate do imponderável onde ele se afoga, ou onde as paisagens se confundem.
[1] A maldição, principalmente, sobre os poetas pós-românticos acompanha uma espécie de dedilhar entre o objeto e a representação em que o ser, fragmentário, obriga a uma escolha radical: ou a vida, para os simples mortais, ou a eternidade por meio da alta criação. Muitos morreram embriagados e esquecidos.
Estudo de João Carlos de Carvalho, doutor em Teoria Literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É poeta, contista, romancista e ensaísta. Professor Titular da Universidade Federal do Acre (UFAC) há 28 anos.
Fonte:
SOUSA, D. M. Gravidade das xananas. Guaratinguetá: Penalux, 2019a. 60 p.
___. Tinteiros da casa e do coração desertos. Guaratinguetá: Penalux, 2019b. 98 p.
___. O viajor de Altaíba. Guaratinguetá: Penalux, 2019c. 99 p.
___. Velas náufragas. Guaratinguetá: Penalux, 2019d. 99 p.
___. Fanais dos verdes luzeiros. Guaratinguetá: Penalux, 2019e. 89 p.












