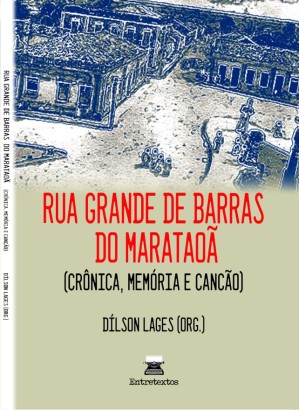O homem-ilha
 Por Maria do Rosário Pedreira Em: 13/11/2012, às 21H29
Por Maria do Rosário Pedreira Em: 13/11/2012, às 21H29
[Maria do Rosário Pedreira]
Perco-me por retrosarias e sou capaz de ficar horas a olhar para as suas montras ou lá dentro a mirar mil botões, fitas, novelos e fivelas como quem aprecia minúsculas obras de arte. Também por isso gostei tanto de ver o senhor Askenasi – o protagonista de A Ilha, de Sándor Márai – maravilhado diante da vitrina de um retroseiro, descobrindo a cor e o pormenor em tudo e compreendendo como andara, afinal, arredado das coisas belas da vida, embrenhado num quotidiano de livros, ordem e previsibilidade. O estudioso das palavras, professor de Grego, católico e sorumbático Askenasi ainda não está, porém, na ilha do título quando tira os óculos e vê o que antes nunca vira, mas numa estância balnear do Adriático, na qual se apeou a meio de uma viagem que o deveria levar de Paris, onde reside, à pátria de Homero – viagem que lhe aconselharam os amigos, convencidos de que assim recuperaria da insanidade que o fizera deixar a mulher, a filha e até o trabalho para viver com uma bailarina russa de reputação discutível e estranhas companhias. Mas nem a mulher abandonada nem a amante sensual parecem, porém, responder à sua satisfação, constituindo-se apenas como etapas anteriores a uma meta que Askenasi busca, incansável, e que pressente estar nesse lugar frequentado por turistas alemães pacóvios e metediços. Para a ilha, só irá realmente na sequência de um encontro com uma terceira mulher que o atrai ao seu quarto no Hotel Argentina e que ele crê irá dar-lhe a resposta que nem Deus é capaz de lhe dar. Magnífica, como toda a obra de Márai, esta novela lembra um pouco a solidão dos protagonistas de Morte em Veneza, de Mann, e do conto O Homem que Amava as Ilhas, de D. H. Lawrence, e também a novela homónima de Giani Stuparich, de que já aqui falei. Bela e imprevisível, representa o homem como a sua própria ilha, o indivíduo diante do seu destino inescapável.