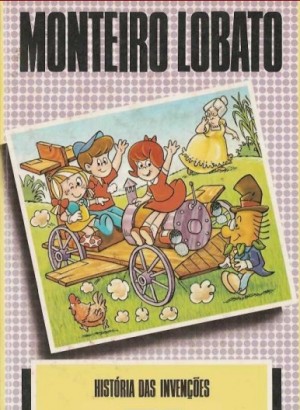O fogo da labareda da serpente
 Por: Neuza Machado Em: 09/11/2009, às 23H13
Por: Neuza Machado Em: 09/11/2009, às 23H13

Pelo ponto de vista da objetividade, “o morno rio ressurge, como látex do sangue aquecido”, do “sangue vivo”, “valoroso”, ligado à “carne e à alma”, repleto de “virtude e de espírito”, “o ardente sangue obscuro” do comum brasileiro (historicamente, pouco conhecido, seja ele seringueiro, índio, bugre ou caboclo; masculino ou feminino). O látex das árvores da borracha intimamente associado ao sangue valoroso daqueles trabalhadores/seringueiros que deram a própria vida, estagnada “no mudo e no nulo do anônimo de uma monotonia circular e estéril, de uma mecânica vida mascarada de impessoal catástrofe”, “condenada a morrer de malária no antro da floresta comida de bicho”[xlii]. “Rio”/Floresta como “antro”, ou seja, lugar escuro e profundo que serve de covil às feras e de refúgio aos ladrões e salteadores. Aqui o “consciente intervém”, por que este rio de sangue e látex propicia uma “lembrança maldita”, é um “sangue inominável”, não há como nomeá-lo como “desejável”, por ser algo vil e revoltante.
“Mas a vida é um caminho que de repente se bifurca” e este mesmo “rio” poderá ser revisto, fenomenologicamente, pelo ângulo da subjetividade “de um psiquismo acentuado”, como foi visto na obra de Edgar Alan Poe, por Gaston Bachelard, correndo “pesadamente, dolorosamente, misteriosamente”, também ele (o mesmo rio), “como um sangue maldito”, como um “sangue que transporta a morte”. E é importante assinalar, de antemão, que todos os rios amazonenses, nesta obra em especial, se revelarão como passagens para diversas mortes, inclusive, como referenciais dolorosos de mortes simbólicas, como, no final, a do narrador à moda antiga, tradicional, exemplar, contador de histórias apreciáveis e memoráveis (o primeiro narrador).
Mas, por enquanto, visto por este prisma interiorizado, este “rio” íntimo, particular, que banha os corpos sexualizados das duas indiazinhas Numas, poderá ser visto como “uma poética do drama e da dor”, à moda bachelardiana. A palavra “sangue”, colocada ali, no romance, sob aparência aleatória, também não é um “sangue feliz”. “É preciso, pois, inventar; é preciso apelar para o inconsciente”, urge dar forma ficcional confiável a essa dor que, no momento, está a atingir o narrador pós-modernista. A “água” e a cena do amor entre as indiazinhas Numas terão de ser “inventadas”, porque os Numas/Numes “não ficavam visíveis, às claras, de frente, nítidos” e só poderiam ser “difusamente entrevistos e só pressentidos na obliqüidade do olhar”.
E é exatamente esta “obliqüidade do olhar” que me permite, como leitora privilegiada, interagir com as camadas míticas, inseridas neste romance diferenciado. Penso que não está a faltar-me o sinal de valorização da palavra “sangue”, subentendida a partir do relacionamento amoroso das indiazinhas. Ali, o que se evidencia e que se valoriza é o mítico “sangue” da primitiva humanidade, um “sangue” originário, ímpar, sexualizado e andrógino, “movendo-se sempre” [nas artérias aquáticas], “movendo-se sempre nas igualmente imaginárias áreas do Rio Pique Yaco, do Rio Toro, e do além mais”[xliii], oriundos, todos esses rios, do Olimpo imensurável das Montanhas Andinas.