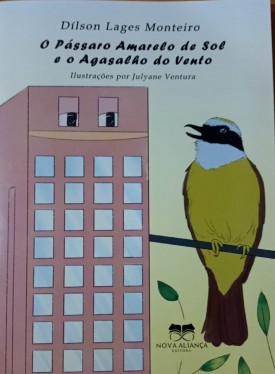O CHARME DO PAPEL
 Por Rogel Samuel Em: 07/11/2011, às 07H16
Por Rogel Samuel Em: 07/11/2011, às 07H16

Rogel Samuel Sim, depois de alguns anos vivendo só da Internet, este cronista voltava a ter coluna em jornal de papel. No «Correio do Sul». De Minas. No começo, mantive coluna diária em jornal. Era jovem, tinha energia de escrita, vontade de trabalho. Ainda hoje releio com receio os poucos recortes que restaram, que se salvaram da mudança da amiga que os guardava. Foram defenestrados como lixo, se possível fosse jogar lixo, papel velho, pela janela, como a palavra sugere. Destruídos os recortes, certa vez passei uma semana em consulta aos velhos jornais da época que sobreviveram à traça e tempo. Naquela época heróica, nós nem passávamos pelo chefe de redação. Íamos diretos ao linotipista. Aquele o tempo do linotipo. Coisa de chumbo. Sempre à noite que vínhamos nós, originais no bolso. Havia gente que escrevia diretamente no linotipo. O trabalho no jornal entrava noite a dentro. Os ruídos das impressoras eu os ouço até hoje, e o cheiro de tinta ainda me impregnam os sentidos. Em 1960, cometi tolice exemplar. Por meio do diretor comercial, de nome Senna, sou convidado para ingressar no corpo da redação da TV Rio. Não aceitei. O trabalho era noturno, sem hora para terminar, e eu tinha aula pela manhã na Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, onde me formei em letras. Naquele tempo parece que ali devia trabalhar Walter Clark e o Bôni, ambos da Globo. Eles deviam ter a minha idade. No pouco tempo que ali estive vi gente como Juscelino Kubstchek. Deixei de trabalhar na TV, passei a lecionar no subúrbio. Opção idiota. O ambiente de jornal era ótimo, naquele tempo. Não só se discutia política, mas literatura. Foi lá que ouvi Hemetério Cabrinha, o poeta, a recitar Castro Alves: «Era um sonho dantesco... o tombadilho». Sim, ele era dramático, principalmente quando entoava o seu «Falando a meu coveiro», um dos seus mais belos poemas: É aqui neste lugar, ao pé deste cipreste, junto a este mausoléu. Pega uma enxada, cava Abre o meu leito eterno... O meu lugar é este! Alarga-a mais um pouco, afasta mais a areia! Que é isso? Um crânio aí? Dá-mo, quero beijá-lo. Sim, ele era dramático. Dantesco e shakespeariano. Voz forte, gestualidade grandiosa, tensa, teatralidade assustadora, densa. Olhos ensandecidos de poética. Aquela era a época das polêmicas. Polemizávamos em versos (!) com o poeta Benjamim Sanches. Assinando Calixto Diniz. Sanches, uma ocasião, respondeu assim: «Cá li isto que você escreveu...» Ele era autor de «Argila» (1953), um livro cor de barro. Certa vez, encontrei a edição quase inteira, esquecida, não vendida, mofando, morrendo num canto do chão de velha e empoeirada livraria. Sanches era melhor contista. Escrevia bem. Não mereceu ficar esquecido. Sua poesia é como em «Transe»: Em êxtase fitava o céu molhado, Umedecidos por um cinza brando E o sangue nas artérias congelado, As lágrimas no rosto vão rolando. No espaço um olhar vívido cravado, O pensamento no ar gesticulando, Do meu céu ao inferno, condenado, Eu andei sem saber se estava andando. Quando saio daquele sobressalto, Como quem sonha mesmo quando acorda, Tenho minha alma presa lá no alto, Vendo o meu corpo nesta lassidão, Sob o peso das dores que transborda, Um monstro se arrastando pelo chão. ("Argila", pág. 95, Manaus, 1957). O CHARME DO PAPEL
sete palmas de chão! Anda depressa, grava
no teu semblante mudo o riso que escondeste!
Quero nele abafar minha paixão escrava!
Quero enterrar-me logo... a vida já me agrava...
Depressa! A minha dor de dores se reveste!
Ela, assim como está, torna-se muito feia, profunda-a mais... trabalha! Este dinheiro é teu!
Limpa-lhe bem o pó! Dá cá, quero estudá-lo
Como alguém algum dia há de estudar o meu!