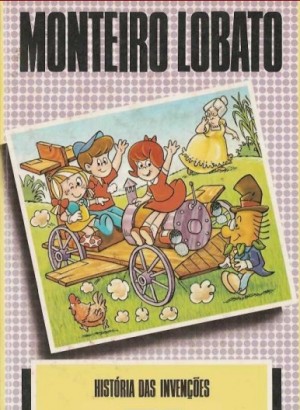Natureza e possibilidade da vida: Diamond e Wilson & Law
 Por Flávio Bittencourt Em: 05/08/2010, às 21H06
Por Flávio Bittencourt Em: 05/08/2010, às 21H06
A arqueologia apresenta evidências de que colapsos do passado aconteceram em razão de esgotamentos de recursos naturais.


"(...) il libro di cui scrivo oggi, “Collasso” edito da Einaudi, parla proprio di quest’ultima e affascinantissima dinamica: come le società “scelgono” di vivere o morire. L’autore, Jared Diamond, è un importante professore universitario di Los Angeles (...)"
(http://tolomeo.wordpress.com/2009/02/18/collasso-di-jared-diamond/)

O PROF. J. DIAMOND PRATICANDO ARREMESSO
COM ARCO, SOB A ORIENTAÇÃO DE INFORMANTE QUE
É ESPECIALISTA NO USO DO ARCO-E-FLECHA NAS
GUERRAS INTERTRIBAIS, NA CAÇA E NA PESCA
(SÓ A FOTO, SEM A LEGENDA ACIMA CONFERIDA:
http://www.dvnetwork.net/tdf/dv/features/catchingup/index.html)
"(...) apesar de suas falhas, os modelos climáticos são o melhor instrumento que possuímos para informar as decisões sobre as políticas a serem adotadas, e temos sorte em poder contar com eles. Evidências arqueológicas provenientes de todo o mundo estão começando a mostrar o imenso e devastador impacto que as mudanças climáticas tiveram sobre civilizações mais antigas. (....)".
(JESSICA WILSON & STEPHEN LAW, início do trecho adiante transcrito, que consta às págs. 51 e 52 do livro cuja tradução brasileira [2010] acaba de ser publicada pelo Itamaraty, Um breve guia sobre o aquecimento global - Um guia claro e franco sobre a questão mais importante de nossa era)
Homenageando os Profs. Drs. Jared Diamond,
Jessica Wilson e
Stephen Law, eminentes professores com quem atentamente procuro aprender,
em memória do Prof. Dr. Elmo da Silva Amador, cientista e
ambientalista-militante, que, quando concedia entrevistas, procurava ser claro
aos leitores de jornais, ouvintes de rádio e telespectadores aos quais se dirigia,
na nobre e necessária tarefa de levar conhecimento relevante a quem não tem
a obrigação de conhecer os termos especiallizados de rigorosas disciplinas
científico-atuais, a agradecendo ao Prof. Wellington Pereira, que deu mais clareza
ao que per se já era compreensível, por generosidade do Professor Diamond
6.8.2010 - Sem recursos naturais (água potável e comida, principalmente) à disposição dos seres humanos, as possibilidades de sociedades continuarem existindo esgotam-se - Certos textos são obscuros, ou seja, são incompreensíveis. Alguns autores não são claros. Artigos, monografias e teses são escritos exclusivamente para especialistas: falo dos textos científicos. Quem entende daquele assunto haverá de entender o que o(s) autor(es) deseja(m) dizer. Esses pesquisadores não acham artigos científicos e teses difíceis de ser compreendidos. Mas o grande público não tem acesso a tais mensagens cifradas, misteriosas, TAMBÉM INCOMPREENSÍVEIS PELO POVO QUE VOTA, PEDE PARTICIPAÇÃO E TEM O DIREITO DE ENTENDER DAS QUESTÕES MAIS IMPORTANTES DA ATUALIDADE. Há cientistas, contudo, que, diante da gravidade dos assuntos de que tratam, dirigem-se para o grande público. São generosos. Não apenas Jared Diamond, por um lado, e Jessica Wilson e Stephen Law, "escrevendo a quatro mãos", por outro, mostraram, de forma clara, a IMPORTÂNCIA DA ARQUEOLOGIA (estudo científico de vestígios materiais voluntária ou involuntariamente deixados por habitantes do passado) para o esclarecimentos de pontos cruciais da questão ambiental (ecologia, defesa da preservação do meio ambiente, salvação de ecossistemas naturais e, ultrapassando a luta pela qualidade da vida, A DIUTURNA MILITÂNCIA PELA POSSIBILIDADE DE HAVER A VIDA). Não foram apenas eles os autores que realizaram esse feito. Mas eles também o fizeram - e, por isso, merecem o nosso entusiasmado aplauso! Vale a pena ler com atenção o que a seguir está trancrito: (1) trecho de autoria de J. WILSON & S. LAW; (2.1) fragmentos de um importante livro de J. DIAMOND, intitulado Colapso; e (2.2) comentários, de W. PEREIRA, sobre o referido livro de autoria de J. DIAMOND. Boa leitura e, se quiser, comente o que achou das idéias dos quatro estudiosos mencionados - DIAMOND, WILSON, LAW e PEREIRA -, em espaço próprio para as suas observações, logo depois da matéria que hoje, com preocupação, mas também com a alegria de quem algo pode informar (apesar de não ser um especialista nessas questões), lhe apresento. F. A. L. Bittencourt ([email protected])
I - JESSICA WILSON e STEPHEN LAW
Trecho de UM BREVE GUIA SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL - Um guia claro e franco sobre a questão mais importante de nossa era (tradução de A Brief Guide to Global Warming - A straightforward Guide to the Most Important Issue of Our Age, London: Constable & Robinson, 2007.
"(...) apesar de suas falhas, os modelos climáticos são o melhor instrumento que possuímos para informar as decisões sobre as políticas a serem adotadas, e temos sorte em poder contar com eles. Evidências arqueológicas provenientes de todo o mundo estão começando a mostrar o imenso e devastador impacto que as mudanças climáticas tiveram sobre civilizações mais antigas. Pensem nos pobres acádios. Há aproximadamente quatro mil e trezentos anos, eles viviam uma vida boa no fértil vale do Eufrates, o celeiro do mundo conhecido de então. O clima ameno e confiável permitiu que, por algumas centenas de anos, eles conseguissem cultivar alimentos suficientes para sustentar uma cidade que havia crescido até atingir uma população de 20.000 habitantes. Então, a seca se abateu sobre eles - uma seca que se prolongou pelos 300 anos seguintes! A população foi dizimada aos milhares. Os pobres acádios simplesmente não esperavam por isso, e eles, há pouco tempo, haviam inventado a agricultura.
Milhares de anos mais tarde, e do outro lado do mundo, a civilização Maia chegou a um fim abrupto. Ninguém sabe ao certo por que, mas alguns arqueólogos suspeitam de uma seca súbita e catastrófica com a qual os maias, com sua agricultura de desmatar com queimadas, não estavam equipados para lidar. Os maias haviam inventado um calendário de cinco mil anos, e conseguiam prever eventos astrológicos com grande precisão. Mas sobre as mudanças climáticas, da mesma forma que os pobres acádios de três mil anos antes, eles não sabiam xongas. Nós, pelo menos, podemos brincar com nossos modelos e, se formos mais espertos que os acádios e os maias, iremos usá-los para nos ajudar a navegar os impactos prováveis sobre nosso modo de vida, tal como o conhecemos. (...)".
(WILSON, Jessica & LAW, Stephan, Um breve guia sobre o aquecimento global - Um guia claro e franco sobre a questão mais importante de nossa era, tradução de Patricia Zimbres, Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, Ministério das Relações Exteriores (Brasil), 2010 [2007], pp. 51 - 52)
II - JARED DIAMOND
II.1)
"Colapso — Como as sociedades optam entre o fracasso e a sobrevivência
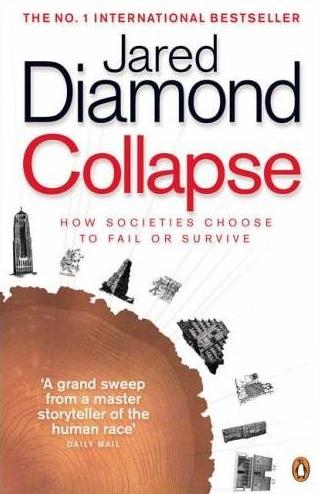 A Gronelândia norueguesa é uma das muitas sociedades antigas que entraram em colapso ou desapareceram, deixando atrás de si, um conjunto de ruínas monumentais como aquelas que Shelley imaginou no seu poema “Ozymandias”. Colapso significa um declínio drástico na dimensão da população e/ou na complexidade política, económica e social, numa área considerável e durante um período de tempo prolongado. O fenómeno dos colapsos é, assim, uma forma extrema de vários tipos de declínio menos acentuados e torna-se arbitrário decidir quão drástica pode ser a degradação dessa sociedade antes de a categorizarmos como colapso. Nalgumas dessas formas de declínio mais suaves estão incluídos os normais pequenos altos e baixos fortuitos e pequenas reestruturações políticas, económicas e sociais de qualquer sociedade; a conquista de uma sociedade por outra vizinha, ou o declínio de uma estar ligado à ascensão de outra sociedade próxima, sem mudanças na dimensão global da população ou na complexidade de toda a região; a substituição ou derrube de uma elite governante por outra. De acordo com estes parâmetros, a maior parte das pessoas consideraria como vítimas importantes de desastres totais, e não apenas pequenos declínios, as seguintes sociedades: os Anasazi e os Cahokia, nas actuais fronteiras dos EUA, os Maias na América Central, as sociedades Moche e Tiwanaku na América do Sul, a Grécia Micénica e Creta Minóica na Europa, o Grande Zimbabué na África, as cidades de Angkor Wat e do Vale Hindu Harappan na Ásia e a Ilha de Páscoa no Oceano Pacífico (ver mapa).
A Gronelândia norueguesa é uma das muitas sociedades antigas que entraram em colapso ou desapareceram, deixando atrás de si, um conjunto de ruínas monumentais como aquelas que Shelley imaginou no seu poema “Ozymandias”. Colapso significa um declínio drástico na dimensão da população e/ou na complexidade política, económica e social, numa área considerável e durante um período de tempo prolongado. O fenómeno dos colapsos é, assim, uma forma extrema de vários tipos de declínio menos acentuados e torna-se arbitrário decidir quão drástica pode ser a degradação dessa sociedade antes de a categorizarmos como colapso. Nalgumas dessas formas de declínio mais suaves estão incluídos os normais pequenos altos e baixos fortuitos e pequenas reestruturações políticas, económicas e sociais de qualquer sociedade; a conquista de uma sociedade por outra vizinha, ou o declínio de uma estar ligado à ascensão de outra sociedade próxima, sem mudanças na dimensão global da população ou na complexidade de toda a região; a substituição ou derrube de uma elite governante por outra. De acordo com estes parâmetros, a maior parte das pessoas consideraria como vítimas importantes de desastres totais, e não apenas pequenos declínios, as seguintes sociedades: os Anasazi e os Cahokia, nas actuais fronteiras dos EUA, os Maias na América Central, as sociedades Moche e Tiwanaku na América do Sul, a Grécia Micénica e Creta Minóica na Europa, o Grande Zimbabué na África, as cidades de Angkor Wat e do Vale Hindu Harappan na Ásia e a Ilha de Páscoa no Oceano Pacífico (ver mapa).
 As ruínas monumentais deixadas por essas sociedades do passado exercem um fascínio romântico em todos nós. Na nossa infância maravilhamo-nos quando as conhecemos através das suas imagens. Quando crescemos, muitos de nós planeamos férias para as vivenciarmos pela primeira vez como turistas. Sentimo-nos atraídos pela sua beleza, muitos vezes espectacular e inesquecível, e pelos mistérios que representam. A dimensão das ruínas testemunha a antiga riqueza e o poder dos seus construtores. Parece que clamam: “Admirai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai” como diz Shelley. No entanto, esses construtores desapareceram, abandonando as imensas estruturas que haviam criado com tanto esforço. Como é que uma sociedade, tão poderosa em tempos, pode ter entrado em colapso? Qual foi o destino dos seus cidadãos? Será que eles emigraram e, se for esse o caso, porquê? Ou acabaram por morrer lá de alguma forma horrível? Por detrás deste mistério romântico espreita um pensamento inquietante: poderá tal destino abater-se sobre a nossa próspera sociedade? Será que algum dia turistas se vão estarrecer confundidos perante as gigantescas estruturas decadentes de arranha-céus nova-iorquinos, da mesma forma que hoje nos impressionamos pelas ruínas das cidades Maia conquistadas pela selva?
As ruínas monumentais deixadas por essas sociedades do passado exercem um fascínio romântico em todos nós. Na nossa infância maravilhamo-nos quando as conhecemos através das suas imagens. Quando crescemos, muitos de nós planeamos férias para as vivenciarmos pela primeira vez como turistas. Sentimo-nos atraídos pela sua beleza, muitos vezes espectacular e inesquecível, e pelos mistérios que representam. A dimensão das ruínas testemunha a antiga riqueza e o poder dos seus construtores. Parece que clamam: “Admirai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai” como diz Shelley. No entanto, esses construtores desapareceram, abandonando as imensas estruturas que haviam criado com tanto esforço. Como é que uma sociedade, tão poderosa em tempos, pode ter entrado em colapso? Qual foi o destino dos seus cidadãos? Será que eles emigraram e, se for esse o caso, porquê? Ou acabaram por morrer lá de alguma forma horrível? Por detrás deste mistério romântico espreita um pensamento inquietante: poderá tal destino abater-se sobre a nossa próspera sociedade? Será que algum dia turistas se vão estarrecer confundidos perante as gigantescas estruturas decadentes de arranha-céus nova-iorquinos, da mesma forma que hoje nos impressionamos pelas ruínas das cidades Maia conquistadas pela selva?
Há tempo que se suspeita que muitos desses abandonos misteriosos se deveram, pelo menos em parte, a problemas ecológicos: os homens destruíram inadvertidamente os recursos naturais dos quais as suas comunidades dependiam. Esta suspeita de um suicídio ecológico involuntário – ecocídio – tem sido confirmado por descobertas feitas nas últimas décadas por arqueólogos, climatologistas, historiadores, paleontólogos e palinologistas (cientistas que estudam o pólen). Os processos através dos quais sociedades passadas se autodestruíram pela devastação dos seus ambientes naturais podem ser classificados em oito categorias, cuja importância relativa varia consoante os casos:
- desflorestação e destruição do habitat natural,
- problemas do solo (erosão, salinização e perda de fertilidade do solo),
- problemas de gestão dos recursos hídricos,
- caça excessiva,
- pesca excessiva,
- efeitos da introdução de novas espécies sobre as espécies autóctones,
- aumento demográfico e
- aumento per capita do impacto dos seres humanos.
Esses colapsos do passado seguem tendencialmente um percurso semelhante, constituindo variações de um mesmo tema. O crescimento demográfico forçou a população a adoptar meios de produção agrícolas mais intensivos (tais como a irrigação, a duplicação de colheitas ou a introdução dos socalcos) e a expansão da agricultura de zonas mais férteis inicialmente escolhidas, para zonas mais periféricas, de forma a poder alimentar o número crescente de bocas esfomeadas. As práticas insustentáveis conduziram à destruição ambiental de uma ou mais das categorias enumeradas anteriormente, e, mais uma vez, essas terras agrícolas marginais foram, também elas, abandonadas. Socialmente isto trouxe consequências como a escassez de alimentos, fome, conflitos entre demasiadas pessoas disputando tão parcos recursos e o derrube das elites governantes pelas massas descontentes. No fim, a população diminuiu devido à fome, à guerra ou à doença e a comunidade, de alguma forma, perdeu a complexidade política, económica e cultural que tinha atingido o auge. Os escritores são tentados a procurar analogias entre estas trajectórias das civilizações humanas e os percursos de vida dos indivíduos – quando se fala do nascimento, crescimento, auge, senescência e morte de uma sociedade – e a assumir que o longo período de senescência, que a maior parte de nós atravessa entre os anos áureos e a morte, também se aplica às sociedades. Mas essa metáfora é errada para muitas sociedades passadas (e para a moderna União Soviética): depois de atingido o auge em riqueza e poder, o seu declínio brusco foi, ao mesmo tempo, uma surpresa e um choque para os seus cidadãos. Nos piores casos de colapso total, todos os habitantes emigraram ou morreram. Mas é óbvio que não foi esta a trajectória sinistra que todas as sociedades antigas seguiram sem variações até ao seu desfecho: sociedades diferentes declinaram a níveis diferentes e de formas diferentes, enquanto que muitas outras nem sequer sucumbiram.
Actualmente o risco destes colapsos é matéria de preocupação crescente. Na realidade, tais situações já se materializaram na Somália, no Ruanda e noutros países do Terceiro Mundo. Muitos temem que o ecocídio venha a sobrepor-se à guerra nuclear e às doenças emergentes como a grande ameaça à civilização mundial. Os problemas ambientais que hoje enfrentamos incluem os mesmos oito que minaram as sociedades passadas e mais quatro novos:
- alterações climáticas provocadas pelo Homem,
- concentração de produtos químicos tóxicos no ambiente,
- escassez de recursos energéticos e
- o uso total, por parte do Homem, da capacidade fotosintética do planeta.
Afirma-se que a maior parte destas doze ameaças atingirão um estádio crítico à escala mundial nas próximas décadas. Entretanto, ou solucionamos estes problemas ou eles afectarão não só países como a Somália, mas também as sociedades do Primeiro Mundo. Muito mais provável do que um cenário do Dia do Juízo Final com a extinção da raça humana ou colapso apocalíptico da civilização industrial, seria “simplesmente” um futuro com a degradação significativa dos níveis de vida, com ameaças constantes cada vez maiores e a desagregação daquilo que hoje consideramos como alguns dos nossos princípios fundamentais. Um tal colapso poderia assumir diferentes formas, tais como a disseminação de epidemias ou, então, de conflitos bélicos à escala global, despoletados pela escassez dos recursos ambientais. Se este raciocínio estiver correcto, nesse caso, os nossos esforços hoje serão determinantes para o estado do mundo no qual a actual geração de crianças e jovens adultos viverão a sua meia-idade e velhice.
No entanto, é com grande vigor que se debate a gravidade dos actuais problemas ambientais. Será que os riscos são demasiadamente ampliados ou, pelo contrário, estão subestimados? Será racional pensar que a actual população mundial de cerca de 7 mil milhões, com toda a potente tecnologia moderna de que dispõe, está a destruir o ambiente à escala planetária a um ritmo muito mais rápido do que uns meros milhões de pessoas, com instrumentos de pedra e madeira, o haviam feito no passado a nível local? Será que a tecnologia actual irá resolver os nossos problemas ou está a criar novas ameaças mais depressa do que soluciona as antigas? Quando esgotamos um recurso (por exemplo: a madeira, o petróleo ou as reservas piscícolas naturais), seremos capazes de o substituir por um recurso novo (por exemplo: o plástico, as energias solar e eólica ou a aquicultura)? Não estará a taxa de crescimento populacional a abrandar, de tal forma que está já a estabilizar num número controlável?
Todas estas interrogações ilustram a razão pela qual esses famigerados declínios de civilizações antigas alcançaram um significado mais vasto que ultrapassa o do simples mistério romântico. Talvez possamos aprender algumas lições mais práticas de todos esses colapsos passados. Sabemos que algumas sociedades antigas desapareceram enquanto outras sobreviveram: o que tornou algumas comunidades particularmente vulneráveis? Quais foram, exactamente, os processos que levaram essas sociedades a cometer ecocídio? Porque é que algumas dessas comunidades não conseguiram antever o buraco onde se metiam e que, pensando retrospectivamente, deveria ter sido óbvio? Quais foram as soluções que resultaram no passado? Se tivéssemos respostas para estas perguntas, poderíamos, talvez, identificar quais sociedades se encontram hoje em maior risco e quais as medidas mais adequadas para as ajudar, sem estar à espera de mais casos como o da Somália.
Contudo, há diferenças entre o mundo moderno e as sociedades passadas e os seus respectivos problemas. Não podemos ser tão ingénuos ao ponto de pensar que o estudo do passado fornecerá soluções fáceis, directamente aplicáveis nas nossas sociedades actuais. Divergimos dessas civilizações antigas em alguns aspectos que nos colocam em menor risco. Alguns desses aspectos, já mencionados, incluem a nossa poderosa tecnologia, ou antes, os seus efeitos benéficos, a globalização, a medicina moderna e o conhecimento mais vasto de sociedades antigas e de sociedades modernas mais distantes. Mas também somos diferentes noutros domínios que nos levantam perigos maiores. Nesta linha temos, novamente, a nossa tecnologia poderosa, ou antes, os seus efeitos destrutivos inesperados, a globalização (de tal forma que, hoje, um colapso, por mais remoto que seja como o da Somália, afecta os EUA e a Europa), a dependência que milhões (e, brevemente, milhares de milhões) de nós temos em relação à medicina moderna para a nossa sobrevivência e a população muito mais vasta. Talvez ainda possamos aprender com o passado, mas só se ponderarmos bem sobre as suas lições.
Os esforços para compreender o passado têm de enfrentar uma grande controvérsia e quatro complicações acrescidas. Controvérsia pela resistência à ideia de que os povos passados (sabendo-se que alguns deles são ascendentes de povos que ainda existem e activos) fizeram coisas que conduziram ao seu próprio declínio. Hoje temos maior consciência dos danos ambientais do que há umas décadas atrás. Até os avisos em hotéis invocam o respeito pelo ambiente e induzem-nos sentimentos de culpa quando pedimos toalhas lavadas ou deixamos a água a correr. Prejudicar o ambiente é, nos dias que correm, moralmente condenável.
Não é de admirar que os nativos havaianos e os maoris não gostem que os paleontólogos lhes digam que os seus antepassados exterminaram metade das espécies de aves que se reproduziram no Havaí e na Nova Zelândia, da mesma forma que os nativos americanos não gostam que os arqueólogos lhes digam que os Anasazi desflorestaram partes do sudoeste dos Estados Unidos. As pretensas descobertas de paleontólogos e arqueólogos soam aos ouvidos de alguns como mais um argumento racista utilizado pelos brancos para espoliar os povos indígenas. É como se os cientistas afirmassem que “os vossos antepassados foram maus guardiães das suas terras, por isso mereceram ser expropriados”. Na verdade, alguns brancos americanos e australianos, ressentidos com as compensações monetárias estatais e a devolução de terras aos nativos americanos e aborígenes australianos, agarram-se a estas teorias para avançarem com esse argumento. Não só os povos indígenas, mas também alguns antropólogos e arqueólogos que os estudam e que com eles se identificam, vêem estas pretensas descobertas recentes como calúnias racistas.
Alguns dos povos indígenas e desses antropólogos que neles se revêem, apontam na direcção oposta. Insistem que os antigos povos nativos, tal como os actuais, eram guardiães diligentes e ecologicamente ponderados do meio ambiente, conheciam e respeitavam profundamente a Natureza, viviam inocentemente num Jardim do Éden idílico e nunca poderiam ter causado tanto mal. Como uma vez um caçador da Nova Guiné me contou: ”Se um dia eu consigo matar um pombo grande numa certa zona da nossa aldeia, espero uma semana antes de voltar a matar pombos e nessa altura vou para outra zona da aldeia.” Só os habitantes maldosos do mundo desenvolvido não conhecem a Natureza, não respeitam o ambiente e destroem-no.
Na realidade, ambos os extremos desta polémica – os racistas e os crentes num Éden passado – cometem o erro de considerar os povos indígenas antigos como essencialmente diferentes dos actuais povos do Primeiro Mundo, quer sejam superiores ou inferiores. Gerir os recursos naturais de forma sustentável tem sido sempre difícil, desde que o Homo Sapiens desenvolveu a criatividade moderna, a eficiência e as aptidões para a caça há cerca de 50 000 anos atrás. Logo desde a primeira colonização humana do continente australiano há 46 000 anos e a subsequente extinção rápida da maior parte dos antigos marsupiais gigantes da Austrália e outros animais de grande porte, até todas as ocupações humanas de massas de terra nunca antes pisadas pelo Homem – quer seja na Austrália, na América do Norte, Madagáscar, nas ilhas mediterrânicas, no Havaí ou na Nova Zelândia ou, ainda, em algumas dezenas de outras ilhas do Pacífico –, sempre se seguiram ondas de extinção de animais de grande porte que se tinham desenvolvido sem qualquer medo dos homens e, por isso, se tornaram alvos fáceis ou, então, sucumbiram às alterações de habitat provocadas pelo Homem, pela introdução de espécies parasitas e doenças. Qualquer pessoa pode facilmente cair na armadilha da sobre-exploração dos recursos naturais devido a problemas omnipresentes que se abordarão mais à frente: porque os recursos, à primeira vista, parecem inesgotavelmente abundantes; porque os sinais do seu depauperamento inicial são mascarados por flutuações normais das reservas disponíveis durante anos ou décadas; porque é difícil levar as pessoas a concordar em pôr em prática restrições no usufruto de um recurso comum (a chamada tragédia dos “comuns”, que veremos em capítulos posteriores); e porque a complexidade dos ecossistemas faz com que as consequências de qualquer perturbação de origem humana se tornem virtualmente impossíveis de predizer, mesmo para um ecologista profissional. Se hoje os problemas ambientais são difíceis de gerir, muito mais o eram no passado. Especialmente para os povos antigos, sem qualquer formação e que não poderiam conhecer os estudos dos declínios de civilizações, a destruição ecológica constituiu-se como uma consequência trágica, imprevisível e involuntária do seu melhor esforço, mais do que o resultado de uma cegueira moralmente condenável ou de um egoísmo consciente. As sociedades que sucumbiram eram – tal como os Maias – das mais criativas e – durante algum tempo – das mais evoluídas e bem sucedidas da sua era e não uns primitivos imbecis.
Os povos antigos não eram nem maus gestores ignorantes que mereciam ser exterminados ou espoliados, nem ambientalistas sábios e conscientes que resolviam problemas que hoje ninguém consegue. Eram pessoas como nós, com dificuldades, em muito, semelhantes às que hoje enfrentamos. Tinham tendência, quer para o êxito, quer para o fracasso, em conjunturas semelhantes àquelas que nos fazem prosperar ou falhar. É verdade que há diferenças entre a situação que defrontamos hoje e aquela em que viviam os povos antigos, mas ainda há semelhanças suficientes para que possamos aprender com o passado.
Acima de tudo, parece leviano e perigoso invocar suposições históricas sobre práticas ambientais de povos nativos que sirvam de argumento para os tratar com justiça. Em muitos, ou na maioria dos casos, historiadores e arqueólogos têm descoberto provas surpreendentes de que esta suposição (sobre o ambientalismo tipo Éden) é errada. Ao invocar esta ideia para justificar uma abordagem correcta dos povos nativos, então teríamos de admitir que, se tal ideia pudesse ser refutada, seria aceitável denegri-los. Na realidade, a questão contra o descrédito dos povos indígenas não é baseada em nenhuma verdade histórica sobre as suas práticas ambientais. A questão centra-se num princípio ético, nomeadamente, o de que é moralmente condenável que um povo espolie, subjugue ou extermine outro povo.
[*] Biólogo, fisiólogo e escritor americano. Autor de Guns, Germs, and Steel (1997), obra que ganhou o Prémio Pulitzer. [ARMAS, GERMES E AÇO, de JARED DIAMOND, obra já traduzida no Brasil.]
O original encontra-se nas páginas 3 a 10 do livro Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive, de Jared Diamond, Penguin Books, Londres, 2006, 576 pgs., ISBN 0-140-27951-2. Tradução de PL. [COLAPSO: COMO AS SOCIEDADES ESCOLHEM O FRACASSO OU O SUCESSO, livro também já traduzido, no Brasil.]
Este texto encontra-se em http://resistir.info/. (http://resistir.info/varios/jared_diamond_p.html)
II.2)