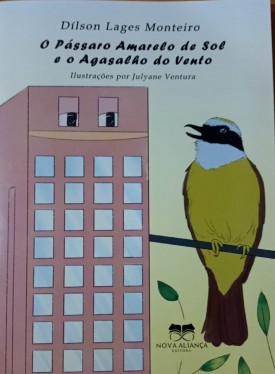ENTREVISTADO:
Márcio Marciano a Rogério Newton (participações de Paula Coelho e Daniel Araújo)
Entrevista de Márcio Marciano a Rogério Newton (participações de Paula Coelho e Daniel Araújo)
“Quando a história é subtraída, o que resta ao teatro?” Movido, entre outras, por esta inquietação, o Coletivo de Teatro Alfenim montou Milagre Brasileiro, contemplado com o Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz, em cartaz no Teatro Ariano Suassuna, em João Pessoa, de 12 de março a 11 de abril. O tema são os desaparecidos políticos do regime militar pós-1964.
Longe de propor uma leitura unívoca dos “anos de chumbo”, a peça coloca em cena as contradições e os dilaceramentos daquele período histórico. A narrativa explode numa linguagem em que o uso de recursos formais e da memória fragmentária dos fatos históricos resulta em fricções e estranhamentos, o que talvez seja um desafio para o espectador que formou sua sensibilidade artística dentro dos moldes do gênero dramático.
Nesta entrevista, integrantes do elenco e o autor e encenador Márcio Marciano explicam como se deu o percurso reflexivo e experimental da montagem. Conscientes da crise pós-moderna da fábula e da contradição fundamental de materializar os desaparecidos em cena, o grupo optou por uma dramaturgia tributária das proposições de Brecht (“o último dramático”), de seu continuador Heiner Müller e de Hans-Thies Lehmann, um dos principais teóricos do teatro contemporâneo.
Nós desdramatizamos os fatos e colocamos tudo numa chave de estranhamento, exatamente para que o espectador se posicione hoje em relação àquele passado”, diz Márcio Marciano, aludindo às imbricações entre conteúdo e forma da peça, que também dialoga com Sófocles e Nelson Rodrigues.
Milagre Brasileiro não teria existido sem a experiência de seu encenador durante dez anos na Companhia do Latão, em São Paulo, cuja origem deu-se com Ensaio Para Danton (1996), dirigido por Sergio de Carvalho. No ano seguinte, em torno do projeto Pesquisa em Teatro Dialético, formou-se o grupo co-dirigido por Márcio Marciano, que assina, em parceria com Sergio de Carvalho e outros colaboradores, Companhia do Latão – 7 peças, livro editado pela Cosac Naify, em 2008, Introdução ao Teatro Dialético - experimentos da Companhia do Latão e Atuação Crítica - entrevistas da Vintém e outras conversas, lançados em 2009 pela Editora Expressão Popular, além da revista Vintém, atualmente em seu sétimo número.
Morando em João Pessoa desde 2006, Márcio Marciano criou o Alfenim, após concorrer ao edital do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos para a montagem de Quebra-Quilos, que estreou em 2007. No momento, junto com a Companhia do Latão, prepara para o próximo ano um projeto de intercâmbio entre os dois grupos.
A conversa com os entrevistados começou no próprio Teatro Ariano Suassuna, após uma das apresentações, e continuou dois dias depois, ao pé de uma árvore, no pátio interno do Colégio Pio X. Durante o segundo tempo da gravação, crianças jogaram alegremente uma partida de futebol e o auto-falante da escola fez-nos silenciar algumas vezes.
A entrevista não substitui o contato direto do espectador com a peça, porém deixa ainda mais explicito o fato de que Milagre Brasileiro é um produto cultural elaborado com profunda consciência ética, estética e política.
Rogério Newton: Quebra-Quilos e Milagre Brasileiro são espetáculos explicitamente políticos. É uma singularidade do Coletivo de Teatro Alfenim a escolha por essa temática?
Paula Coelho: Sim, é uma escolha. Penso que a arte deve ter um fim, um objetivo, que o teatro é político e um ótimo espaço para discutir essas questões. Claro que são discussões bem diferentes. Eu não estava no elenco do Quebra-Quilos, que apresenta um tema já distanciado pela própria história (a revolta dos matutos ocorreu em fins do século XIX, no sertão paraibano). De alguma forma, quando você está mais distante do fato, tem condições de uma análise um pouco mais distanciada. A questão dos desaparecidos políticos da época da Ditadura, principalmente depois da decretação do AI-5, é uma fase muito próxima. Todo mundo que estava na plateia vivenciou pelo menos pedaços, restos, impressões. É um tema pouco divulgado, pouco esclarecido, talvez mais nebuloso, mais difícil de tratar.
Rogério Newton: Diante de tantos temas políticos, por que a escolha justamente pelos desaparecidos políticos e não outro?
Paula Coelho: É um período da história que nos fascina no sentido de que não é esclarecido. O governo não abriu os arquivos, os militares não abriram os arquivos deles, não encontraram os corpos dos guerrilheiros do Araguaia, que foi uma chacina imensa. A gente tem a impressão, às vezes, de que as pessoas querem colocar o fato histórico debaixo do tapete. E a gente quer lembrar que há um período negro na história.
Rogério Newton: Embora seja um fato da história recente, ele já foi revisitado, já foi objeto de outras leituras...
Paula Coelho: Eu tenho a impressão de que muitas são leituras parciais. A gente está apresentando uma para colocar “um dedo na ferida” da versão oficial, que é uma versão acobertada e não lembrada.
Rogério Newton: De todas as artes, o teatro foi a mais prejudicada pela repressão política. Vocês, de certa forma, estão apresentando uma resposta ou uma leitura na qual o teatro é o lugar de onde se vê o fato histórico?
Paula Coelho: Na nossa linguagem, é o meta-teatro, o próprio teatro refletindo para que serve o teatro, qual sua função, como pode se relacionar com esses fatos ou como trabalhadores do teatro podem falar de temas políticos.
Daniel Araújo: A gente tem que pensar no contexto, que é diferente. Nos dias de hoje, vivemos, pelo menos formalmente, numa democracia. Sobre a questão de que o teatro foi o mais atingido, isso é claro. O teatro é a arte que chega mais perto do povo numa época de ditadura. Qualquer estado totalitário vai em cima do teatro, que desperta percepções.
Rogério Newton: O fato de Antígona, uma personagem de 2.500 anos, ser uma presença fundamental na peça decorre da perene atualidade dela para servir como chave de leitura?
Paula Coelho: Fomos um pouco na tradição. O Brecht, que é um dos nossos inspiradores, porque apresenta algumas questões que ainda nos inquietam, fez uma leitura de Antígona para falar sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente acha que tem muita similaridade quando pensamos nas famílias brasileiras que não puderam enterrar seus mortos e não encontraram sequer um osso do filho. Sabem que foram mortos, sabem que foram trucidados pela Ditadura, mas não podem enterrar seus mortos, os desaparecidos políticos. Esta é uma questão-chave na Antígona. A luta contra o Estado pelo direito de enterrar seu irmão, apesar de ele ter sido considerado traidor da pátria.
Rogério Newton: A peça não tem uma linearidade rígida. Do ponto de vista formal, o que orientou a concepção do espetáculo?
Márcio Marciano: Partimos de um pressuposto conceitual. Estudando a história do período, percebemos que nós, brasileiros, tivemos a nossa própria história subtraída. Como hoje, na cena contemporânea, a fábula está em crise, isso faz com que a narrativa do espetáculo não mais caminhe pari passu com a fábula. Há uma narratividade que organiza todos os elementos da cena e que não necessariamente dá conta da trajetória da personagem. Identificamos um paralelo entre a cena contemporânea, com dificuldade de apresentar e desenvolver a fábula, e a nossa história, enquanto brasileiros, de não podermos reconstituir a própria história. Isso foi um pressuposto, uma hipótese de trabalho, digamos assim. Um desdobramento foi a forma explodida da narrativa, até porque se você não tem clareza sobre os episódios fica difícil um posicionamento crítico em relação a eles, sem cair em certo esquematismo. O grande problema, quando nos referimos ao período militar, é que há duas visões fechadas, antagônicas, uma à direita e outra à esquerda, uma contra e outra a favor do regime. Não nos interessava esse esquematismo, até porque não nos interessava colocar em crise o posicionamento da esquerda ou humanizar certos agentes da direita que foram obrigados a fazer o que fizeram. Tanto de um lado quanto de outro, isso poderia servir como argumentação contra a outra visão. Se você, por exemplo, humaniza os agentes que foram obrigados a agir como torturadores, acaba dando argumento para a outra visão. É redutor isso. Se você aponta as contradições da esquerda, do engajamento e da luta armada, dá argumentos para que o outro lado condene. O que a gente preferiu fazer? Uma vez que os fatos da história foram suprimidos, resolvemos focar os desaparecidos. Só que os desaparecidos são imateriais. Por isso, uma fala do espetáculo diz: “Porque me fizeram desaparecer, desapareço todos os dias”. Eles não são mortos nem vivos.
Rogério Newton: Eu posso dizer que, em última análise, Milagre Brasileiro é um espetáculo sobre a Morte?
Márcio Marciano: Sim. E quando você faz um espetáculo sobre a morte, necessariamente fala sobre a condição do teatro hoje. Citando Heiner Müller, que diz que você precisa desenterrar os mortos para tirar deles aquela parte de futuro que foi enterrada com eles, é um pouco isso o que a gente tenta fazer. A nossa ida aos mortos é uma tentativa de desenterrar o futuro, que, na verdade, é a negação do que estamos vivendo hoje. E é nessa perspectiva que a gente põe a família que aderiu ao golpe (fiquei estarrecido estudando o assunto: pensei que tivesse acontecido uma Marcha da Família com Deus pela Liberdade, mas, do golpe até três meses depois, foram mais de cinquenta pelo Brasil inteiro). Essa família exemplar, pequeno-burguesa, que aderiu ao golpe, também é uma metáfora dessa morte. A morte enquanto cidadãos brasileiros, enquanto possibilidade de resistência...
Rogério Newton: De afirmação de dignidade...?
Márcio Marciano: Exatamente. De criação de uma sociedade mais igualitária etc. Agora, com relação à narrativa, o que a gente faz? Se fôssemos acompanhar a trajetória de um desses desaparecidos políticos, dificilmente evitaríamos a dramatização. Isso não nos interessava.
Rogério Newton: É possível dizer que o espetáculo recusa não a realidade, mas certo tipo de realismo?
Márcio Marciano: A gente recusa o modelo dramático, não só o modelo dramático enquanto narrativa, mas enquanto recepção, o modelo do espectador. Recusamos a possibilidade de dramatização da recepção do espectador. Agora, é absolutamente realista o modo como observamos os acontecimentos do período e os traduzimos em imagens cênicas. Não recusamos o realismo. O que recusamos é a dramatização dos fatos. A gente “desdramatiza” os fatos e coloca tudo numa chave de estranhamento, exatamente para que você se posicione hoje em relação àquele passado.
Rogério Newton: O uso de máscaras é um recurso que acentua esse estranhamento?
Márcio Marciano: Sim. As máscaras aparecem na família “exemplar”, aquela família que aderiu à ordem, e que, de certo modo, no espetáculo, mantém os valores defendidos pela Ditadura. Mas esse estranhamento vai além das máscaras. Estamos dialogando em chave crítica com o Álbum de Família. Se em Nelson Rodrigues há uma família pervertida, do ponto de vista psicanalítico, das perversões, das taras sexuais e tudo o mais; aqui, a perversão é social e política.
Rogério Newton: O fato de Nelson Rodrigues ser um dramaturgo que aderiu ao regime torna esse estranhamento maior?
Márcio Marciano: Sem dúvida. E também é uma figura exemplar do período porque, além de ter desqualificado qualquer luta, ele teve a tragédia de ter um filho que caiu na clandestinidade. A gente não cita só o gênero, a obra, mas a própria vida dele como uma figura emblemática do período. Não queríamos ficar a favor nem contra, porque existem muitas pessoas que foram induzidas a aderir, porque eram inconscientes. O problema é: se você era inconsciente naquela época, como é que você se posiciona hoje, sabendo que o Brasil tem 144 desaparecidos políticos e que o Estado não se manifesta? O Estado chega ao cúmulo de criar uma campanha para que você, como cidadão comum, dê pistas dos desaparecidos políticos. E ao mesmo tempo não abre os arquivos das Forças Armadas, do SNI. Isso é um escárnio! A questão não é como você se posicionava naquela época. Por exemplo, eu vivi aquele período, mas eu era um garoto em formação e estava absolutamente influenciado pela ação ideológica de então. Mas, hoje, como é que eu me posiciono? O que a gente convida o espectador a fazer não é dizer o que estava certo ou errado, mas perguntar como ele se posiciona hoje. Há um Plano Nacional de Direitos Humanos que está virando um monstrengo porque está tentando ajustar todas as incongruências, porque quer fugir dos fatos...
Rogério Newton: Antígona é fiel à família e à consciência individual. Mas o espetáculo é bem corrosivo em relação à família. Uma das diferenças é que a sacralidade, presente na família da tragédia, não existe na família que está no espetáculo?
Márcio Marciano: Não podemos ler as relações familiares da Antígona como lemos na contemporaneidade. Lá existiam os laços de sangue, as linhagens, os clãs, mas havia uma disputa de poder. O que a gente percebeu é que a dimensão trágica do período não cabe no indivíduo, se não criaríamos um herói, e não queríamos um herói trágico. Mas a gente pode fazer um deslocamento semântico e colocar o povo brasileiro no papel de Antígona. Quando, por exemplo, o anúncio do AI-5, que é literal, extraído do próprio decreto, se dá em torno da Antígona, tentamos fazer esse link. É um reposicionamento. Como se Antígona saísse do escanteio e fosse para o círculo central. É como se, naquele momento, o povo fosse colocado no centro. A partir daí, ele tem de se posicionar. A gente lança um olhar corrosivo sobre a família, mas sabe que foi a família que deu guarida para muitos militantes, foi ela que conseguiu fazer com que muitos sobrevivessem. Então é altamente contraditório porque o período foi contraditório. Tentamos ressaltar essas contradições: eu me ponho como um sujeito que me reconheço dentro de um clã familiar, mas quando essa família adere politicamente a uma causa, como é que eu fico em relação a isso? É uma contradição ainda viva hoje. Antígona exerce uma luta de morte, vai até as últimas consequências.
Rogério Newton: A morte, para ela, é uma afirmação de dignidade?
Márcio Marciano: Exato, é a saída...
Rogério Newton: O espetáculo também quer dizer que a morte dos desaparecidos políticos foi uma afirmação de dignidade, talvez a única que pudesse ser exercida por eles naquele momento?
Márcio Marciano: Sem dúvida! O que a gente sugere é: o que aconteceria se o povo naquele momento agisse como Antígona? É esse o futuro que queremos desenterrar.
Rogério Newton: Aí reside a perenidade do mito?
Márcio Marciano: Isso é uma possibilidade de leitura. O que tentamos fazer é aquilo que a Paula estava falando: a gente foi criando camadas de significação e colocando-as em choque.
Rogério Newton: Para o espectador que não tem conhecimento dos fatos históricos aos quais a peça se refere, nem da intertextualidade com Sófocles e Nelson Rodrigues, você acha que é mais difícil para ele decodificar?
Márcio Marciano: Não! Quem sente dificuldade para decodificar é quem está muito habituado aos instrumentos formais do gênero dramático. Quem constituiu a sua sensibilidade artística dentro dos parâmetros do drama tem muita dificuldade, porque eles não admitem, eles lutam o tempo inteiro contra o espetáculo. O público mais popular acompanha porque se estabelece uma narrativa com clareza, sem muitos problemas, e o espetáculo flui de uma forma muito mais tranquila. É uma intuição minha baseada na recepção de algumas pessoas. Por exemplo, o rapaz que trabalha aqui, no Teatro Ariano Suassuna, que é técnico de teatro, fez uma leitura muito clara do que viu, porque não está preocupado em fazer corresponder a sensibilidade dramática dele com a que o espetáculo está mostrando. Quem estuda teatro, principalmente, se sente muito incomodado. Como assim? O que a gente tenta fazer com este espetáculo é o que a gente fez com o Quebra-Quilos. Algumas pessoas achavam que não cairia no gosto popular, mas levamos para públicos populares e eles se divertiram como nunca, coisa que com o público mais habituado a ir ao teatro não aconteceu.
Rogério Newton: Você afirmou que o espetáculo não recusa o realismo, o que ele recusa é um gênero de dramatização. Pode explicar melhor isso?
Márcio Marciano: Eu vou situar como a gente chegou a essa forma, neste espetáculo, em particular. Dentro do grupo, procuramos trabalhar a partir da observação da realidade. Nesse sentido, não recusamos o realismo, embora a gente saiba que não existe a possibilidade de uma totalização da realidade. A gente sabe que há muitas perspectivas sobre a realidade e você procura apreendê-la a partir de um determinado ponto de vista, e esse ponto de vista é sempre muito fragmentário, principalmente hoje, porque a sensibilidade contemporânea está totalmente dilacerada. Então é difícil você ter uma percepção totalizante do que venha a ser a realidade. Não obstante, é possível, sim, você observar o que está acontecendo no dia-a-dia ao seu redor. Isso é a base do trabalho do Alfenim. A observação cotidiana dos acontecimentos que se produzem entre os homens, para ficar nos termos do Brecht. No espetáculo anterior do Alfenim, a gente trabalhava dentro de um contexto, digamos, mais realista na forma, porque era um processo de formação do grupo. Para mim, era importante não experimentar muito do ponto de vista da dramaturgia, porque eu precisava primeiro apresentar para o grupo os procedimentos formais com os quais trabalho, que é uma dramaturgia épica, totalmente diferente de uma dramaturgia dramática, na qual você tem a trajetória do herói, tem os antagonistas, procura sempre gerar uma espécie de identificação com o condutor dessa trajetória e acompanha essa trajetória até o seu desdobramento. Não trabalhamos com a perspectiva do gênero dramático, da progressão linear dos acontecimentos. A nossa perspectiva é épica e dialética. O que significa isso? A progressão dos acontecimentos se dá aos saltos. A gente trabalha com fragmentos...
Rogério Newton: Justaposição?
Márcio Marciano: No caso do Quebra-Quilos, não trabalhamos tanto com o recurso da justaposição, porque isso implicaria uma forma e o Quebra-Quilos tinha, em certo sentido, uma dramaturgia épica mais clássica, mais próxima ao modelo brechtiano, embora já totalmente absorvida pela experiência brasileira, pela nossa sensibilidade, pela forma como a gente se utiliza desses procedimentos formais do Brecht. Já no processo criativo do Milagre, o grupo já estava mais ou menos aclimatado a esse tipo de procedimento, e também à criação colaborativa do espetáculo, porque os atores assumem na sala de ensaio uma perspectiva de dramaturgo e também de encenadores, na medida em que se propõem à organização do material que vão improvisar. O grupo já estava aclimatado a esse modo de produção, digamos assim, mais materialista. Então eu me permiti, como dramaturgo, colocar nesse processo algumas inquietações minhas, numa tentativa de diálogo crítico com a cena contemporânea. Mesmo trabalhando com outros procedimentos - da colagem, da justaposição, da fricção de materiais aparentemente incongruentes -, o modelo ainda é a observação da realidade. A interpretação está baseada nos pressupostos da realidade. Por exemplo, a gente trabalha com ações físicas. É evidente que quando você coloca esse procedimento da atuação do trabalho do ator com uma dramaturgia que não é o diálogo intersubjetivo - que era como o Stanislavski trabalhava com as peças do realismo, com Tchekov e Gorki, por exemplo -, como é uma dramaturgia diferente, é evidente que traz implicações na forma como o ator se coloca na cena. Mas ele tem que criar circunstâncias realistas para se colocar imaginariamente numa determinada situação, ainda que a leitura que se faça dessa situação, dentro da economia do espetáculo, seja diferente daquela de onde ele partiu. Por exemplo: a gente tem uma cena, que é a da “escovação”. O que acontece lá? Você tem quatro vozes e, na verdade, se você observa essas vozes, elas perfazem uma narrativa, só que ela está aberta, é uma narrativa coral, mas diz respeito a uma subjetividade, que é a subjetividade de um sobrevivente à tortura. A situação é cotidiana. Qual é o pressuposto do ator? Eu, militante de esquerda ou sujeito inocente pego por engano, como aconteceu muitas vezes, passei pelo menos três dias sendo torturado, sobrevivi, estou na minha casa sendo assaltado pelos fantasmas torturadores. Isso está aberto em várias vozes. A subjetividade desse sujeito foi violentamente estraçalhada. Aí a gente começa a tentar a forma a partir do conteúdo. Não é porque eu achei formalmente interessante abrir a voz em quatro, não. É porque eu queria fazer com que o público percebesse o estilhaçamento dessa identidade a partir da tortura. A gente chegou a essa forma porque o conteúdo exigia, o assunto exigia. Agora, na cena, o ator é obrigado a se colocar nessa situação imaginariamente para tentar extrair daí o comprometimento psicofísico de quem, enquanto está escovando os dentes, é assaltado pela própria memória, e revive aqueles momentos pelos quais ele passou. Trabalhamos na cisão entre essa subjetividade e o narrador que está explicitando essa subjetividade. É o trabalho do ator-narrador. Ele não só se põe imaginariamente na situação e “vivencia” essa situação imaginária, mas ao mesmo tempo ele tem o recuo para narrar esse acontecimento. Veja que a base para a cena é realista, a organização do material foge ao reconhecimento dramático porque eu não queria colocar, por exemplo, uma pessoa sozinha num banheiro, senão o que aconteceria? Criaria uma identificação com aquela personagem, e a identificação com a dor dela não importa, o que importa é tentar dar forma ao estilhaçamento dessa personagem a partir da violência que ela sofreu. Não sei se a gente chega a isso, mas é a hipótese de trabalho de onde partimos.
Rogério Newton:O uso de ocorrências formais como silêncios, pausas e a própria música estão afinados com o que você acaba de falar?
Márcio Marciano: Especialmente neste espetáculo. Mas isso decorre também do deslocamento que a gente faz do acontecimento. Os acontecimentos nunca são mostrados dramaticamente. Se você pensa em Hegel, naquilo que ele fala sobre o que é o drama, a ação no momento em que está acontecendo, grosso modo, o presente dramático, a ação se desdobrando naquele instante. Fazemos um deslocamento disso: ou posto num passado remoto, ou num passado recente, mas sempre há um deslocamento para que o sujeito que passou pelo acontecimento na hora em que ele mostra esse acontecimento para o espectador, ele sabe o que aconteceu. Ele é o narrador, o sujeito que conhece a história e vai dizer para você, enquanto público, o que aconteceu, e é lógico que ele faz uma seleção, um recorte dessa matéria que ele vai relatar. Por exemplo, numa cena em que a atriz fala: “Mãos poderosas me agarram, me erguem e me jogam contra o fundo de paredes metálicas; estou no ventre da fera que percorre a cidade em passeio clandestino.” “O coração do mal” – uma citação ao Joseph Conrad, no romance Coração das Trevas. O que acontece aí? Não é o presente dramático hegeliano, mas o presente histórico, a atriz está narrando o presente, mas é algo que aconteceu com ela. Esse deslocamento “desdramatiza” o acontecimento para que o espectador não fique preso à emoção do acontecimento e possa refletir sobre as causas e as consequências dele. Isso é historicizar a dor. Conteúdo e forma ocorrem dialeticamente.
Rogério Newton: Daí a pergunta que você fez: de que maneira fazer um morto aparecer no palco, se ele é desaparecido? Como presentificar esse morto?
Márcio Marciano: Exatamente. Me incomoda um pouco uma certa tendência do teatro contemporâneo. Está acontecendo muita coisa no teatro contemporâneo, e uma delas eu poderia chamar, digamos, “perspectiva de uma estética relacional”...
Rogério Newton: Relacionada com os acontecimentos?
Márcio Marciano: Mas do aqui e agora do ato teatral. Por exemplo: você evita qualquer forma de teatralidade a priori, rompe totalmente a fronteira palco e plateia e cria uma interação sem mediações com o espectador. E a experiência que se cria no ato teatral é a experiência política, é a relação do ator que não é um intérprete, é ele mesmo com seu corpo expressivo produzindo um acontecimento de ordem teatral, na presença de um determinado público. A teatralidade não é construída formalmente e previamente pelo espetáculo, ela se dá na relação com o espectador. Existe uma tendência do teatro contemporâneo nessa direção. Outro exemplo: você fala num tom cotidiano de voz, mistura o texto dramático e literário com suas próprias palavras, suspende a ação para falar de si mesmo... Essas imbricações da não-representação... Existe toda uma argumentação, uma teorização dizendo que isso é um caminho político, que é a politização da forma. Seria uma micro-política, mas ela se dá porque gera uma transformação na pessoa com quem se relaciona. Essa coisa me incomoda porque acho que o teatro é uma arte pública, tem a função clara de intervenção na sociedade e debate dos grandes assuntos. Pensando nisso, considerei: é preciso fazer a experiência da aproximação com o público e tirar consequências formais disso para o espetáculo. Daí é que vem a ideia: de um lado, como representar o desaparecido, um sujeito imaterial? Um dos temas recorrentes da dramaturgia contemporânea é a impossibilidade de você constituir uma subjetividade. O sujeito está totalmente fragmentado. A dramaturgia contemporânea usa voz 1, voz 2... De um lado, a gente tinha o desejo de experimentar em que consiste a presença do ator, a forma como ele se relaciona com o público sem a mediação da ficção. Por outro lado, a gente tinha a figura da Antígona e o que ela representa simbolicamente como emblema de resistência à razão do Estado, à lógica perversa em nome da lei. Tínhamos essa figura mítica e começamos a improvisar cenas com ela. Foi um fracasso. A gente viu que não alcançava o pathos trágico da Antígona, embora uma avaliação possível do período histórico brasileiro reconheça um phatos trágico. É um momento de tragédia no Brasil. A gente imaginava que podia atingir essa dimensão trágica por via da Antígona, só que não fomos capazes, não dá. É um fracasso da contemporaneidade: nós somos incapazes de reconstituir o phatos trágico de um herói mítico. Todas as nossas tentativas terminavam em melodrama. Não dá para reproduzir, mas dá para tecer um paralelo entre a tragicidade da Antígona e a tragicidade do povo brasileiro. Aí a gente começou a perceber que colocar em cena o herói trágico não nos interessava, mas era possível colocar em cena um coletivo numa situação trágica. Isso está emblematicamente mostrado através da figura da Antígona, na cena em que ela está no centro e o decreto do AI-5 é dito para ela. Essa cena exemplifica o que buscamos, o teatro na sua tentativa de totalização – quer dizer, a crença maior no teatro –, uma personagem trágica nos dias de hoje e a tentativa de experimentar o contato franco com o público, sem mediações ilusionistas. Aparentemente, são dois extremos. Tivemos que colocar em fricção essas duas perspectivas. Por que isso foi possível? Porque tínhamos como foco um sujeito que não é nem vivo nem morto. Você não pode representar uma personalidade que não se constitui e que, como sujeito, foi subtraída da história. O que a gente tentou fazer? Por exemplo, quando os atores chegam e na primeira cena a Zezita/Antígona fala: “Os mortos não devem acordar entre os vivos”, os atores dizem: “Uma voz falará por mim”. É a primeira tentativa de incorporação do desaparecido no corpo do ator, só que ele está numa relação de “não-teatralização” com o espectador. É uma tentativa. Na cena final, quando a mesma situação é ressignificada, afirmamos que é necessárioao menosum traço que identifique na cena sua natureza ficcional, não se trata do ator “ele mesmo”, mas do ator-narrador, que se utiliza da teatralidade para fazer uma reflexão crítica do que está acontecendo, que é necessário reconstituir a teatralidade. Quando os atores dizem: “Não se aborreça, esse é um rosto banal, pinte nele um traço qualquer”, a gente estabelece ali uma relação de aproximação total com o público porque há, inclusive, um toque físico entre ator e espectador. Essa tentativa surge na cena após um exercício meramente metalinguístico. É um jogo, que possibilita ao ator perguntar: “Quando a história é suprimida, o que resta ao teatro? Narrar-se a si mesmo?”. Para nós, essa é uma questão-chave para o Teatro contemporâneo. Muitas das tentativas que se dizem micro-políticas me parecem exercícios formais em que o teatro está narrando a si mesmo, está voltado para si mesmo e não para a realidade ao seu redor. Por isso, quando eu falo que não recusamos o realismo, é porque o nosso olhar é para a realidade. Como a gente se posiciona frente ao fato de que o Brasil, com um governo de esquerda, historicamente formado, com representantes que sofreram a repressão militar da Ditadura, se omite em relação aos 144 desaparecidos políticos? Eu acho que o teatro, como arte pública, precisa colocar o espectador diante de questões que lhe deem a possibilidade de refletir e criticamente se posicionar. Em nenhum momento, dizemos o que é certo ou o que é errado, quem estava com a razão ou não. Então aí se imbricam as coisas, tanto da nossa perspectiva de falar sobre esse assunto, como da forma que estamos buscando.
Rogério Newton: Um dos recursos formais usados no espetáculo é a repetição, muito utilizado também na literatura, mais na poesia do que na prosa. Isso combate a questão do esquecimento, da memória suprimida?
Márcio Marciano: Do ponto de vista literário, digamos assim, se é um texto dramático clássico, você deveria evitar. Mas estamos trabalhando a repetição como recurso estilístico. Quando a imagem ou a ação verbal é repetida, ela surge numa chave nova. Por exemplo, há falas da Zezita como Antígona que depois aparecem como um jogo metalinguístico com o pai de família. Há também uma citação sobre a tentativa do classicismo francês de se apropriar da poética de Aristóteles e do universo clássico grego. Não chega ao público, que não está nem preocupado com isso, mas sabemos que num determinado momento o teatro no Ocidente tentou assimilar a tragédia grega, cristalizou-a num conjunto de regras e engessou o que tinha de vivo na Grécia. Foi o classicismo francês, só rompido com os iluministas, com Diderot, por exemplo, que num ensaio célebre defende que é necessário voltar aos temas privados. Naquela época, isso tinha uma perspectiva revolucionária. Para nós, hoje, a discussão entre público e privado é fundamental. A cena é emblemática porque o mesmo ator que está exercendo o papel do Creonte num exercício metalinguístico com as falas em francês é o pai da família burguesa, que, em tese, marchou com Deus pela Liberdade. Esse pai de família é o mesmo que aparece publicamente para fazer o discurso em nome da segurança nacional. Ele é cambiante. Ao mesmo tempo em que se desmascara, chega para o filho e fala: “Eu tentei me arrepender dos meus atos, em vão”. Estamos lidando com uma fronteira muito tênue entre o público e o privado. A questão dos desaparecidos para os entes familiares e amigos é uma questão privada, mas, para nós, brasileiros, é uma questão pública. Por isso, enquanto um ator afirma no final da peça: “Minha identidade diz respeito aos meus: um gesto, uma foto no álbum, um beijo na testa”. Outro ator se contrapõe e diz: “Mas a minha condição (de desaparecido político) é pública. Um número impresso. Sou o buraco no crânio da consciência nacional”. Essa imbricação entre público e privado também remete à discussão: o teatro é uma arte pública que deve discutir criticamente os temas que mexem com a vida material da sociedade, ou uma arte privada, afeita ao intercâmbio sensível das subjetividades? Em que âmbito o teatro deve se inscrever enquanto forma e ação política?
Rogério Newton: Parece que o espetáculo possui mais de um discurso, como se fosse um discurso sobreposto ao outro, melodia sobre melodia, que remete ao conceito de contraponto em música. Mesmo Antígona, que é uma personagem definida como trágica, mas na peça é cambiante, parece que é pura memória. É a memória quem está falando. Parece que a memória é o grande narrador da peça toda.
Márcio Marciano: Essa é uma leitura interessante: a memória como narradora de sua própria negação. A gente procura sempre trabalhar na contramão. Como procedimento formal, sempre pensar a cena dialeticamente. Se transformássemos a Antígona numa figura monolítica e trágica, ela perderia a força. No Milagre, a personagem abre a peça dizendo: “Vão embora, eu prometo ficar quieta”, mas ela vai fazer exatamente o contrário ao longo da peça inteira. Aquele ator que diz: “Eu, por exemplo, não sou ator, sou eu mesmo”, seguindo aquela tendência do teatro contemporâneo sobre a qual conversamos, é nítido que é o narrador ambíguo machadiano. Ele fala coisas absolutamente razoáveis, mas totalmente suspeitas nas circunstâncias em que fala. O tempo todo estamos fazendo esse jogo. Os discursos se sobrepõem como negação e síntese. A Antígona no começo diz: “Vão embora, porque aqui não tem nada, só a morte”...
Rogério Newton: Nesse momento, ela dá uma chave?
Márcio Marciano: Sim, mas isso serve para lembrar o exemplo dos grandes modelos, os modelos clássicos. Por isso dialogamos com dois clássicos: Sófocles e a dramaturgia moderna, o Brecht, que em 1948 reescreveu Antígona para falar de um momento de terra arrasada na Alemanha. A gente está tratando na peça do que aconteceu no Brasil vinte anos depois, em 1968.
Rogério Newton: Brecht é uma referência não só para este espetáculo, mas para o Coletivo de Teatro Alfenim como um todo?
Márcio Marciano: Sim, e isso vem como consequência da minha trajetória na Companhia do Latão. Foram dez anos estudando Brecht. Chegamos a criar um espetáculo, o Ensaio sobre o Latão a partir de seus estudos teóricos, reunidos no livro A compra do latão. Daí surgiu o nome da companhia. Montamos também Santa Joana dos Matadouros, um clássico da dramaturgia brechtiana, que põe em cena a “luta de classes”. Além da relação com o Brecht, estudamos Heiner Müller. Penso que Milagre Brasileiro dialoga com a obra de Müller. Em São Paulo, tivemos a sorte de trabalhar com Hans-Ties Lehmann, um dos grandes teóricos do teatro contemporâneo na Europa. Ele esteve no Brasil a convite do Instituo Goethe, e trabalhou uma semana conosco numa oficina sobre Heiner Müller. O nosso acordo com o Instituto Goethe era fazer uma leitura encenada de entrevistas e escritos de Müller, que acabou se transformando no espetáculo Equívocos Colecionados, título emprestado da obra que reúne os artigos e entrevistas dele, lançado na Alemanha no ano em que fizemos o espetáculo. Lehmann tem dois livros publicados no Brasil: Escritura Política no Texto Teatral e Teatro Pós-Dramático. Ele criou esse conceito “guarda-chuva”, o “pós-dramático”, que procura apreender num mesmo campo conceitual, identificando certas características comuns, as mais diversas experiências no âmbito da dramaturgia e da encenação desde o pós-guerra até hoje. A tese dele é a seguinte: você tem a crise do drama no final do século XIX, e os grandes exemplos dessa crise são dramaturgias como a do Ibsen, do Tchekhov etc, que já não comportando na forma dramática “fechada” os assuntos da modernidade, foram obrigadas a lançar mão de recursos epicizantes. Segundo o Lehmann, a tentativa de Brecht de romper com o teatro dramático não se realiza totalmente. Embora sua poética retome procedimentos dramatúrgicos de um teatro anterior ao drama burguês, o teatro épico, com vistas à proposição de um teatro dialético, sua perspectiva ainda é a do sujeito autônomo, que se constitui enquanto personagem dentro de parâmetros dramáticos. É evidente que Brecht põe em crise essa perspectiva, através de uma série de recursos altamente dialetizantes: não tem progressão linear e dramática, tudo é muito contraditório o tempo todo. Nesse sentido, para Lehmann, Brecht seria uma espécie de último dramático, apesar de que, em seus experimentos finais, como o Fatzer, despontam procedimentos formais pós-dramáticos. Não é à toa que Müller é considerado seu “continuador”, embora preferisse dizer que era um “traidor”. Em suma, Lehmann diz que a partir de Brecht, dos anos 50 em diante, são inúmeras as tentativas de um teatro pós-dramático, uma vez que a forma dramática já não serve aos conteúdos da contemporaneidade. Surge uma forma estranhada – o Beckett, por exemplo, e todas as tentativas da performance. Esse conceito de “teatro pós-dramático” está muito em voga no Brasil hoje, como esteve na Europa há alguns anos. Fala-se muito desse teatro de narrativa explodida, sem sujeito propriamente dito. Não há mais espaço para a personagem clássica numa ação realista, com perfil psicológico claro. Para mim, era importante retomar o caminho proposto por Lehmann e iniciado com a experiência do Equívocos. O Milagre procura dialogar com o Lehmann, até para discordar dele. Eu ainda acho que o que ele define como espaço de atuação política no teatro, uma espécie de estética relacional, onde são apagadas as fronteiras entre a cena e a recepção, talvez tenha mais a ver com a experiência histórica europeia, que passou pelo trauma da Segunda Guerra, pela tentativa de construção do Socialismo, pela Guerra Fria, pelo projeto da Social Democracia. Lá na Europa talvez tenha um sentido que eu desconheço. No Brasil, o sentido é completamente outro. Eu acredito que o Brasil ainda precisa aprender com o Brecht a produzir um teatro popular de desvelamento dos mecanismos de dominação ideológica. Talvez Milagre Brasileiro seja um experimento mais formal dentro de nosso projeto de formação de um público mais crítico e interessado nos assuntos brasileiros, por isso sentimos a necessidade de retomar agora uma dramaturgia mais clássica. O próximo espetáculo do grupo pretende ser uma comédia.
Rogério Newton: Voltando ao aspecto histórico: na sua opinião, houve falhas trágicas por parte dos desaparecidos?
Márcio Marciano: Eu penso que, historicamente, sim. Quando a gente fala de desaparecidos políticos, esquecemos que eles têm uma condição comum, mas trajetórias, perspectivas e formas de combate à Ditadura muito diferenciadas. Por exemplo: a forma como o Frei Tito lutou contra a Ditadura é completamente diferente da forma do Marighela. O primeiro foi assassinado, o segundo se suicidou, mas de qualquer modo ambos foram eliminados na luta contra a Ditadura. E assim como esses que a gente sabe o nome, conhece quem são, existem outros, anônimos, que sofreram a mesma violência. Os “desaparecidos” têm essa condição em comum, mas a origem, a forma de militância, o modo como tentaram articular uma alternativa ao regime ditatorial e, mais do que isso, uma alternativa socialista revolucionária, são de perspectivas muito distintas. O que os unifica é a condição de terem o mesmo inimigo, de terem sofrido violência semelhante e de terem sido desaparecidos. As “falhas trágicas” dessas várias perspectivas também são diferentes. Existem autores que fazem a autocrítica da militância de esquerda, do Partido Comunista, que esteve à frente dos focos de resistência que surgiram no Araguaia, por exemplo. Há toda uma literatura à esquerda, fazendo uma reflexão sobre acertos e erros. A leitura que muitos fizeram do Brasil naquele momento histórico era completamente diferente do que tinha acontecido em Cuba, anos antes. Os adeptos do “foquismo”, que era a idéia da revolução começar no campo, num espaço isolado e de lá se disseminar com a educação das massas em direção às cidades, pode ser considerada uma “falha trágica”, porque, historicamente, se provou que essa não era uma alternativa possível. Há várias “falhas trágicas”, mas, a meu ver, a maior, que nós, como brasileiros, temos de enfrentar é a falha trágica de, enquanto povo, não reagir. Essa foi a falha dos partidos de esquerda, do cidadão esclarecido, dos intelectuais... Muitos tentaram combater e pagaram o preço. Muitos se omitiram, porque as condições não eram favoráveis, ou hesitaram, e essa hesitação foi trágica para a nacionalidade brasileira. Se há alguma coisa que nos une enquanto brasileiros são essas falhas trágicas. E uma delas é a de não reagir ao monstro que se criou. Muita gente achava, gente de bem, que a intervenção dos militares seria passageira, que a Ditadura não se estenderia ao ponto de transformar a tortura em política de Estado. Entre o fantasma de uma república anarco-sindicalista ou do comunismo e o fantasma de um regime transitório, porém rígido, muita gente preferiu sair em marcha com Deus pela Liberdade. É uma falha trágica nossa. A gente tem de pôr as barbas de molho enquanto brasileiros.
Rogério Newton: No período ditatorial pós-64, muitos opositores ao regime foram perseguidos, torturados, mortos. Em Antígona, Creonte, que encarna o Estado, sofre amargamente quando percebe sua falha trágica. Mas, no caso do Estado brasileiro, você acha que houve punição?
Márcio Marciano: Não me parece que o Estado brasileiro tenha a humildade e a dignidade de reconhecer sua falha trágica. Do nosso ponto de vista, que é o mesmo de quem sofreu a opressão, eu penso que estamos vivendo no Brasil, hoje, a punição dessa falha trágica: o modelo de concentração da renda se desenvolveu como nunca durante o “milagre econômico”. A gente sente a decorrência trágica disso hoje. Nesse sentido, podemos dizer que estamos expiando a falha trágica enquanto povo brasileiro. Se você faz um estudo do “milagre econômico”, percebe que o Brasil cresceu como nunca, mas a concentração da renda no País foi assustadora. E de lá para cá, tem se mantido em patamares criminosos, inclusive agora, na estabilização econômica. No ano passado, com a crise financeira internacional, o número de milionários brasileiros triplicou. Então esse modelo de concentração de renda, eu considero uma falha trágica, no momento em que havia no Brasil um horizonte histórico, uma possibilidade real de uma outra forma de organização social. Nesse sentido, como marxista, como alguém de esquerda, acho que o Brasil amarga a punição dos deuses por ter cometido a falha trágica de não ter reagido e não ter ido para uma guerra civil. Eu era uma criança, e talvez se fosse um adulto, não sei se me engajaria, não posso especular sobre isso. Do ponto de vista das Forças Armadas, eu acho que a falha trágica foi a luta intestina que havia entre os militares. Havia uma ala nacionalista dentro das Forças Armadas, havia muitos militares que simpatizavam com as propostas da esquerda, que pensavam num projeto nacional. Isso não os exime da responsabilidade de serem coniventes com a tortura. Não gosto de especular sobre essas falhas trágicas, sei que elas aconteceram porque havia uma luta de morte no seio das Forças Armadas, que fizeram o que seria provisório transformar-se numa ditadura de mais de vinte anos. As Forças Armadas, num certo sentido, amargam hoje também a punição dos deuses por ter deixado transformar essa situação provisória em permanente. É lógico que, na origem, talvez houvesse por parte das Forças Armadas uma preocupação legítima, dentro da perspectiva deles, de salvar o país do comunismo. Isso se perdeu. Historicamente, houve falhas de ambos os lados. Mas nada justifica a barbaridade da tortura.
Rogério Newton: A única vez que um personagem militar, caracterizado como tal, aparece na peça, é fora do contexto da tortura. Ele aparece num contexto familiar, de sexualidade. Além de poder sugerir que a repressão tem ramificações, há aí nessa escolha uma intenção de escapar aos esquematismos?
Márcio Marciano: É uma situação privada, mas ele está no limiar entre o público e o privado. Ele está servindo de mediador da iniciação sexual do filho do “pai de família”, num prostíbulo. O pai pergunta: “O serviço é sigiloso?”. O militar está levando o filho do amigo, que é delator, para que seja iniciado sexualmente pela Madame Ronsard. Aí os universos público-privado se encontram. Os militares também eram pais de família e muitos militares também achavam que estavam cumprindo com seu dever. É lógico que a gente não queria colocar o militar numa situação de tortura porque seria cair no esquematismo. Por outro lado, não queríamos humanizar esse militar, porque seria dar argumento para justificar o que condenamos. Numa situação extrema, não sei qual a capacidade de negociação com o problema. Se você, como cidadão comum, é obrigado a fazer certas coisas, qual é o seu limite? Você é obrigado a fazer um interrogatório e usar de violência? Qual o seu limite como cidadão e como ser humano? É lógico que a coisa descamba na patologia. Isso não dá nem para especular, mas acho que havia quem fizesse aquilo por sadismo e havia aqueles que se penitenciavam em casa, depois que saíam de uma sessão de tortura, porque tinham medo de se recusar, tinham medo de morrer e das consequências que podiam acontecer aos seus familiares. É algo como acontece hoje quando alguém começa - e nunca é inocentemente -, sem medir as consequências, a não ser as consequências imediatas do favorecimento (acho que todos os militares passaram por isso), a perceber quais são os dividendos imediatos decorrentes do “meter a mão na merda”. Depois de “meter a mão na merda”, eles queriam sair e acho que muitos não puderam. Assim como hoje muita gente se envolve com tráfico, que é outra situação extrema, e não tem volta. Humanizar essa personagem não contribui para a produção de um olhar crítico sobre esses acontecimentos. Embora seja possível a leitura que desloca a questão da tortura para outros campos simbólicos, isso não é prioritário. Na passagem da Antígona para a figura da Madame Ronsard, a gente põe o mito em cima do pedestal e o desconstrói, porque é a única forma que encontramos de aproximar o mito da nossa realidade. É a cena da iniciação da personagem mítica Antígona no plano dos vivos, e se dá pela desconstrução dela, que se reconfigura como prostituta. Isso também abre novas possibilidades de leitura, inclusive, como personagem-emblema do teatro, uma leitura sobre a possível prostituição do teatro. Nesse sentido, a cena em que Antígona é desconstruída é uma cena de tortura.
Rogério Newton: Você falou “prostituição do teatro”..., mas em que sentido?
Márcio Marciano: Estamos tentando problematizar a função do teatro nos dias de hoje. Por exemplo, há na peça uma contraposição: num extremo, esboços de uma tentativa fracassada de não-representação, de contágio da experiência direta com o espectador; no outro, a figura emblemática do teatro paraibano, Zezita Matos, com cinquenta anos de palco, num papel clássico. Isso já está carregado de significação. É entre esses extremos que o espetáculo se edifica. A certa altura, a figura mítica é colocada num pedestal e é desconstruída. É uma tentativa de dialetização desses dois extremos. Eles vêm como negação um do outro para fazer a síntese, que é o Milagre como um todo. É também uma cena de tortura, assim como a cena em que as meninas fazem a crucificação. O emblema maior da tortura no Ocidente é a cruz. Os romanos nem puniam a si próprios porque era um suplício tão cruel, destinado só aos estrangeiros. A ideia de colocar as meninas, num ato de inocência, crucificando sua boneca, está naquela perspectiva de descondicionamento da percepção do espectador. Quando a gente põe uma família sentada em pose, num universo privado, desenvolvendo um teatrinho, são formas de descondicionamento do que significa a família hoje, de seus valores atuais. Enfim, estamos sempre trabalhando com a família nessa perspectiva do descondicionamento do olhar. Tudo aquilo que é familiar, a gente distancia e imprime um estranhamento. Decidimos tratar o tema da tortura indiretamente, a partir de relatos de quem sofreu ou de quem está se preparando para um ato extremo, a ação armada ou o suicídio. Mesmo na cena da Zezita/Antígona sendo desconstruída, o texto que vem em seguida é: “No primeiro dia, o horror esbugalhou teus olhos”. A fala dá conta da chegada da morte que vai se aproximando lentamente, até o limite de restar ao indivíduo somente uma alternativa, o gesto final: pôr fim à própria vida. Isso foi inspirado no depoimento do Frei Tito, que dizia estar com a cabeça povoada de fantasmas, tanto dos torturados como dos torturadores. A única forma que ele tinha de matar esses fantasmas era dando cabo da própria vida. Procuramos tratar o tema da tortura indiretamente nesses relatos e na tentativa fracassada do ator de incorporar o desaparecido político. Partituras físicas aparecem no início como expressão dessa incorporação: “Uma voz falará por mim”. E no final, quando os atores solicitam do público que pinte em seus rostos “um traço qualquer”, um mínimo indício que afirme a necessidade de se manter através da mediação da teatralidade o espaço para a reflexão crítica sobre a vilania da tortura. O tema da tortura também perpassa o universo mais ficcional, fabular, digamos assim, que é o universo da família. A cena da crucificação ou a cena em que a própria Madame Ronsard conta uma história para o menino na iniciação sexual dele, fazendo-o rastejar no chão para comer. Tentamos trabalhar nuances da tortura nos relacionamentos familiares, fora do âmbito público e político daquele momento.
Rogério Newton: Há talvez uma crítica aos intelectuais de esquerda. Aquele personagem que é iniciado sexualmente é um leitor voraz, mas incorpora uma sexualidade repressora...
Márcio Marciano: E Madame Ronsard conta uma historinha para ele: “Era uma vez uma criança em tudo semelhante aos pais, os mesmos vícios, as mesmas crenças, a mesma voracidade”. O pai fala: “Anda metido com poesia, alucinógenos e projetos de vida alternativa”. É uma crítica bem humorada da esquerda que “desbundou” nos anos 80, leitora voraz da literatura dita engajada e alternativa.
Rogério Newton: A cena final é uma das mais marcantes do espetáculo. Há ali uma celebração do teatro, restituindo a categoria de sacralidade?
Márcio Marciano: Aquela cena sintetiza duas leituras: nós precisamos enterrar nossos mortos, mas nós não podemos enterrar nossos mortos. De um lado, nós precisamos dar honras fúnebres aos nossos mortos...
Rogério Newton: Fazer o que foi negado historicamente...
Márcio Marciano: Fazer o que foi negado historicamente, oferecer a nós, brasileiros, e aos entes familiares a possibilidade de enterrar os próprios mortos. Nós necessitamos dessa vinculação com o transcendente que está impressa nesse rito. Isso significa que o teatro tem também esse poder de relação com o transcendente. Ao mesmo tempo, nós não podemos enterrar esse passado. Não podemos jogar uma pá de cal em cima. É ambíguo porque nós precisamos enterrar nossos mortos, mas nós não podemos deixar que nossos mortos sejam enterrados, sejam esquecidos, sejam eliminados. Essa parte da história tem que ser recontada, reescrita.
Rogério Newton: Você falou que não podia terminar o espetáculo com um final confortante, tinha que deixar um problema para o espectador, e o problema foi a narração de um jogo do Brasil na Copa de 70.
Márcio Marciano: Não podia! Imagine: muita gente celebrou a vitória da seleção e a própria esquerda também, enquanto o regime se aproveitava da Copa do Mundo para legitimar a barbaridade. Mas está no sangue da gente, é cultural, o brasileiro vai se esgoelar na próxima Copa do Mundo. É uma contradição nossa. Eu duvido que alguém, por ser de esquerda, vai virar as costas para a seleção brasileira, mesmo sabendo de tudo que aconteceu e do absurdo que é o espetáculo mercadológico hoje. Quando, no final da peça, você ouve a narração daquele jogo, se você era da época, pode dizer: “Pô! Não é que ouvi esse jogo, vi essas imagens, e estou vendo aqui esses cartazes com figuras de pessoas comuns, tratadas como terroristas, e eliminadas com a maior brutalidade e, ainda por cima, pedindo singelamente que as denuncie! Eu vou denunciar? O que vou fazer em relação a isso?” Quem não viveu naquela época, como se coloca? Há um problema da nossa história: será que eu tenho que fechar os olhos? Convidamos o público a refletir sobre esse problema. O espectador não sai confortado, ele sai com essa contradição...
Rogério Newton: Sendo convocado à ação?
Márcio Marciano: A gente começa dialeticamente convocando o espectador para uma ação negativa: denuncie, seja delator! Quando você entra no teatro, vê os cartazes: “Terroristas”. Por quê? Fazemos um teatro de resistência. A gente convoca o espectador, de imediato, para uma ação negativa. Quando ele chega ao palco, Zezita/Antígona convida-o a ir embora: “Os mortos não devem acordar entre os vivos.”É como se ela dissesse: “Estou te dando uma chance. Quer ficar? Tem um preço.” Qual o alcance que o teatro tem hoje? É um alcance muito limitado. Tentamos no plano simbólico estabelecer algum tipo de resistência, pelo menos contribuir para que haja uma interpretação crítica sobre o que está acontecendo no País hoje. A manipulação que estão fazendo dos desaparecidos políticos é um problema que diz respeito a todo brasileiro. Precisamos nos posicionar frente a esta questão.
João Pessoa, março de 2010.