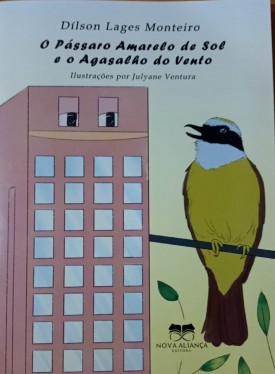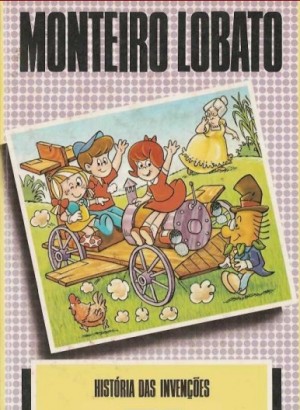Entrevista
Em: 07/07/2014, às 18H56
Ivan Junqueira (1934) é nome já largamente conhecido em todo o país, em especial como tradutor da obra de autores como Charles Baudelaire e T. S. Eliot. Igualmente poeta e ensaísta, com extensa bibliografia nas duas áreas, foi presidente da Academia Brasileira de Letras e nos anos 90 dirigiu a revista Piracema, da Funarte, uma das mais consistentes revistas de cultura deste país. Recuperamos aqui para os leitores do DC Ilustrado um diálogo entre Ivan Junqueira e nosso colaborador, Floriano Martins, realizado em 1998.
FLORIANO MARTINS: Transgredir a linguagem significa postular um universo verbal capaz de fundamentar uma linguagem outra. Paixão absoluta (entrega vertiginosa) e também crítica da realidade (exercício permanente de lucidez), a poesia ambiciona a linguagem que integre homem e mundo. Sente-se, a exemplo de Blake e Girondo, o criador de uma linguagem? O que ambiciona sua poesia?
IVAN JUNQUEIRA: Penso que, em certo sentido, qualquer poeta autêntico, por menor que seja, sempre cria uma linguagem, ainda que não a transgrida, ou melhor, não transgrida o sistema da língua. E cabe aqui uma observação de José Guilherme Merquior a que sempre recorro nos casos em que a transgressão dessa linguagem conduz apenas ao metaludismo, como ocorre, por exemplo, com a poesia concreta. Diz Merquior, com muita argúcia e lucidez, que “a literatura, à diferença das outras artes, tem por matéria-prima não uma realidade a que, eventualmente, se empreste um sentido simbólico […] mas sim uma realidade que já é, em si mesma, um sistema simbólico: a linguagem”. Esse mesmo impasse foi denunciado por Antônio Houaiss quando, ao comentar os riscos da aventura concretista, assinalou que os integrantes dessa corrente haviam reduzido a palavra a um “signo cadavericamente linguístico”, pois o despojaram de toda a sua carga semântica e, o que é pior, de todas as suas articulações contextuais dentro do discurso. Quando um poeta como Dylan Thomas, por exemplo, se insurge contra a linguagem convencional, cumpre observar que não o faz com o objetivo de destruir o sistema da língua inglesa, mas apenas de transgredir a linguagem sempre que esse sistema, por sua rigidez e passividade, põe em risco o vigor e a legitimidade da expressão poética. Em suma, Thomas em nenhum momento destrói a língua: simplesmente tenta transcender os limites racionais do sistema linguístico. Daí, talvez, o hermetismo de sua retórica, que não constitui nenhum maneirismo, como chegaram a supor alguns, mas sim uma necessidade expressiva. E foi isso o que fizeram quase todos os grandes poetas, sobretudo aqueles a que Pound chama de “inventores”, embora tal conceito implique um verdadeiro cortejo de contradições. Por outro lado, cabe registrar aqui que não se pode, a todo instante, tentar uma reinvenção da língua. Ao analisar as propostas “revolucionárias” de Milton com relação à língua inglesa, Eliot situou com muita lucidez esse problema. Diz ele em De poesia e poetas: “Se cada geração de poetas assumisse o compromisso de atualizar a dicção poética relativamente à linguagem falada, a poesia fracassaria no que se refere a um de seus mais importantes deveres. É que a poesia deveria não apenas ajudar a purificar a língua da época, mas também a evitar que ela se transforme muito rapidamente: um desenvolvimento demasiado rápido da língua poderia constituir um desenvolvimento no sentido de uma gradual deterioração, e é esse o risco que corremos hoje em dia”. Apesar de todas essas ressalvas e reservas, que julgo de todo cabíveis, considero que minha poesia, pelo menos até onde modestamente o pretendi, instaura uma linguagem nova, nova porque minha, e minha porque se valeu das experiências e conquistas de todos aqueles que me antecederam. É por isso que, ao contrário do que postula Pound, não basta “make it new”: é preciso também, em certa medida, “make it old”, pois não há modernidade se não se recorre à lição do passado.
FM:Em entrevista que fiz ao crítico espanhol Jorge Rodríguez Padrón, ele salienta que um dos aspectos mais essenciais da crítica é o de alertar sobre os limites a que pode haver chegado determinada produção literária. “Território de comunhão, de encontro e de reconhecimento comum”, assim conclui Padrón suas reflexões. Qual lhe parece ser a tarefa básica da crítica literária? Para que serve a crítica?
IJ: A crítica literária, pelo menos como a entendo, é uma forma de criação paralela. Se não o for, não será crítica, mas simples exercício de vivissecção cadavérica. É nesse sentido que a crítica universitária se resume amiúde num desastre e, não raro, em pedantaria erudita. Pode-se, por exemplo, se dispusermos de um mínimo aparato exegético, desmontar qualquer poema peça por peça, assim como se desmonta o mecanismo de um relógio. Mas de que vale tudo isso se, ao fazê-lo, estamos destruindo todas as misteriosas articulações de que vive e se ilumina esse mesmo poema? A tarefa básica da crítica é menos judicativa do que empática. Daí minha repulsa à crítica dita hermenêutica, que, em seu furor analítico, não consegue ir além da franja das palavras. Sempre que posso, aliás, alerto nossos críticos para essa forma arrogante de insânia, isto é, a de quererem se interpor entre o leitor e a obra. E lembro a propósito o grande Dámaso Alonso quando adverte: “Que nada se interponha entre o leitor e a obra!” A crítica deve ser um ato de empatia e compreensão, pois, caso contrário, jamais poderemos entender como se escreveu uma poesia que não é a nossa. E nada supera o prazer de alcançar esse nível de entendimento, sobretudo quando maiores são as diferenças entre a nossa própria obra e a alheia. Posto isto, digo que a crítica serve justamente para consolidar aquele “território de comunhão, de encontro e de reconhecimento comum” a que se refere Padrón. É preciso acabar, de uma vez por todas, com essa falsa e lamentável noção de que a crítica deve demolir o que supostamente não presta, mesmo porque o que não presta, se não presta, já está previamente demolido. É bem de ver que a função da crítica não se resume à judicatura hermenêutica do que é bom ou do que é ruim, e cumpre aqui lembrar que, em matéria de gosto estético, as apreciações valorativas variam muito de leitor para leitor e, o que é mais grave, de crítico para crítico. Isto não quer dizer, todavia, que o crítico deve eximir-se quanto à denúncia das chamadas fraudes literárias ou de certas glórias que se edificam à sombra sabe-se lá de que juízos subjetivos ou efêmeras circunstâncias. É nesse sentido que endosso um crítico como Wilson Martins quando investe contra o sucesso literário de escritores como Jorge Amado ou o alcance filosófico de “pensadores” como Alceu Amoroso Lima, dois monstruosos equívocos de nossa literatura. Serve assim a crítica para despertar no leitor o interesse por essa ou aquela obra, mas nunca para induzi-lo a partilhar da opinião do crítico.
FM: Que diálogo secreto mantém sua poesia com a de Eliot, Baudelaire e Dylan Thomas, tendo em conta a intimidade prolongada pelo seu notável exercício tradutório destes poetas? Em tal jogo de espelhos o que poderíamos apontar como traços convergentes?
IJ: Não há dúvida, é claro, de que com todos eles, sobretudo com os dois primeiros, se estabeleceu um longo e proveitoso diálogo secreto. No caso de Eliot e de Baudelaire, aliás, esse diálogo já existia muito antes da tradução, pois foram ambos poetas de formação e de eleição. A admiração por Thomas é mais tardia e confesso aqui, sem nenhum pejo, que, à época da tradução de seus poemas, meu conhecimento dos mesmos era apenas fragmentário. Mas Thomas, como Baudelaire, é a própria encarnação daquilo a que poderíamos chamar, como o faz o poeta e ensaísta francês Pierre Emmanuel, de o mito do poeta moderno, daí serem ambos, aliás, tão populares, não obstante a extrema dificuldade de compreensão que envolvem. Thomas foi para mim um desafio maior, pois sua poesia, ao contrário das de Eliot e de Baudelaire, implica consideráveis complexidades que se situam no cerne da língua e no nível da própria leitura. Os traços convergentes, no caso de Thomas, não são tão profundos como nos de Eliot e Baudelaire. Thomas foi um retórico genial, um herdeiro de Blake e Milton, uma espécie de reflexo tardio da “metaphisical poetry” do século XVII. Essa vertente retórica dylaniana compromete um pouco meu diálogo secreto com o poeta galês, pois a poesia que sempre cultivei está intimamente relacionada a uma forte preocupação de austeridade e economia expressivas, em tudo distinta dos ritmos bíblicos e da féerie imagístico-metafórica de Thomas. Mas admiro-o justamente por isso, por ter ele se consagrado a uma poesia que jamais pratiquei. O diálogo com Eliot e Baudelaire é muito mais íntimo, pois envolve práticas e preocupações poéticas que sempre me foram muito caras, como as do intertextualismo, da música de ideias, do rigor formal e do resgate de toda uma tradição que por pouco não se perdeu. E me impressiona muito como conseguiram ambos se manter emocionados dentro de estruturas formais tão rigorosas. Eliot e Baudelaire, tanto quanto Fernando Pessoa, me ensinaram como poucos esse milagre que consiste em fazer com que o pensamento se emocione e a emoção pense, exatamente como o conseguiram Donne e outros poetas metafísicos ingleses. E há em ambos uma preocupação espiritual que sempre me seduziu, além do tácito compromisso que assumiram com o caráter solene e iniciático da poesia, como se vê nos poemas de Hölderlin, Novalis, Jorge Guillén ou Jorge Manrique.
FM: O poeta argentino Nestor Perlongher dizia-se perplexo pelo fato do Brasil contar com uma notável fonte de êxtases, como ele considera o candomblé e, no entanto, seus escritores produzirem obra tão acadêmica, tão árida. Por outro lado, Wright Mills já colocou que “a verdadeira traição dos intelectuais do Ocidente funda-se na burocratização da cultura”. Eu me pergunto até que ponto ambos aspectos encontram-se interligados no tocante à literatura brasileira. Somos, de fato, alheios a esta paixão absoluta a que me refiro logo no início desta nossa conversa, ou temos uma tradição que vem sendo brutal e sistematicamente deformada?
IJ: Antes de mais nada, e já que se pede aqui uma opinião pessoal, devo dizer que manifestações como o candomblé não me induzem a qualquer tipo de êxtase. Toda essa exaltação que se faz de nossa cultura popular, aliás, me enche de enfado e mesmo de irritação, já que essa maneira de colocar as coisas leva ao equívoco de supervalorizar a influência que exerceram a cultura negra e indígena sobre a formação da sociedade brasileira. É bom lembrar aqui que fomos colonizados por europeus, ainda que da pior espécie, e que nossas raízes, como de resto as de toda a América Latina, são europeias: portuguesas, espanholas, francesas, holandesas, alemãs, inglesas. E foram essas tradições, essas ideias e esses valores que nos geraram, nos criaram, nos enriqueceram, até sermos o que hoje somos. O que herdamos no âmbito cultural não nos veio dos guaranis nem dos africanos, mas dos europeus, a começar pela língua, que é portuguesa, e não sem razão toda a América Hispânica fala uma única língua, o castelhano. Caso contrário, nós, brasileiros, estaríamos falando tupi-guarani (como chegou a pretender Oswald de Andrade, aliás) ou qualquer dialeto nagô. Nossos valores culturais são também europeus (e, mais remotamente, latinos), como europeus, em suas trágicas origens, foram também nossos costumes calcados na transigência e na tolerância. E europeia é, ainda, a religião que prevalece no país. Não pretendo aqui negar a influência da cultura negra, mas o fato é que ela se restringe a áreas diminutas de nosso território intelectual. Quanto à influência indígena, praticamente inexiste. Incluir o candomblé como “notável fonte de êxtases” é desconhecer a alma da sociedade brasileira. Por outro lado, ao considerar acadêmica e árida a obra dos escritores brasileiros, como o faz o poeta argentino Nestor Perlongher, equivale a passar um atestado de ignorância com relação a tudo o que aqui se produziu. Serão áridos e acadêmicos escritores como Machado de Assis, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade ou João Cabral de Melo Neto, para citarmos apenas estes? A burocratização da cultura ocorre em qualquer país, em maior ou menor grau, nessa ou naquela época. Não é privilégio nosso. Não acredito que sejamos de modo algum alheios àquela paixão absoluta a que você se refere, mas há entre nós algo que deve ser denunciado: somos uma nação sem paidéia, uma sociedade que, ao considerar a cultura um luxo e seu patrimônio artístico um dado sem importância, perdeu a sua fisionomia e comprometeu sua própria identidade.
FM: Falemos um pouco sobre Oswald de Andrade. Aclamado pelo Concretismo como seu precursor, você a ele se refere como “um autor cuja importância nos parece hoje extremamente controversa”. Quais as contradições com que nos deparamos ao avaliarmos hoje as influências do mito Oswald de Andrade em nossa literatura?
IJ: Não creio que Oswald de Andrade haja alcançado o status de mito em nossa literatura. Sua condição, ao meu ver, é bem mais modesta e subalterna. Não nego as influências que decerto exerceu, não sobre nossa literatura como um todo, mas em determinado momento da poesia modernista, sobretudo através da técnica da fragmentação do discurso ou da ênfase nos aspectos visuais do verso e das imagens. Isso se explica em parte porque, à época do movimento modernista, o cinema começa a ser reconhecido como arte, a sétima arte, e se aceleravam então os processos de comunicação da mídia. Todas as atividades que envolviam a palavra e a imagem, aliás, ganhavam velocidade e concisão. Era a época da síncope, do espasmo, do corte. E Oswald transplantou exemplarmente essas técnicas não apenas para a poesia, mas também – e talvez com maior êxito – para a prosa. Mas sua contribuição ao modernismo – ou, mais precisamente, à modernidade – para por aí. Eu tento uma análise do modernismo numa das seções, “O modernismo e seus herdeiros”, de meu volume de ensaios, O signo e a sibila. Oswald arma-se de revolucionário, mas não passa de um pequeno-burguês conservador, como de resto quase todos os seus pares. Proclama uma antropofagia nacionalista que, a rigor, tangencia as teses fascistas. Condena a importação de modelos que se fazia durante o parnasianismo, mas importa excrescências estéticas do quilate de Marinetti e Tristan Tzara. E aqui cabe este registro: Oswald jamais indicava suas fontes, às quais, é bom lembrar, não ia, o que leva Franklin de Oliveira a observar: “Todo mau poeta é mau pensador”. Foi artesão habilidoso, e só, mas o exibem como poeta notável, o que de modo algum chegou a ser. Foi dramaturgo irremediavelmente datado, e o aclamam como prógono do moderno teatro brasileiro, desse teatro que só se tornou teatro com Nelson Rodrigues. E finalmente se esquecem do melhor que Oswald nos legou como escritor: sua prosa. Oswald, como Mário de Andrade – mas este, além de conhecimento artístico e talento polimórfico, tinha dignidade literária -, foi antes um animador, um “palhaço da burguesia”, como ele próprio se chamou, um bufão bem nutrido e endinheirado que a história, à qual ele e os demais modernistas jamais deram a menor importância, haverá de reduzir às proporções que lhe cabem.
FM: Em um texto crítico acerca do livro O anticrítico, de Augusto de Campos, você toca apenas tangencialmente em uma sua discordância do “ideário estético” do autor em questão, o que deve ser entendido como uma discordância do Concretismo em si. Em que se fundamentaria, de forma mais nítida, tal desacordo?
IJ: São muitas as objeções que se poderiam arguir contra o concretismo. Poder-se-iam aqui, por exemplo, lembrar as 44 (!) objeções que Antônio Houaiss fez ao movimento naquela memorável noite de junho de 1956, no plenário da antiga sede da União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, quando ali se reuniram, para expor seu ideário estético, os líderes concretistas de São Paulo e do Rio de Janeiro, entre os quais os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, Décio Pignatari, Wladimir Dias Pino, Reynaldo Jardim e Ferreira Gullar. Tais objeções foram logo depois publicadas no Diário de Notícias e, quatro anos mais tarde, reunidas em volume (“Sobre poesia concreta”, em Seis poetas e um problema. 1960). Farei aqui, todavia, uma única e fundamental objeção, a que, a rigor, está contida naquela observação de Merquior que transcrevo na primeira de minhas dez respostas a este questionário. Ao despojar o signo linguístico de toda a sua carga semântico-afetiva e privá-lo de suas articulações sintáticas dentro do discurso, o concretismo como que renega a própria história da palavra e, o que é pior, dissolve a sua concreção fonético-morfológica. É por isso que, pelo menos para mim, nada existe de mais abstrato do que um poema concreto. O “signo cadavericamente linguístico” a que se refere Antônio Houaiss corresponderia assim, se me permitem a imagem, a um organismo isolado in vitro, já destituído de todas as suas inervações com o contexto verbal que lhe dá vida e, como tal, o justifica. Os aspectos plásticos e sonoros de uma palavra são apenas duas das infinitas faces do prisma em que consiste o signo poético na trama que ilustra sua vida de relações, relações estas que são também infinitas e, não raro, mágicas. E esse mesmo signo está carregado de valores semânticos, mórficos, plástico-visuais, afetivos e fonético-musicais, valores que só subsistem na medida em que subsiste o consórcio entre as palavras, problema este que foi magistralmente poetizado por Eliot numa das passagens de Little Gidding, o último de seus Four Quartets, quando escreve: “[…] E cada frase / Ou sentença de rigor (onde cada palavra se familiariza, / Assumindo seu posto para suportar as demais, / A palavra sem pompa ou timidez, / Um natural intercâmbio do antigo e do novo, / A palavra correntia, correta e digna, / A palavra essencial e exata, mas sem pedanteria, / O íntegro consórcio de um bailado unívoco) / Cada frase e cada sentença são um fim e um princípio, / Cada poema um epitáfio”. O que mais me intriga nos concretos é a genealogia a que afirmam pertencer seus precursores. De Oswald de Andrade, por exemplo, aproveitam a fragmentação do discurso (não da palavra) e os aspectos visuais do verso. Mas Oswald não se reduz a isso! A poesia mallamairca, que eles tanto invocam, é, como toda grande poesia, profundamente emocionada e sintaticamente coesa, e o que se observa no paideuma poundiano nada recorda os procedimentos concretistas, e sim a técnica do mosaico intertextual a que tanto recorreu Eliot, ou aqui mesmo, entre nós, Jorge de Lima, na Invenção de Orfeu. O tão decantado Un coup de dés eqüivale antes, ou tão-somente, a uma situação limite da poesia de Mallarmé, exatamente como o foram os Petits poèmes en prose, de Baudelaire, já que tais poetas haviam esgotado, ao longo de uma experiência pessoal intransferível, todas as possibilidades que à época lhes oferecia o verso. Em seu desvairado metaludismo, os concretistas desenraizaram a palavra do contexto verbal em que esta interage com outras palavras para alcançar assim, e somente assim, a sua individualidade e, mais ainda, a sua concreção verbal. Por outro lado, o transplante da estrutura ideogramática da escrita chinesa para a nossa língua é o mesmo que pretender implantar o chifre de um rinoceronte na testa de uma girafa. Os concretistas incidem nessa tolice de contrariar – ou mesmo assassinar – a índole da língua, de uma língua que, queiramos ou não, só é nossa por ser portuguesa. O “make it new” da poesia concreta não o faz nem novo nem velho simplesmente porque não faz nada: promove apenas um tumulto babélico no qual se confundem e se atropelam recursos que são específicos de outras técnicas artísticas.
FM: De acordo com Adorno, o Surrealismo, ao recorrer à técnica da montagem como um princípio, anularia então o papel criativo do sujeito, tornando-o passivo. Lembro que Huidobro rejeitava a escritura automática, afirmando: “A poesia é um desafio à razão, pois ela é a super-razão”. Que traços diferenciais poderíamos hoje observar entre o Surrealismo francês e o que se ramificou pela América Latina?
IJ: A observação de Adorno é verdadeira, mas convém ponderar que somente se aplica à prática do Surrealismo enquanto imposição escolástica, enquanto estrita escritura automática, e nesse sentido tem toda razão Huidobro quando afirma que a poesia é a “super-razão”. É isso, aliás, o que Dylan Thomas, cuja primeira poesia revela forte influência surrealista, afirma em seu manifesto poético. O Surrealismo francês, ou seja, o dos discípulos de Breton, Aragon e Éluard, é um Surrealismo de escola, de manifesto. Ocorre que o Surrealismo sempre existiu, e não apenas na poesia. Surrealistas, por exemplo, foram diversos pintores flamengos, a começar por Bosch e pelos Brueghel, tanto o Moço quanto o Velho. E surrealista foi também Isidore-Lucien Ducasse, o conde de Lautréamont, em seus Chants de Maldoror. E isso para citarmos apenas esses poucos exemplos premonitórios. Claro está que o Surrealismo “de programa” se autodevorou, mas aquele que se confunde com o mergulho aos mais profundos estratos do subconsciente sempre existiu e continuará a existir. Aqui mesmo entre nós há poetas que o cultivaram com extrema rentabilidade, como seria o caso, entre outros, de Aníbal Machado, que obteve resultados extraordinários tanto na poesia (Poemas em prosa, ABC das catástrofes e Topografia da insônia) quanto na prosa, como se pode ver em “O piano”, “O desfile dos chapéus” ou “Viagem aos seios de Duília”, que integram as Novelas reunidas, ou em muitas das passagens e episódios de seu romance póstumo, João Ternura. O Surrealismo, por recorrer às realidades e manifestações oníricas que subjazem no inconsciente, foi e será sempre uma poderosa vertente do pensamento poético, pois suas imagens pertencem a uma linguagem metalógica, ou seja, à linguagem que é própria da poesia. O que não se pode é deixar que esse fluxo tenha comando autônomo, como acontece na escrita automática, e aqui voltamos àquela sábia observação de Huidobro. O que diferencia basicamente o Surrealismo francês daquele que se irradiou pela América Latina é que este último não foi programático, e chego mesmo a arriscar aqui que, em suas origens, ele se confunde às vezes com o realismo fantástico, que é fenômeno literário tipicamente latino-americano. Até mesmo um poeta engajado como Pablo Neruda – esse grande mau poeta, como dele diz Juan Ramón Jiménez -, foi, em certo sentido, profundamente surrealista, como o foram alguns outros. É que esses poetas, além do influxo que receberam da literatura francesa que então se escrevia, tiveram um contato muito forte com a literatura de sua própria língua, em particular com a poesia de García Lorca, que, digam o que disserem, jamais renunciou inteiramente às suas fontes surrealistas. E digo, enfim e afinal: enquanto houver incursão ao subconsciente no afã de decifrar os abismos da alma humana, haverá sempre, não um programa, mas uma prática surrealista que se confunde com a busca das raízes da própria vida.
FM:Por último, gostaria de sua opinião em torno de uma afirmação de Octavio Paz no sentido de que “as formas poéticas modernas são demasiado escritas”, apontando como tarefa maior da poesia moderna “reconquistar o terreno perdido que abandonou à prosa”.
IJ: Parece-me que a afirmação de Octavio Paz se destina apenas à má poesia discursiva que ainda hoje se escreve e que, infelizmente, floresce em proporções quase inimagináveis. E essa poesia, é claro, cedeu terreno à prosa. Todas as formas poéticas, e não apenas as modernas, foram sempre “demasiado escritas”, às vezes até demasiado bem escritas, o que não se deve aqui confundir com nenhuma espécie de beletrismo. Mas tem razão o poeta e ensaísta mexicano quando adverte para a deterioração de certas virtudes plásticas e musicais que só o signo poético ostenta, como se tais virtudes, porque esquecidas, estivessem a desmentir aquela tarefa que Mallarmé cometia aos poetas, ou seja, a de “purifier les mots de la tribu”. A afirmação de Paz é, todavia, perigosa, pois, se mal compreendida, poderá levar os poetas em período de formação à prática de certos expedientes que, por não serem específicos da arte poética, correm o risco de receber em suas mãos um tratamento desastroso. A poesia é, afinal, uma escrita, uma sequência de signos que se constelam, volto a dizê-lo, nos termos de uma linguagem metalógica que nada tem a ver com a logicidade analítica que jaz implícita no discurso da prosa. É na medida em que essa linguagem se descaracteriza como veículo de concisão e magia verbais que a poesia parece tornar-se “demasiado escrita”. De minha parte, embora sempre operando dentro do sistema da língua e da linguagem que ela instrumentaliza, busco sempre austeridade e mesmo avarícia, uma vez que, inclusive em altos textos poéticos, há sempre o risco da contaminação pela prosa. Mas se a poesia porventura renunciar um dia à sua condição de código escrito, que os críticos as desliguem do que entendemos por fenômeno literário e criem uma outra categoria capaz de absorvê-la como manifestação do espírito. Talvez uma categoria que, como tantas outras, não signifique coisa alguma. Quem sabe até a da abstração metalúdica em que se debate e agoniza o concretismo?
*Floriano Martins (Ceará, 1957) é poeta, editor, ensaísta e tradutor. Dirige a Agulha Revista de Cultura
www.substantivoplural.com.b