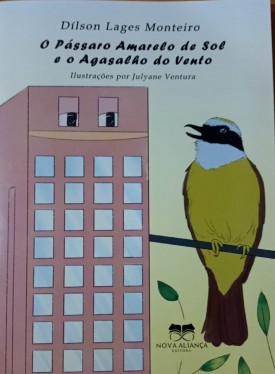Alberto da Costa e Silva ou a retrovisão emocionada
Em: 05/01/2008, às 22H50
Toda a poesia de Alberto da Costa e Silva é uma reflexão sobre “...este rastro sem sentido / que vem ao homem e parte do menino”, como ele mesmo o expressa lapidarmente em “Poema de Aniversário”.
Para o autor de O Tecelão ? livro admirável publicado pela editora “Livros de Portugal” ? há, primeiro, o matinal acontecimento da infância, desencadeado pelo abalo-revelação-do-real e sua prodigiosa seqüência de ineditíssimos êxtases. Depois, na zona antípoda, vamos encontrar o submundo incongruente e detestável onde vigora a falsa ordem adulta, com seu viscoso emaranhado de cavilações, de hipocrisias, trapaças e valores viciados.
Equidistante de ambos, numa espécie de terra-de-ninguém, ergue-se o Poeta, irrecorrivelmente exilado.
O alumbramento, a efusiva desprevenção do Éden na origem, debalde se conseguiriam restabelecer no outro clima tão-só propício ao aviltamento e poluição do ser autêntico. Por sua vez, a complacência com o asqueroso jogo, com as manobras prevalecentes na Feira onde se abastarda o homem, constitui afronta intolerável àquele que em absoluto não prescinde de sua condição de portador, por excelência, da incontaminada alba inaugural.
O poeta ver-se-ia, dessarte, condenado a dilacerar-se entre duas visões antagônicas que poder nenhum sobre a terra lograria fundir. A ser assim, estaria ele de todo impossibilitado de produzir o seu testemunho, não lhe cumprindo outra coisa senão omitir-se. Até mesmo a cunhagem do étimo ? poiein ? que tanto nobilita o seu prestigioso nome não haveria jamais transposto o limbo das virtualidades, pois seria totalmente absurda a irrogação do privilégio de plasmar, criar, a quem, por interdito de depor sobre as suas videnciações ao longo do arrebatador espetáculo, se visse privado da própria matéria-prima com que lhe incumbiria afeiçoar a sua criação. Um cantor de língua paralítica é uma contradição em termos, um grotesco contra-senso. Urge, pois, lançar-se uma ponte sobre o fosso, ou se dissipará o mais remoto sentido do fazer poético.
Alberto da Costa e Silva sobrepuja o dilema mediante o apelo a seu ofício de “tecelão” do verbo: com palavras entrama um passadiço que possibilita o trânsito entre as duas margens, mas, é natural, não nos provê de salvo-conduto algum, restando-nos, apenas, efetuar a travessia como pura aventura, sujeitos a imprevisíveis riscos.
É que a poesia, como expressão, se confunde com um trasunto vicariante da intransferível experiência de cada um de nós e, conquanto goze da singularidade de fazer-nos evocar a vida, não nos devolve jamais ao calor do seu seio nutriz. Enorme distância medeia entre o ter vivido muitos anos numa cidade e o perlustrar a sua planta urbana.
Através do ardil da invenção lírica, é possível restituir à voz humana a sua condição articulada; em face, contudo, da natureza irrecuperável da infância, toda poesia teria que resignar-se a ser elegíaca, um lament for Adonis, tradução final de orfandade.
Ferimos aqui, quase sem querer, um aspecto magno da obra de Alberto da Costa e Silva, quando abordada do ângulo das suas motivações: o tema da Perda do Pai.
A sombra afetiva do seu genitor ? o renomado poeta Antônio Da Costa e Silva ? projeta-se por quase todas as páginas líricas até hoje compostas pelo filho, o que nos traz à mente a impregnação hamletiana da memória paterna. Não se trata, nem de longe, de um entrecruzamento de caminhos inventivos, porquanto os dois escritores, como não poderia deixar de ser, refletem criativamente o mundo de modo bem diverso.
Temos em linha de mira, com a afirmação supra, tão-só o influxo tutelar da reminiscência do Pai, fluida e extremosamente se expandindo no clima poético de Alberto, a configurar-se numa espécie de arquétipo existencial, atuante na base de sua cosmovisão. Insistimos em que esse é um aspecto digno da maior atenção no exame da problemática criadora do jovem mestre de O Tecelão, em momento algum um etertainer sofisticado.
Os traços aflorados antes encontram plena e eloqüente confirmação no extraordinário “As Cousas Simples”, que abre o livro ora alvo de nosso interesse.
A peça é quase toda construída em retrospecto, como emocionada retrovivência do mundo bruxoleante (mas tão cálido ainda!) da infância. O presente é apenas o fragmento de sílex onde o fuzil da reflexão reedita, célere, a centelha do passado.
Tomemos, por exemplo, a ´bicicleta` chagalliana que se desenha logo no início de “As Cousas Simples”. Tudo faz crer que o frágil veículo, talvez cavalgado pelo próprio filho do poeta, seja visualizado no momento atual da gestação do poema. Tal é, porém, o bastante, para suscitar no artista todo um cortejo de relembranças pessoalíssimas, simétricas do episódio presenciado. Transferimo-nos, de chofre, do agora para o ontem remoto, num deslocamento de planos que nos faz, não raro, perder a respiração.
A bicicleta deslizando no mosaico: a pedra,
que o joelho feriu e estância do pranto,
recebe agora os cascos leves
da cabra e do burrico
e o sonho breve
do menino a chorar no velame dos cabelos.
Que peixes como lágrimas na lata com ferrugem
trouxeste da cisterna para a areia?
Conhecias a morte ou tinhas esperança
que florescessem o verde, a rosa e a ametista
de suas carnes frágeis? E, hoje, quando choras,
que sonhas, que rebanhos semeias, e se ris,
que riso de pastor em tua face treme
e logo morre?
Aqueles dois pontos, depois de ´mosaico`, assinalam como que a vertente por onde se despenca o poeta em busca da perdida quadra da inocência. Passa-se da era industrial para a pastoril ? a vida idílica do interior. Troca-se o brinquedo mecânico, de fabricação em série, pela ´cabra` e o ´burrico` de ´cascos leves`, e ´peixinhos`, ´como lágrimas`, colhidos ´na lata com ferrugem`, no fundo da ´cisterna`.
É tão autêntico o sentimento vertido no ofício evocativo, que o poeta chora e exulta, ora toldado o semblante ao sonho de difusos ´rebanhos`, ora a iluminar-se ao ´riso de pastor` que em sua ´face treme e logo morre`.
Sobrevém uma seqüência inesquecível de ressuscitados episódios, triviais eventos da vida de um infante, mas que, na perspectiva do cantor na maturidade, se aureolam de inefável deslumbramento.
Em verdade, a meninice é, para a criança, um período neutro, pois aquilo que, a nós, adultos, se afigura como incontaminado êxtase e fervor é simples efeito da meia-tinta com que o afastamento memorativo esbate as coisas da nossa experiência. Se uma pessoa se conservasse sempre criança, jamais poderia delinear-se na sua mente a idéia de infância. Sem qualquer intuito de paradoxo, é lícito dizer que só fomos essencialmente meninos quando perdemos tal condição. A puerilidade é um estado de espírito.
O encanto da passagem aludida está em que o poeta expressa com tal evanescência e distanciamento os eventos por ele recordados, que estes se nimbam de um quê de mítico, de folclórico quase. É o caso do raconto de um dos seus pavores noturnos, a ilusão de ouvir o ´choro de um enterrado pagão `, ou o agônico sonhar com o pequeno desventurado.
Que terror sonhar com o enterrado
que tecia o pranto sob o chão e a relva!
Chorava nas noites claras, ai, chorava
um encantado pranto, que essas brisas
levavam ao campo e ao canto das meninas.
Chorava um pranto lunar, de grilos no orvalho,
de frio de lima clara, de parido na terra,
e vinhas à janela, rezar por seu silêncio
e dizer um seu nome, baixinho, sobre a vela.
Nunca se louvará em excesso a beleza daquele “...pranto lunar, de grilos no orvalho, / de frio de lima clara,...”. A última exprressão translata é de enorme poder sugestivo e intensa originalidade: ´frio de lima clara`, que achado esplêndido!
Súbito, lampeja no espírito do autor a intuição de que entre o ´enterrado`, a tecer ´o pranto sob o chão e a relva`, e ele, Alberto, no seu degredo inescapável de adulto, há uma identidade subjacente, o que tonaliza de cortante humanidade toda a seqüência em foco. Dirigindo-se a si próprio, diz:
Também em ti chora um infante.
Ausculta o teu coração e sentirás o seu pranto,
saudoso da ramaria, do sol e dos muares.
E, agora, numa invocação ao ´enterrado`:
Ah, menino, protege,
o teu padrinho triste,
enterrado no chão de um outro peito, triste
como um boi a mugir
e o focinho de um cão.
O espaço em branco da página dilata-se numa pausa solene e, ao mesmo tempo , inquietante. O verbo, na concisa forma pretérita, abre, transbordante de confidências, a linha polimétrica que inicia o novo andamento do poema.
Conversávamos,
e a cadeira de vime rangia, enquanto o velho
passava a mão sobre o tempo em seus cabelos.
É o retorno ao motivo dileto da revivescência, pela memória afetiva, lírica, do Pai, agora um ente, dir-se-ia, desprovido de temporalidade, dotado do sortilégio de repensar a vida em termos de sereníssima resignação, de infinita sabedoria.
Esse adagio , todo composto no plano da retrovisão emocionada, é uma das páginas mais poéticas que já lemos em língua portuguesa. Impossibilitado de transcrevê-lo na íntegra, não resistimos à tentação de brindar o leitor com alguns de seus momentos inolvidáveis:
O sol abriu no céu um pasto claro
como se parte na mão uma romã.
***
Entre éguas, açudes e mormaços,
tombaram o mundo e os deuses nos teus braços.
***
E um vento lunar, tropel de pássaros,
rasgou-te a face e te lançou, transido,
na varanda do êxtase.
A tessitura contrapontística do presente e do passado volta a evidenciar-se, não apenas como figuração mental, mas, também, no nível lingüístico, com a simultaneidade, na estrofe, de símbolos ostensivos das duas dimensões:
A bicicleta corria no mosaico
do corte no jardim ( a jaçanã aflita
saltava atrás dos grilos no capim, na base
da flor humílima ).
Enquanto os pés giravam os pedais, violentos,
a leve quilha do sonho empurrava a paisagem
com seus sítios de sombra e as raízes da água.
A superposição, ou melhor, a fusão é perfeita quando o poeta, ao demorar a vista na máquina pedalada diante dele, vê a perdida ´paisagem` ´com seus sítios de sombra e as raízes da água`, lentamente empurrada pela ´quilha do sonho`.
Pouco a pouco as reminiscências acidentais vão rareando até ressair, dominante, o vulto do Pai, único interlocutor imaginário do poeta neste cruciante diálogo consigo mesmo.
São rememorados passeios que se diriam ocorrências em sonhos, vêm à tona espantos do menino na sua gulosa descoberta da vida. Na aura de reverente admiração em que envolve o “velho”, Alberto não ousa, embora rente a ele, mais do que intuir a sua estremecida presença. Afinidades profundas, todavia, os estreitam.
Ele cantava e sonhavas
com tatuagens e faunas
cobrindo as costas e os braços
da estátua de pedra calma.
Não espanta que a perda repentina deste paraíso saturado de afeto haja conduzido o poeta às bordas do desespero, constituindo, decerto, até hoje o principal fator de seu desgosto pelos fantoches adultos, a porfiarem nas trapaças do Mercado e a se esmerar nos derrengues da Corte. Outra coisa não deverá ter ele em mente quando alude a “... este jogo triste / em que a morte são os ases”, bem como às “...fontes que devoram / os sonhos de nossa carne”.
A lancinada criança foi sacudida até as raízes. Algo como um longo desmoronamento interior turvou a sua visão edênica e revelou-lhe, de repente, a solidão:
...................................................................
e agora, sentados, chorando a orfandade,
esquecemos as pontes e a beleza dos lagos.
Diante de nós ficaram apenas a areia e as traves
ruínas do celeiro e as montanhas sem árvores.
Somos herdeiros de uma casa decadente,
cuja madeira apodrece, e as malhadas cabras
vêm tosquiar o pouco do capim que ali cresce.
Feita a tentativa de preenchimento do desmedido vácuo restabeleceu-se o equilíbrio sobre o chão caótico dos valores competitivos do grupo. O triunfo foi total, porquanto a vontade indesviável empolgou a alavanca da engrenagem e fê-la à destinação poética, repôs a vida de Alberto no mesmo leito por onde fluíra a do pai. A convivência, mais do que isso , a consubstancialidade lírica foi, pouco a pouco, plasmando os dois seres numa pessoa única, de tal modo que não se pode mais, a rigor, falar em um só Alberto, ou em um só Antônio, antes um ANTONALBERTO é a criatura nova que emerge dessa comunhão. Até mesmo os traços de um se repetem por sob o talhe fisionômico do outro, reproduzindo, no plano físico, a fusão perfeita operada no plano espiritual.
Eis a última confidência do poeta, a tomar a si mesmo como interlocutor:
Como afagar a tua testa
sem tocar na sua cabeça
antiga e longa, em constante
repouso, ermo e tristeza?
Como aceitar tuas mãos
sem pegar nos dedos magros
que se cruzavam no peito
ou desatavam as amarras
que prendiam os pés das aves
e a ressaca dos cabelos?
Alberto, as mãos de Antônio
não tinham rugas nem pêlos.
Teus olhos estão nos olhos
do velho, a boca na sua,
aquela mesma inocência,
o mesmo amor pelos trastes,
o mesmo corpo recurvo,
o mesmo queixo de quarto-
crescente, a mesma certeza
do gado a mugir no pasto.
Ah, velho! ah, menino! nasce
de um rosto a carne do outro.
Desconhecemos, na moderna poesia brasileira, uma elegias tão carregada de emoção, tão pateticamente bela quanto essa criação impecável. Não se trata, todavia, de um desabafo, de um desbordamento temperamental. A consumada técnica do artista mantém, de ponta a ponta, a torrente de fervor prisioneira de uma construção que, posto rigorosa, ostenta a flexibilidade e o eslance de um animal jovem. A tessitura das rimas internas, os finos acordes das toantes, a sutil orquestração verbal, o primoroso domínio do metro curto, bem como da linha polimétrica, todas essas qualidades virtuosísticas patenteiam-se na fatura modelar de “As Cousas Simples”. O livro inteiro, aliás, penetra-se de um apuro formal raro. O poeta enfrenta galhardamente o desafio da composição sem um único revés.
Só há motivos para louvar-se a inclusão em O Tecelão dos magníficos trabalhos já enfeixados, em 1953, na coletânea O Parque e Outros Poemas, de tiragem limitada, pois, assim, é proporcionada ao leitor nova oportunidade de fruir a beleza de produções como “Elegia”, o magistral “O Aborto” e “O Pátio das Memórias”.
Os amantes do soneto canônico ou do soneto livre encontrarão, igualmente, em O Tecelão, memoráveis realizações do quilate dos sonetos “Voltada sobre o pano a moça borda” e “Cerâmica e tear as mãos trabalham”, “Vera canta” e “Soneto de Natal”.