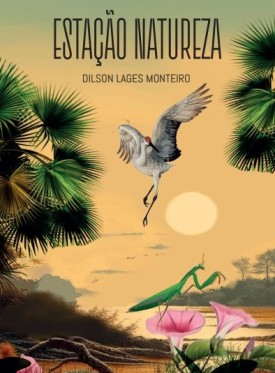Ao ler a notícia da morte por ataque do coração, neste início da semana, em Londres do escritor e roteirista de cinema, Erich Segal, aos 72 anos de idade, também vítima de Mal de Parkinson, recordo com afeto certa noite de setembro de 1971.
Casado desde 1975 com Karen James, o escritor de “Love Story” deixou duas filhas, Francesca, 29, e Miranda, de 20 anos. Nos últimos tempos, foi professor emérito no Wolfson College em Oxford, na Inglaterra. Seu corpo velado de acordo com ritos judaicos foi cremado em Londres.
Em 1971, naquela noite de setembro, fui ao cinema com leitura feita do best-seller: “Love Story – Uma História de Amor”.
Do autor do livro e roteiro do filme, sabia apenas que Segal era professor universitário (lecionava Literatura Clássica em Yale) e fora colaborador do roteiro de “Submarino Amarelo”, o desenho animado baseado nos personagens criados em canções dos Beatles.
Precedido de noticiário farto sobre a versão para cinema, “Love Story” atraiu muita gente aos cinemas. Naquele noite de setembro de 1971 era feriado. O cine Astor, na Avenida Paulista, era então uma luxuosa e ampla sala de exibição, cujo espaço para mais de 1.000 poltronas, é ocupado hoje pela Livraria Cultura.
Havia fila na bilheteria. Aliás, duas filas. A outra era para entrar já com o ingresso na mão. Todos já sabiam da história. Muitos – como eu – haviam lido o livro. A trama era um fiapo de história. Rapaz rico e uma moça pobre filha de imigrantes apaixonam-se.
Alunos da mesma faculdade, ele (Ryan O´Neal) sempre tenso, parecia sob pressão familiar em rota de colisão com o pai (papel do veterano Ray Milland). Como todo pai da época bem autoritário, mas não era o vilão da história. E ela? Bom, a moça (Ally McGraw) era exuberante, falava palavrão, transbordova alegria, adorava os Beatles.
Com o pai a contragosto, ambos se casam. Mas, a felicidade dura pouco. Um câncer vai matar a heroína da história. Lá pelo meio do filme, o rapaz rico dizia uma frase que aparecia no cartaz e se tornou um emblema do filme: “Amar é Nunca Ter Que Pedir Perdão”.
O filme era um melodrama deliberadamente cheio de clichês em plena época de mudança, de afirmação, de enfrentamento, de política, de liberação sexual, da qual se falava muito, mas poucos a praticavam de verdade. Recordo sim com afeto da noite em que fui ver o filme.
Como François Truffaut, sentia-me desconfiado de tal tipo de amor. Amigas comuns confidenciavam lágrimas quando viram “Love Story”. Algumas choraram até mesmo ao ler o livro, cuja capa já estampava o casal de atores do filme.
A regra de Hollywood é clássica: para fisgar o público, existe uma fórmula. Rapaz conhece moça-moça separa-se do rapaz-rapaz batalha o filme inteiro-volta a encontrar a moça-e-fim. Com um beijo final. Essa tapeçaria tão rudimentar era infalível. O que tinha “Love Story” de diferente? A morte da moça.
Naquele começo dos anos 70, “Love Story” subvertia – ou pelo menos parecia subverter – os clichês do cinema. Ao som da trilha sonora composta por Francis Lai, que ganhara fama mundial pelo filme “Um Homem, Uma Mulher”, de 1966.
A música tema de “Love Story” – mesmo instrumental – rolava em todas as rádios. Um sucesso a tal ponto que virou alvo de um processo sob acusação de plágio. O músico italiano Stelvio Cipriani alegou que Lai copiava a linha melódica de “Cosi Come Fai”, o tema principal do filme “Anônimo Veneziano”.
O público pouco se importou e comprou muitos discos de “Love Story”. Virou uma febre popular. Quem considera os filmes atuais “Crepúsculo” e “Lua Nova” o máximo do romantismo devia conferir “Love Story”. É a mesma argamassa do sentimento de jovens apaixonados. Algo poderoso vai impedir que eles sejam felizes. Se hoje é a maldição de vampiro, naquele filme de 1970, o “vampiro” era a leucemia da heroína da história de amor.
Erich Segal foi acusado por criticos da mais variada estirpe de popularesco, escritor menor ou até mesmo oportunista. A maioria não sabia que ele foi um profundo conhecedor dos clássicos gregos e latinos. Se ficou conhecido como professor de Yale, também lecionou em Harvard e Princeton, jóias da coroa dos estudos superiores nos Estados Unidos.
Quando escreveu “Love Story” com simplicidade, seu agente literário temeu pelo pior. Segal era um renomado professor universitário e também um roteirista de filmes de aventura. Aliás, ainda em 1970, um roteiro seu virou filme com Anthony Quinn: “RPM – Revoluções Por Minuto”, baseado nas manifestações estudantis daquela virada de década.
Atente para um detalhe: Segal tinha apenas 32 anos quando escreveu o livro que o tornou milionário. Há uma lenda, segundo a qual, “Love Story” foi baseada em experiências vividas por seus dois amigos e companheiros de quarto no alojamento de alunos da Universidade de Harvard, onde se formou. Eles se tornaram depois famosos: Al Gore, que se tornou vice-presidente dos Estados Unidos, e Tommy Lee Jones, o ator de filmes como “Homens de Preto“.
Aos 42 anos, Erich Segal adoeceu e o diagnóstico foi Mal de Parkinson. Lutou por 30 anos contra essa doença e continuou trabalhando e lecionando. Milionário só com “Love Story”, escreveu a continuação da história do viúvo Oliver. O livro – “A História de Oliver” - vendeu bem, mas o filme não repetiu o sucesso. Ryan O´Neal encontra outra mulher em sua vida: papel de Candice Bergen.
Em 1983, outro romance de Segal seu virou filme: “Um Homem, Uma Mulher, Uma Criança”. Martin Sheen faz o papel de um homem casado com filhos que descobre tardiamente que é pai de um garoto de 10, cuja mãe é aquela com a qual viveu um romance fugaz em Paris. Com a mãe morta, os familiares aproximam o garoto do verdadeiro pai que mora nos Estados Unidos. Uma história emocional, madura e sensível. Um filme pouco visto, inexistente em DVD no Brasil.
Recordo todos esses detalhes da vida de Segal para voltar ao ponto de partida nessa história: o filme “Love Story” que vi no Cine Astor. Saí do filme como entrei. Não me pareceu nada emocionante. A trilha de Francis Lai era uma bela moldura, os atores não fazem feio e o diretor Arthur Hiller – quem era ele mesmo? – cumpriu seu ofício de carpinteiro. Qual a razão desse filme ter emocionado tanto gente?
Fazia essa pergunta ao caminhar nos corredor do Conjunto Nacional, ali no ponto nobre da avenida Paulista do ano de 1971, quando encontro por acaso no meio das pessoas que saíam do filme dois conhecidos meus. Eram colegas de trabalho no mesmo prédio. Ele trabalhava no quarto andar. Ela no segundo andar. Haviam ido juntos ver “Love Story”. Estavam na mesma sessão.
É fácil identificar o olhar de cumplicidade entre os dois. Claro que naquela noite haviam deixado de ser colegas de trabalho. Não seriam mais os mesmos depois daquele filme. Não ficaria surpreso se os visse como namorados no dia seguinte. Diante de mim, nascia ali uma história de amor que poderia ser comum aos olhos dos outros, mas para eles a noite seria memorável.
A princípio pareciam um menino e menina flagrados em algo errado. Reparei que a mão dela afastou-se devagar do ombro do rapaz. Por alguns momentos caminhamos pela galeria. Pegaríamos ônibus diferentes. E pronto cada qual seguiu para suas novas vidas.
Lembro que ela se queixou de brincadeira que o rapaz nunca a pediu em namoro. Por timidez ou por achar que aquilo não era necessário, talvez tenha entendido que a partir daquela noite no cinema estariam juntos. Como todo casal de namorados, tiveram idas e vindas até se perder dos colegas jovens de trabalho. Onde foram parar? Teriam permanecido juntos? Se porventura algum deles ler este blog, poderia dar notícia, caso se lembrem da noite em que viram “Love Story” e se tornaram namorados.
Os olhares de ambos ainda brilham naquela galeria do Conjunto Nacional. Com emoção e afeto. Assim como recordo com afeto da sessão em que vi o filme baseado do livro de Erich Segal e compreendi como as histórias de amor podem ser simples, diretas e desafiadoras.
Tags: amor, desencontro, doença, filhos, morte, romance, sentimento". (FERNANDO ZAMITH)