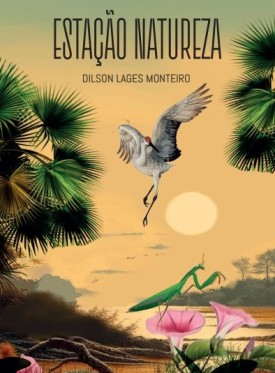A incoerência da vaidade
Em: 05/05/2016, às 13H40

Desidério Murcho - da Universidade Federal de Ouro Preto
Mesmo um observador generoso terá de conceder que muitos comportamentos, opções e atitudes dos seres humanos se devem à vaidade. O próprio termo, contudo, aponta para a razão pela qual não é uma boa ideia ser vaidoso: o seu étimo latino, vanitas, significa vácuo ou vazio. A ideia subjacente é que a vaidade é um vapor que não se condensa perante a fria análise, antes desaparecendo completamente de vista: um pouco como alguém que se dedica de alma e coração a projectos que mais tarde reconhece que não valiam a pena.
Contudo, não parece possível diminuir a vaidade se a ilusão cognitiva que está na sua base não for adequadamente exposta. Na verdade, parecerá até um mero moralismo — ele mesmo vácuo — pregar contra a vaidade: afinal, qual é o problema de ser vaidoso? Efectivamente, a vaidade é uma forte motivação que talvez esteja na base de muitas realizações humanas extraordinárias: cientistas e desportistas, filósofos e artistas, escritores e estadistas, poderão ter como motivação principal a vaidade, e o resultado dessa motivação pode ser grandiosa. Quem sabe quantos deles teriam dedicado tanta energia ao seu trabalho, deixando-nos obras ímpares que nos dão a conhecer importantes aspectos da verdade e do valor?
Contudo, mal se põe as coisas nestes termos, algo de profundamente errado começa a tornar-se visível: a discrepância entre o genuíno valor do que é alcançado e a puerícia da motivação que lhe está na base. Uma pessoa que fica vaidosa por ter descoberto a origem do sistema solar ou o cálculo infinitesimal introduz uma dissonância cognitiva: parece dar mais valor ao que tem menos valor, e dar menos valor ao que tem mais valor. O que tem valor é o que a pessoa fez e não o facto de ter sido ela a fazê-lo, e ainda menos a reacção alheia, real ou imaginária, de admiração por quem o fez. Está longe de ser admirável que uma pessoa se dedique a algo genuinamente de valor tendo como motivação a frivolidade de ser admirado pelos outros.
É defensável que a ilusão cognitiva que poderá estar na base da vaidade é, algo incoerentemente, a humildade epistémica. O nosso conhecimento e as nossas valorizações dependem, na sua maior parte, dos outros. Não apenas na acepção trivial em que só poucas pessoas sabem primitivamente como é o deserto do Saara, por exemplo, sabendo a maior parte apenas secundariamente, por testemunho, mas no sentido mais profundo em que a estrutura da justificação, em quaisquer seres falíveis como nós, depende crucialmente dos outros. Somos todos falíveis, mas a probabilidade de uma crença ser falsa é menor se várias pessoas diferentes a testarem cuidadosamente e concluírem que é verdadeira. Não é, contudo, o número bruto de pessoas que conta, mas o cuidado posto na avaliação: não se decide a plausibilidade por maioria, nem sequer por uma maioria epistemicamente proba, mas quando esta última adopta uma dada crença isso é um indício importante, ainda que não decisivo, da sua verdade.
É defensável que é esta dependência epistémica do que pensam os outros que está na origem da vaidade. O vaidoso encontra-se assim numa posição algo incoerente porque ao mesmo tempo que despreza os outros — e por isso a sua actividade não é generosa e altruísta, visando antes tão-somente o seu próprio (ilusório) engrandecimento — tudo faz para ter o seu reconhecimento. Já que não se dá qualquer atenção generosa ao que os outros precisam, nem se lhes tenta devolver o que de outros recebemos, seria mais coerente não dar qualquer importância ao que pensam de nós, dedicando a nossa atenção exclusivamente ao que nos interessa e realiza.
Não é por um qualquer moralismo provinciano que a vaidade é condenável, mas antes porque envolve inevitavelmente a falsidade. A primeira é a falsidade acerca do que nos dá ou não valor: somos prezáveis ou desprezáveis sobretudo em função de acrescentarmos valor ou desvalor ao mundo, e não em função exclusivamente do que os outros pensam de nós. Nomeadamente, porque os outros podem estar profundamente enganados quanto ao valor do que fazemos, sendo uma lição óbvia da história que nem as grandes multidões nem os ambientes sufocantes de pequenas comunidades autofágicas produz costumeiramente pessoas de juízo apurado quanto ao que tem ou não valor.
A segunda é a falsidade acerca das nossas capacidades para ajuizar honestamente as coisas. Sendo verdade que nenhum de nós é infalível, e que precisamos de contrastar cuidadosamente os nossos juízos com os dos outros, é no entanto falso que tenhamos de o fazer com quaisquer pessoas. Eu não tenho de ir à sapataria ver se as pessoas lá prezam a actividade filosófica, por exemplo, tal como um pintor não tem de ir ao banco ver se as pessoas lá prezam a pintura. Ele e eu sabemos com razoável honestidade, pelo conhecimento da própria história da humanidade, que a filosofia e a pintura têm valor.
Claro que não sabemos, nem ele nem eu, se as coisas particulares que fazemos — os quadros que ele pinta, os textos que eu escrevo — se têm valor superlativo. Mas é pura e simplesmente falso que não saibamos que têm valor, se o fizermos com honestidade e o avaliarmos friamente. Não podemos saber se tem valor superlativo porque isso é algo que talvez só se saiba em contraste com a restante produção do nosso tempo histórico; mas podemos perfeitamente saber se tem ou não um valor modesto, que resulta de um trabalho honestamente feito que visa a excelência e não o engrandecimento pessoal.
Mas se isto for assim, então também não é particularmente sábio ansiar pela aprovação dos que nos rodeiam, porque também eles não sabem se o nosso trabalho tem realmente valor superlativo. Pelo que voltamos à única coisa que podemos saber: é um trabalho modesto bem feito, ou não? E isto podemos saber sem ter de o ver reflectido nas palmadinhas nas costas de quem nos rodeia.
A vaidade, e a ilusão cognitiva que parece estar na sua base, poderá explicar a atenção exagerada que hoje se dá à originalidade, em detrimento da criação, confundindo-se ambos os conceitos. A criação não tem de ser original; criar é um acto maravilhoso em que usamos as nossas capacidades e talentos, fruto de anos de estudo e trabalho, e criamos algo por nós mesmos. É irrelevante se isso que estamos criando é superlativamente original ou nem por isso; o que realmente conta é que não é uma cópia, é algo que criamos, e criamo-lo porque nos treinámos durante anos para poder criá-lo.
A originalidade é apenas a novidade superlativa. E uma vez mais não podemos realmente saber, mergulhados que estamos no nosso tempo, se algo é superlativamente original ou se apenas o parece. A vaidade parece explicar a importância desmedida que tantos criadores conceptual e psicologicamente confundidos dão à originalidade: ser criador, deste ponto de vista embaciado, é ser original, ser diferente, para ser invejado pelos outros. A verdade é que ser um criador é criar algo novo mesmo que não seja uma novidade. E a ideia de que só tem valor a novidade é pura e simplesmente infantil: a primeira sonata para piano não tem mais valor por ser a primeira, nem o primeiro quadro cubista tem mais valor por não existir qualquer quadro cubista anterior.
É verdade que prezamos e admiramos, correctamente, a novidade superlativa. Esta é, sem dúvida, uma manifestação valiosa da criatividade. Mas ocorre com a originalidade um pouco o que ocorre com o paradoxo do hedonismo: se tudo o que visarmos for o prazer, em vez de outros valores importantes na vida, teremos uma vida menos prazerosa; analogamente, se tudo o que visamos na criação for a novidade retumbante, não seremos provavelmente capazes nem de criar algo de valor modesto, que possa ser honestamente ajuizado como valioso.
A incoerência da vaidade consiste em menorizar a avaliação honesta que nós mesmos podemos fazer das nossas actividades, dando valor superlativo ao juízo de pessoas que, porque as desprezamos, não visamos ajudar com o nosso trabalho honesto. O susto permanente em que vive o vaidoso torna o seu estilo de vida pouco recomendável. O criador modesto, pelo contrário, visa apenas acrescentar modestamente valor ao mundo, devolvendo aos outros o que de outros colheu. E se a vida de um tende a ser endeusada no cinema de Hollywood e noutras manifestações de infantilidade, é a vida do outro que devemos querer para nós próprios, se quisermos sentir-nos felizes e realizados