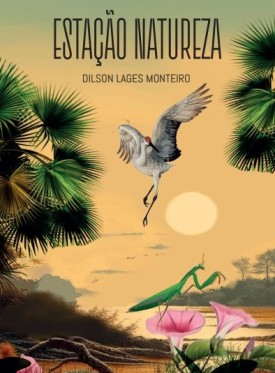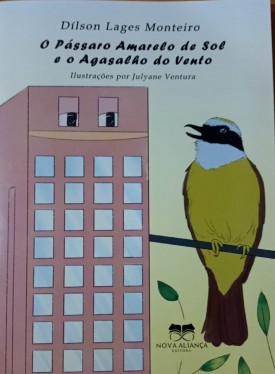A casa do medo
 Por Miguel Carqueija Em: 07/02/2016, às 17H30
Por Miguel Carqueija Em: 07/02/2016, às 17H30

A CASA DO MEDO
Miguel Carqueija
O apito tocou.
Não foi fácil para mim levantar, ainda que, passada a maior parte da sonolência, eu já levantasse transido de medo, movido a medo. Um medo que me acompanhava por toda a parte dentro dos limites da casa flutuante.
Quando terminei minhas orações atrevi-me a olhar para fora através da janela de trinta centímetros quadrados, com tampa corrediça. A água estava escura como de hábito, com aquela tonalidade conferida por limos seculares. Rescendia a podridões ocultas e onipresentes, enquanto o distante horizonte mostrava apenas água, água e mais água. As ondulações eram suaves e inerciais. A água ondulava uniformemente, tranquilamente, como já o fizera ontem e ante-ontem e antes de ante-ontem, e certamente ainda iria fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de depois de amanhã. Eternas ondas.
A vista procurava instintivamente alguma nuance na eterna cor, algum risco que escurecesse aquele verde-garrafa ainda mais, algum sinal de movimento subaquático. Passavam semanas e meses e nada acontecia com exceção da deterioração dos nossos nervos, um fenômeno constante e provavelmente irreversível.
Quando cheguei à cantina Oliveira já lá estava, examinando sua xícara branca, aparentemente farejando-a. De fato, na maneira como as xícaras eram aquecidas, ou quem sabe por efeito de impregnações sucessivas de leite, o cheiro era agradável.
Ele olhou para mim e observou:
- Alguma novidade?
Pergunta estúpida. Qual a novidade que já não nos pusesse todos em polvorosa?
- Nenhuma. Bem, creio que vi algumas fragatas ao longe...
- Acho que há dez anos não como carne de ave que não seja galinha. Elas estão muito raras, muito difíceis...
Eu não estava com vontade de conversar. Sentei-me e examinei a minha xícara branca. Observei o fogareiro e a torradeira. O cheiro era agradável. Afinal, os trigais da estufa eram a grande riqueza que nos restavam...
Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Filtrar a água, filtrar a água, filtrar a água. Lavrar, cultivar, colher. Calafetar, calafetar, calafetar. Remendar, remendar, remendar. Vigiar, vigiar, vigiar. Sempre.
Oliveira foi até o fogareiro, retirou as omeletes e panquecas e colocou-as sobre a mesa de metal.
- Eu gosto de madrugar. Não sei porque os outros são tão preguiçosos.
Eu preferia assim. Poucos levantavam no primeiro apito, que dizia serem cinco da madrugada. Mas eu gostava de comer a sós, ou quase. O medo estava lá, pouco menos do que palpável. Oliveira também tinha medo. Todos tinham, mesmo quando evitavam falar nisso.
Comecei a colocar o leite de cabra na minha xícara. Oliveira, muito ocupado em passar pasta de amendoim numa fatia de pão, parecia não se lembrar, desta vez, de comentar a minha obstinação em não constituir família.
E então a casa flutuante sacudiu, sacudiu violentamente, como se apanhada por uma onda-monstro.
O leite entornou. Xícaras, pratos e as omeletes e panquecas caíram ao chão. Ao mesmo tempo luzes vermelhas se acenderam e um trilo sinistro se fez ouvir.
- Chegou a hora – disse Oliveira, em pânico. – Vamos chamar todo mundo!
Corremos para a sala de combate, no alto da barcaça. De lá, homens, mulheres e crianças, todos portando chicotes elétricos, puseram-se a lutar através das portinholas, contra as fúrias que nos atacavam. Tentáculos repulsivos e hediondos erguiam-se nas águas imundas e revoltas e subiam até o alto da casa, tentando abarcá-la e envolvê-la, para nos puxar a todos rumo ao fundo. Por todo o perímetro da sala de combate brandíamos nossas armas, chicoteávamos aqueles malditos braços de moluscos, tentando fazê-los desistir. Creio que havia bem uma dúzia daqueles seres, era um ataque
Dizem as lendas que nem sempre o mundo foi assim. Um dia existiram continentes, que eram extensões intermináveis de terra firme, povoadas por animais, plantas e seres humanos em número incalculável. Mas as experiências com a bomba atômica dissolveram as calotas de gelo dos pólos e as demais geleiras, desagregaram os continentes e fizeram subir o nível dos oceanos; quando terras e mares se misturaram, a superfície da Terra transformou-se nesse imenso alagado mal cheiroso, lamacento, de profundidade geralmente pequena e habitado por polvos imensos, fruto das mutações radioativas e que nos têm, ao que parece, um profundo ódio. E o que resta da humanidade a isto se reduziu – pequenos grupos em casas flutuantes, onde tudo tem que existir em concentração: agricultura, indústria e comércio. As poucas ilhas não comportam mais gente e nenhum barco está a salvo dos ataques de polvos. E vivemos com medo, um medo onipresente, que penetra até a medula óssea... mas antes, a humanidade dominava o planeta, a ponto de devastar a natureza e dizimar os animais, levando inúmeras raças à extinção.
Assim dizem as lendas.
Desolados, demos início ao penoso trabalho de reparação.
imagem pixbay