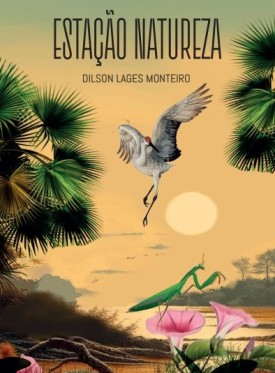A arte de ler nuvens
 Por Bráulio Tavares Em: 10/12/2006, às 22H00
Por Bráulio Tavares Em: 10/12/2006, às 22H00
A natureza da imagem cinematográfica é uma coisa engraçada. O que é aquilo? Uma superfície branca, boa de reflexo, chamada tela. Imagens semi-transparentes são projetadas ali para que as vejamos de uma certa distância. E essas imagens conseguem criar, assim como as camadas de tinta de uma pintura convencional, a ilusão de profundidade, de espaço, da presença de coisas. E da passagem do tempo.
O crítico Andrew Sarris resume assim o cinema: “A grande arte do cinema consiste em relacionar o que é mostrado com o que não é mostrado, e em definir essências a partir de superfícies”. Neste aspecto, o estudo do cinema não se distingue muito do estudo da fotografia. Ensaios de pessoas como Roland Barthes (“A Câmara Clara”) e Susan Sontag (“Sobre Fotografia”) mostram o quanto é possível a mente do sujeito viajar pelos quatro cantos do mundo e pelos labirintos da psicologia e da cultura tendo como ponto de partida apenas algumas manchas pretas e brancas sobre um pedaço de papel. Superfícies.
Ver cinema ou fotografia exige algo da argúcia de Sherlock Holmes. Holmes olha para um cliente desconhecido que acabou de entrar em seu apartamento e diz: “Boa tarde, Sr. Smith, o que o traz aqui? Nada sei sobre o sr., a não ser que é maçom, canhoto, ex-oficial da Marinha, viúvo, tem um casal de filhos, e que a janela do seu quarto dá para o nascente”. A meia página seguinte é dedicada a justificar estas observações a partir dos indícios de vestuário, aparência, pacotes que o Sr. Smith carrega, etc. Este espírito dedutivo está presente em parte no espectador de cinema, com o qual o diretor estabelece um diálogo de pistas e indicações.
Percebemos melhor esses processo quando o vemos diluído em clichê. Um sujeito apressado fala ao telefone. Sai, bate a porta. Zoom da câmara sobre um chaveiro esquecido sobre a mesa. O espectador entende que o cara bateu a porta por fora e não vai conseguir entrar. Recados narrativos são dados o tempo inteiro pelo filme, e o espectador, desde criança, vai aprendendo a somar dois mais dois.
Mas o que dizer dos recados não-narrativos, das imagens que o diretor filma porque o impressionam sem que ele saiba por quê? No cinemão industrial isso não é muito freqüente, porque os roteiros passam por uma bateria de gente que dá palpite, faz perguntas... Imagens duvidosas são sumariamente cortadas: “Se você não sabe por que ela está ali, como espera que o público adivinhe?” E no entanto filmar cinema devia ser algo como filmar nuvens em movimento, acompanhando o modo como elas de transformam , e tentar influir nessas transformações. Ver cinema seria uma arte parecida com a arte de ver nuvens, achá-las parecidas com uma letra, com um castelo, com uma barba. Como acontece com certos filmes de Raul Ruiz ou de David Lynch, que parecem uma coleção de imagens que o diretor trouxe para nos mostrar: “Eu achei isto aqui mas não sei o que é. O que você acha?”