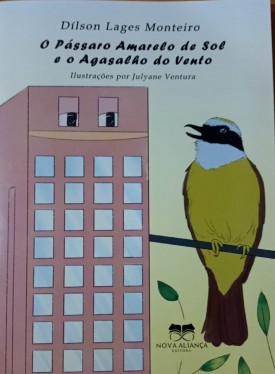Golpe no Chile: 40 anos atrás, eu vi Pinochet esmagar um sonho democrático
Restavam poucos repórteres estrangeiros em Santiago na manhã de primavera de 11 de setembro quando Augusto Pinochet, chefe do exército, armava seu bote. No sábado anterior, ele havia finalmente se juntado ao golpe de estado que vinha sendo cozinhado havia tempo contra um governo eleito legitimamente, e apenas três dias depois, ele já revelava sua capacidade com terrorismo, tortura e traição, ao lado de um poder estrangeiro.
Hugh O'Shaughnessy – The Guardian
Como o drama e repressão promovidos por um golpe apoiado pelos EUA derrubou o governo de Allende em 11 de setembro de 1973
Restavam poucos repórteres estrangeiros em Santiago na manhã de primavera de 11 de setembro quando Augusto Pinochet, chefe do exército, armava seu bote.
No sábado anterior, ele havia finalmente se juntado ao golpe de estado que vinha sendo cozinhado havia tempo contra um governo eleito legitimamente, e apenas três dias depois, ele já revelava sua capacidade com terrorismo, tortura e traição, ao lado de um poder estrangeiro. Mas agora ele jogava com um governo dos EUA que detestava a coalizão, idealista mas mal costurada, de seis partidos, encabeçada pelo doutor Salvador Allende, o médico da nação, liberal, que introduzia elementos de social-democracia em um país que, havia tempo, era organizado em função dos donos de terra, industrialistas e financistas.
Por meses, os arquitetos do golpe mantiveram Pinochet afastado, achando que ele fosse leal demais para com o eleito – e, como mostraram os resultados da eleição, cada vez mais popular – Allende, e fiel demais à Constituição para entrar numa conspiração.
A maioria dos jornalistas estrangeiros desistiu e foi embora do Chile depois de semanas esperando, muitos saindo da empobrecida Santiago – orgulhosa mas provinciana – para a borbulhante Buenos Aires e suas casas, do outro lado dos Andes. O ‘Washington Post’ tinha um correspondente, mas o ‘New York Times’ não; a ‘Newsweek’ tinha, mas a ‘Time’ não.
Quando as tropas se movimentavam para fora da cidade, esperando a chegada dos jatos Hawker Hunter para bombardear e destruir o governo civil, Allende tentou desesperadamente, mas em vão, entrar em contato com Pinochet, e por horas estava convencido de que seu comandante militar havia sido raptado e silenciado pelos insurgentes.
Muitos dos repórteres estrangeiros, nas semanas anteriores a setembro de 1973, haviam se habituado a se encontrar no aconchegante barzinho do térreo do hotel Carrera – do outro lado da rua do palácio simples e sem luxos de Allende, o Moneda –, onde muitos de nós estávamos hospedados. Nós conversávamos por horas, regados a scotch e pisco sour, fazendo conjecturas sobre o futuro, e os que tinham passaporte dos EUA previam, de maneira correta, o pior para a “experiência socialista” chilena.
Na terça-feira, a contrarrevolução tinha toda a força, as linhas de telefone e telex foram cortadas. Antes das dez da manhã, meu colega e amigo Stewart Russel, da Reuters, e eu caminhamos pelas ruas desertas até a embaixada britânica, acima do Banco de Londres e da América do Sul, em busca de uma linha para contarmos nossa história para Londres. Não havia nenhuma disponível, mas como os tiroteios nas ruas aumentavam, nos deram abrigo e refrescos, e não podíamos deixar de perceber a alegria de muitos na embaixada, especialmente dos representantes da Marinha britânica, com o golpe.
Naquela altura, o almirante Gustavo Carvajal, um dos idealizadores do golpe, estava no telefone com Allende, oferecendo um avião para ele sair do país. Mas o presidente, que tinha pressão alta, foi conciso: “Quem vocês pensam que são, seus traidores de merda? Enfie esse avião no seu traseiro! Você está falando com o presidente da República! E o presidente eleito pelo povo não se rende.”
No teto de nosso prédio, um resistente com um rifle calibre .22 disparava um ou outro tiro, até ser morto por um helicóptero de passagem. Pelas quatro da tarde, a cidade, rodeada pelos picos andinos, estava mais quieta, então Stewart e eu, sem conseguir nenhum tipo de conexão com Londres, marchamos pelas portas de bronze e pelo meio das ruas desertas até o hotel, com as mãos levantadas.
De volta dentro do Carrera bem fechado, reunidos na imponente recepção cercada de vidro preto, muitos dos endinheirados apoiadores de Pinochet faziam brindes a ele e aos seus três companheiros da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, com champanhe. Eles vibraram quando ele anunciou na televisão o fechamento do Congresso, dos partidos políticos, dos sindicatos e dos tribunais.
Os funcionários, aterrorizados, se juntaram em um canto para assistir seu país sendo exaurido. Como precaução, para nossa segurança, eles prepararam camas para nós depois da lavanderia, no subsolo. Depois de uma boa noite de sono, subimos para ver o Moneda sendo continuamente consumido pelo fogo. Sob o toque de recolher, o estádio começou a se encher com os prisioneiros de Pinochet: alguns eram sumariamente alvejados, outros eram mandados para campos de concentração no deserto do Atacama. No começo, quando o toque de recolher foi marcado para as seis da tarde, havia pressa para se conseguir transporte, público ou privado, pois as pessoas corriam para se abrigar.
No começo os soldados eram assustadores, com suas armaduras de guerra e metralhadoras, quando eles irrompiam dentro das casas, bagunçavam tudo e levavam embora o que quer que quisessem. Estrangeiros que estavam sendo perseguidos – do Brasil, por exemplo – e que haviam recebido asilo político de Allende estavam especialmente ameaçados, bem como diretores de sindicatos. Depois de um tempo, os soldados, muitos vindos de zonas rurais, se tornaram figuras caricatas, quando julgavam que livros sobre cubismo, por exemplo, eram prova de que o morador da casa era um admirador de Fidel Castro e, consequentemente, suspeito, para ser levado e interrogado. Os comediantes na televisão faziam piada ao chamar as pessoas de burras como um soldado sem carro.
Uma onda de denúncias viu muitos serem presos injustamente pelos militares, que raramente confessavam quem eles tinham sob custódia. Com o passar das semanas, as chamas do Moneda continuavam consumindo tudo, deixando para trás um rastro de cinzas.
Assim começavam os dezessete anos de ditadura de Pinochet – ele logo reduziu seus companheiros de junta militar a uma nulidade – mantida pelo terrorismo. Como já havia acontecido no Brasil em 1964, então no Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina, e como viria a ser o caso mais tarde no Iraque, no Afeganistão e na Baía de Guantánamo, os militares e policiais torturadores estavam a postos com seus eletrodos, alicates e equipamento de afogamento para defender a “civilização cristã ocidental”. Muitos se aperfeiçoaram nesse ofício dentro dos EUA ou em alguma de suas bases no Canal do Panamá, com instrutores estadunidenses.
Sete anos antes, num jantar em 1966, em uma estada mais longa na capital do Chile com minha esposa Georgie, eu conheci Allende e sua esposa Hortensia “Tencha”. Ele e eu nos demos bem até ele ser morto no ataque ao palácio presidencial. Nosso anfitrião, Álvaro, nos apresentou de maneira brincalhona ao líder da esquerda, dizendo: “Esse homem já tentou se eleger presidente e vai tentar mais uma vez. Mas ele nunca vai conseguir.” Allende respondeu também em tom de brincadeira: “Meu jovem, você sabe o que vai estar escrito na minha lápide?”
“Não, doutor”, eu respondi educadamente. “O que vai estar escrito na sua lápide?”
Em meio a risadas, o futuro chefe-de-estado chileno respondeu usando seu nome completo: “Aqui jaz Salvador Allende Gossens, futuro presidente do Chile”.
Em 21 de setembro de 1970, Allende foi declarado vencedor de eleições limpas, mas antes de ele assumir a presidência, depois de um esforço em vão de conservadores e de seus aliados dos EUA tentarem declarar a vitória inconstitucional, Edward Korry, o embaixador estadunidense em Santiago, relatou para Harry Kissinger, o estrategista de política externa do presidente Richard Nixon: “Assim que Allende assumir o poder, vamos fazer de tudo para que o Chile e os chilenos experimentem das piores privações e pobreza”.
Alguns dias antes, Richard Helms, diretor da CIA, escreveu algumas anotações durante uma reunião em Washington com Nixon, Kissinger e John Mitchell, o procurador-geral, em que o presidente exigia um golpe. As anotações diziam: “Uma chance em dez, talvez, mas salvem o Chile!/ gastos que valem a pena/ não importam os riscos/ não envolver a embaixada/ U$10.000.000 disponíveis, mais se necessário/ os melhores homens que tivermos/ plano de ação/ fazer a economia sofrer/ 48 horas para plano de ação”.
Depois de os inimigos de Allende finalmente declararem vitória sobre ele em 11 de setembro, os chilenos se protegeram da melhor forma possível enquanto Pinochet e seu grupo, com boas relações agora com Washington, fizeram fortuna com a privatização de serviços públicos e, sorrateiramente, do comércio de cocaína com a Bolívia, que os EUA nunca quiseram atacar ou criticaram.
Pinochet estava tão confiante em seu protetores no “mundo livre” que em 17 de setembro de 1976 ele ordenou o assassinato de Orlando Letelier, o antigo ministro da Defesa de Allende, com uma bomba plantada em seu carro, no Sheridan Circle, no coração diplomático de Washington. Tamanha atrocidade, fosse cometida por algum árabe ou iraniano, ou um muçulmano de qualquer lugar, teria sido imediatamente punida, podendo chegar até à guerra. Mas Pinochet não corria nenhum risco. Afinal, ele foi um dos homens de Nixon desde o início.
Hugh O'Shaughnessy é autor de ‘Pinochet, The Politics of Torture’, publicado por Latin America Bureau e pela New York University Press
Restavam poucos repórteres estrangeiros em Santiago na manhã de primavera de 11 de setembro quando Augusto Pinochet, chefe do exército, armava seu bote.
No sábado anterior, ele havia finalmente se juntado ao golpe de estado que vinha sendo cozinhado havia tempo contra um governo eleito legitimamente, e apenas três dias depois, ele já revelava sua capacidade com terrorismo, tortura e traição, ao lado de um poder estrangeiro. Mas agora ele jogava com um governo dos EUA que detestava a coalizão, idealista mas mal costurada, de seis partidos, encabeçada pelo doutor Salvador Allende, o médico da nação, liberal, que introduzia elementos de social-democracia em um país que, havia tempo, era organizado em função dos donos de terra, industrialistas e financistas.
Por meses, os arquitetos do golpe mantiveram Pinochet afastado, achando que ele fosse leal demais para com o eleito – e, como mostraram os resultados da eleição, cada vez mais popular – Allende, e fiel demais à Constituição para entrar numa conspiração.
A maioria dos jornalistas estrangeiros desistiu e foi embora do Chile depois de semanas esperando, muitos saindo da empobrecida Santiago – orgulhosa mas provinciana – para a borbulhante Buenos Aires e suas casas, do outro lado dos Andes. O ‘Washington Post’ tinha um correspondente, mas o ‘New York Times’ não; a ‘Newsweek’ tinha, mas a ‘Time’ não.
Quando as tropas se movimentavam para fora da cidade, esperando a chegada dos jatos Hawker Hunter para bombardear e destruir o governo civil, Allende tentou desesperadamente, mas em vão, entrar em contato com Pinochet, e por horas estava convencido de que seu comandante militar havia sido raptado e silenciado pelos insurgentes.
Muitos dos repórteres estrangeiros, nas semanas anteriores a setembro de 1973, haviam se habituado a se encontrar no aconchegante barzinho do térreo do hotel Carrera – do outro lado da rua do palácio simples e sem luxos de Allende, o Moneda –, onde muitos de nós estávamos hospedados. Nós conversávamos por horas, regados a scotch e pisco sour, fazendo conjecturas sobre o futuro, e os que tinham passaporte dos EUA previam, de maneira correta, o pior para a “experiência socialista” chilena.
Na terça-feira, a contrarrevolução tinha toda a força, as linhas de telefone e telex foram cortadas. Antes das dez da manhã, meu colega e amigo Stewart Russel, da Reuters, e eu caminhamos pelas ruas desertas até a embaixada britânica, acima do Banco de Londres e da América do Sul, em busca de uma linha para contarmos nossa história para Londres. Não havia nenhuma disponível, mas como os tiroteios nas ruas aumentavam, nos deram abrigo e refrescos, e não podíamos deixar de perceber a alegria de muitos na embaixada, especialmente dos representantes da Marinha britânica, com o golpe.
Naquela altura, o almirante Gustavo Carvajal, um dos idealizadores do golpe, estava no telefone com Allende, oferecendo um avião para ele sair do país. Mas o presidente, que tinha pressão alta, foi conciso: “Quem vocês pensam que são, seus traidores de merda? Enfie esse avião no seu traseiro! Você está falando com o presidente da República! E o presidente eleito pelo povo não se rende.”
No teto de nosso prédio, um resistente com um rifle calibre .22 disparava um ou outro tiro, até ser morto por um helicóptero de passagem. Pelas quatro da tarde, a cidade, rodeada pelos picos andinos, estava mais quieta, então Stewart e eu, sem conseguir nenhum tipo de conexão com Londres, marchamos pelas portas de bronze e pelo meio das ruas desertas até o hotel, com as mãos levantadas.
De volta dentro do Carrera bem fechado, reunidos na imponente recepção cercada de vidro preto, muitos dos endinheirados apoiadores de Pinochet faziam brindes a ele e aos seus três companheiros da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, com champanhe. Eles vibraram quando ele anunciou na televisão o fechamento do Congresso, dos partidos políticos, dos sindicatos e dos tribunais.
Os funcionários, aterrorizados, se juntaram em um canto para assistir seu país sendo exaurido. Como precaução, para nossa segurança, eles prepararam camas para nós depois da lavanderia, no subsolo. Depois de uma boa noite de sono, subimos para ver o Moneda sendo continuamente consumido pelo fogo. Sob o toque de recolher, o estádio começou a se encher com os prisioneiros de Pinochet: alguns eram sumariamente alvejados, outros eram mandados para campos de concentração no deserto do Atacama. No começo, quando o toque de recolher foi marcado para as seis da tarde, havia pressa para se conseguir transporte, público ou privado, pois as pessoas corriam para se abrigar.
No começo os soldados eram assustadores, com suas armaduras de guerra e metralhadoras, quando eles irrompiam dentro das casas, bagunçavam tudo e levavam embora o que quer que quisessem. Estrangeiros que estavam sendo perseguidos – do Brasil, por exemplo – e que haviam recebido asilo político de Allende estavam especialmente ameaçados, bem como diretores de sindicatos. Depois de um tempo, os soldados, muitos vindos de zonas rurais, se tornaram figuras caricatas, quando julgavam que livros sobre cubismo, por exemplo, eram prova de que o morador da casa era um admirador de Fidel Castro e, consequentemente, suspeito, para ser levado e interrogado. Os comediantes na televisão faziam piada ao chamar as pessoas de burras como um soldado sem carro.
Uma onda de denúncias viu muitos serem presos injustamente pelos militares, que raramente confessavam quem eles tinham sob custódia. Com o passar das semanas, as chamas do Moneda continuavam consumindo tudo, deixando para trás um rastro de cinzas.
Assim começavam os dezessete anos de ditadura de Pinochet – ele logo reduziu seus companheiros de junta militar a uma nulidade – mantida pelo terrorismo. Como já havia acontecido no Brasil em 1964, então no Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina, e como viria a ser o caso mais tarde no Iraque, no Afeganistão e na Baía de Guantánamo, os militares e policiais torturadores estavam a postos com seus eletrodos, alicates e equipamento de afogamento para defender a “civilização cristã ocidental”. Muitos se aperfeiçoaram nesse ofício dentro dos EUA ou em alguma de suas bases no Canal do Panamá, com instrutores estadunidenses.
Sete anos antes, num jantar em 1966, em uma estada mais longa na capital do Chile com minha esposa Georgie, eu conheci Allende e sua esposa Hortensia “Tencha”. Ele e eu nos demos bem até ele ser morto no ataque ao palácio presidencial. Nosso anfitrião, Álvaro, nos apresentou de maneira brincalhona ao líder da esquerda, dizendo: “Esse homem já tentou se eleger presidente e vai tentar mais uma vez. Mas ele nunca vai conseguir.” Allende respondeu também em tom de brincadeira: “Meu jovem, você sabe o que vai estar escrito na minha lápide?”
“Não, doutor”, eu respondi educadamente. “O que vai estar escrito na sua lápide?”
Em meio a risadas, o futuro chefe-de-estado chileno respondeu usando seu nome completo: “Aqui jaz Salvador Allende Gossens, futuro presidente do Chile”.
Em 21 de setembro de 1970, Allende foi declarado vencedor de eleições limpas, mas antes de ele assumir a presidência, depois de um esforço em vão de conservadores e de seus aliados dos EUA tentarem declarar a vitória inconstitucional, Edward Korry, o embaixador estadunidense em Santiago, relatou para Harry Kissinger, o estrategista de política externa do presidente Richard Nixon: “Assim que Allende assumir o poder, vamos fazer de tudo para que o Chile e os chilenos experimentem das piores privações e pobreza”.
Alguns dias antes, Richard Helms, diretor da CIA, escreveu algumas anotações durante uma reunião em Washington com Nixon, Kissinger e John Mitchell, o procurador-geral, em que o presidente exigia um golpe. As anotações diziam: “Uma chance em dez, talvez, mas salvem o Chile!/ gastos que valem a pena/ não importam os riscos/ não envolver a embaixada/ U$10.000.000 disponíveis, mais se necessário/ os melhores homens que tivermos/ plano de ação/ fazer a economia sofrer/ 48 horas para plano de ação”.
Depois de os inimigos de Allende finalmente declararem vitória sobre ele em 11 de setembro, os chilenos se protegeram da melhor forma possível enquanto Pinochet e seu grupo, com boas relações agora com Washington, fizeram fortuna com a privatização de serviços públicos e, sorrateiramente, do comércio de cocaína com a Bolívia, que os EUA nunca quiseram atacar ou criticaram.
Pinochet estava tão confiante em seu protetores no “mundo livre” que em 17 de setembro de 1976 ele ordenou o assassinato de Orlando Letelier, o antigo ministro da Defesa de Allende, com uma bomba plantada em seu carro, no Sheridan Circle, no coração diplomático de Washington. Tamanha atrocidade, fosse cometida por algum árabe ou iraniano, ou um muçulmano de qualquer lugar, teria sido imediatamente punida, podendo chegar até à guerra. Mas Pinochet não corria nenhum risco. Afinal, ele foi um dos homens de Nixon desde o início.
Hugh O'Shaughnessy é autor de ‘Pinochet, The Politics of Torture’, publicado por Latin America Bureau e pela New York University Press