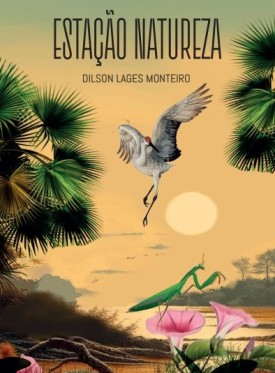OUTRO ENTARDECER EM AMARANTE
 Por Elmar Carvalho Em: 24/11/2010, às 22H12
Por Elmar Carvalho Em: 24/11/2010, às 22H12
ELMAR CARVALHO
Na véspera das eleições gerais, estando tudo absolutamente tranquilo, fui contemplar o por-de-sol amarantino. Ao passar pela avenida Desembargador Amaral, em demanda do cais do rio Parnaíba, vi umas pessoas sentadas na calçada do Museu do Divino, criado e mantido por Marcelino Leal Barroso de Carvalho, que foi meu professor no curso de Direito da UFPI. Graças ao seu empenho e recurso financeiro, foi reativada a antiga Festa do Divino, com sua alegria, cores, músicas, insígnias e estandarte, cujo cortejo percorre os vetustos casarões e ruas de Amarante. Tempos atrás, dentro da programação desse folguedo religioso, tive a satisfação de ter o meu livro Lira dos Cinqüentanos lançado na grande sala de um dos solares da cidade. Hoje, é ele o diretor geral do Instituto Camillo Filho, que ajudou a fundar, ao lado do professor Charles Silveira, de quem também fui aluno. Fui cumprimentado pelo professor Melquíades. Pedi-lhe transmitisse ao seu irmão Marcelino as minhas considerações. Conduzido pelo defensor público Ivanovick Pinheiro, que viera disputar uma partida de futebol, fui postar-me em meu observatório, no Pelicano.
Meia hora depois, passou pelo cais, onde eu me encontrava, o professor Melquíades, que fora dar uma volta pela cidade, acompanhado pela família. Ele, na condição de exímio violonista, participa da parte musical da Festa do Divino. Mas não é só virtuose do violão, o que já seria muito; toca também instrumento de sopro, órgão e piano. Portanto, é literalmente um homem de sete instrumentos. Formado em Filosofia, tem especialização em História da Arte e Arquitetura. Ante a sua pós-graduação, Melquíades tem escrito alguns textos historiográficos, e passou, evidentemente, a interessar-se mais pela História do Piauí, e de Amarante, em particular. Em sua passagem pela beira-rio, entretivemos uma rápida conversa. Disse-me ele que as velhas carrancas, que guarneciam a proa das embarcações do Parnaíba, antecederam, ao que tudo indica, as do São Francisco. Existem informações sobre esse amuleto em livros do estrangeiro Ludwig Schweenhagen, que o homem simples chamava jocosa e onomatopeicamente de “chove nágua”, e da professora Mafalda Balduíno. É vero que alguns intelectuais torcem o nariz com relação a certas teses do primeiro, como a de que os fenícios estiveram no Piauí, especialmente em Pedra do Sal, que seria uma espécie de porto desses antigos navegantes, e Sete Cidades, cujas caprichosas formações rochosas, esculpidas pelo tempo, o vento e a chuva, devem ter incendiado a fértil imaginação do austríaco. Segundo me contou Melquíades Leal, as carrancas do Parnaíba tinham um artefato de couro de boi, algo semelhante a duas asas laterais, que dispunham de um mecanismo que lhes dava movimento. Os indígenas, que perlongavam a sinuosidade do Velho Monge, direcionavam suas flechas contra a carranca, e não contra os seus passageiros e tripulantes, por ser um alvo mais à vista e porque aparentava conduzir o barco. Eram as carrancas diabólicas. Acrescentou o mestre, que um desses barcos, com o seu artefato artesanal, foi atingido por um raio fulminante, na barra do Saco, que fica poucos quilômetros a montante da barra do Canindé, fazendo a embarcação incendiar e mergulhar para sempre nas águas do Parnaíba, onde ainda se encontra. Certamente, o episódio fantástico e cinematográfico deve ter atiçado o imaginário dos ribeirinhos, com mais um fato histórico a se confundir com a mitologia cabocla. Após essa rápida conversa, o professor Melquíades se retirou e eu voltei a observar o rio e a serrania distante, que já começava a sofrer os influxos do sol poente.
De onde eu estava, pude ver, no lado maranhense, uns jovens a jogar futebol na coroa do rio. Lembrei-me de meus tempos de peladeiro e de minha adolescência, em que eu pensava ingenuamente que essa quadra demoraria a passar. Na juventude não pensamos na morte e nem na velhice, a não ser de relance, quase como se fôssemos imortais. As luzes mortiças da cidade de São Francisco começaram a acender, e logo os jogadores foram embora. Os poucos banhistas deram seus últimos mergulhos e também se retiraram. Já o céu estava raiado do vermelho crepuscular. As serras se apagavam pouco a pouco, até imergirem na noite que tudo envolveu. Essa bela hora solene, propícia à meditação e a pensamentos mais elevados, em que o silêncio ou uma música suave em surdina seria o complemento ideal, foi brutalmente esmagada pela zoada ensurdecedora de um inoportuno aparelho de som, com suas tuítas e amplificadores embutidos num automóvel. Depois de importunar a todos, com a sua música ruim e estridente, o som foi desligado. Pensei que iria ter um justo e merecido sossego. Ledo engano. O carro deu marcha à ré, e veio para mais perto de onde eu estava. Então começou o martírio de um interminável estribilho, em que a cantora, com sua voz de taquara rachada, repetia à exaustão: “não aguento mais”, “não aguento mais”... Não sei o que ela não aguentava mais, pois não tinha o menor interesse em sua letra horrorosa. Agora, quem não aguentava mais aquela bagunça sonora era eu. Apesar disso, foi gratificante contemplar, mais uma vez, o belo e bucólico entardecer de Amarante. É um magnífico espetáculo, em que a natureza se esmera e se excede em nos prodigalizar graciosamente.