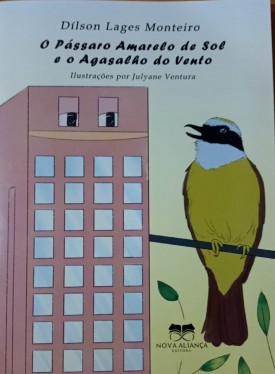O poder da palavra escrita
Em: 19/05/2024, às 06H37

[Bráulio Tavares]
A palavra escrita assume às vezes funções que só podemos chamar de “mágicas”, mesmo admitindo que nada têm de espiritual ou sobrenatural.
Um Antropólogo Marciano que visitasse nosso planeta talvez achasse curiosa a importância que damos à assinatura de uma pessoa. Ele entenderia que o indivíduo está escrevendo seu próprio nome, mas, que poderes mágicos esse nome transporta para o papel, no instante em que é escrito?
Podemos explicar ao Antropólogo Marciano que o ato de escrever o próprio nome cria uma ligação de responsabilidade, um vínculo moral e social entre o signatário e o que está escrito no papel. Ele pode perguntar: “Mas não bastaria uma afirmação em voz alta?”.
De fato. Algumas sociedades sobreviveram séculos sem chancela e cartório, baseando-se apenas nessas tais afirmações em voz alta. Não são apenas os nativos da África ou os índios da Amazônia. É o velho conceito sertanejo da “palavra dada”.
Não só sertanejo, claro, mas foi através dos sertanejos que entrei em contato com esse tipo de magia verbal, que já fez muitos homens perderem tudo, inclusive a vida, para não se submeterem à vergonha de “quebrar a palavra dada”.
Meu pai recitava versos de um desafio antigo entre uma cantadora, Zefinha do Chabocão, e o violeiro Jerônimo do Junqueira, versos resgatados por Leonardo Mota. Ela lhe pergunta “o que é mais duro que ferro”. O poeta responde:
Zefinha, a tua pergunta
é fácil até por demais:
o que é mais duro que ferro
e nenhum ferreiro faz,
é a palavra do homem,
inda que seja um rapaz!
Trinca o ferro, e se arrebenta;
e o homem não volta atrás!
A palavra escrita, contudo, entrou na civilização humana como um maremoto, que não apenas tem força propulsora, mas acaba sempre encontrando alguma brecha por onde passar.
Existe o caso dos papéis escritos que são guardados por sua força afetiva, força simbólica. Ariano Suassuna conservou, durante a vida inteira, a última carta escrita por seu pai, João Suassuna, avisando à família que estava jurado de morte mas era inocente de participação no assassinato de João Pessoa, cometido por seu primo. Levava-a no bolso do paletó, em muitas ocasiões.
O físico Richard Feynman, ainda jovem, perdeu a esposa para a tuberculose, quando trabalhava no Projeto Manhattan. Escreveu uma carta para ela, em desabafo, onde terminava dizendo: “Não sei por que estou escrevendo para você, por que estou escrevendo isto, porque minha esposa, que eu amo tanto, está morta.” Essa carta, que ele nunca mostrou a ninguém, foi achada entre seus papéis, amassada e mil vezes relida, depois que ele morreu.
Casos assim são comoventes, mas o papel escrito, em tais exemplos, faz parte da cultura das pessoas, é uma coisa comum em suas vidas.
Muito diferente é a relação de culturas não-escritas (a dos nativos africanos do século 19, por exemplo) com a cultura da palavra escrita (a dos brancos europeus).
Karen Blixen (“Isak Dinesen”) conta em seu Sombras na Relva que, durante os seus anos como fazendeira no Quênia, fez uma visita à sua terra natal, a Dinamarca. Como era baronesa, levou uma pele de leão, de um tipo raro de leão africano, para presentear o Rei Cristiano X. E algum tempo depois o rei escreveu-lhe uma carta, agradecendo o presente, que ela não pôde entregar em pessoa.
E ela diz:
Uma carta de casa sempre significa um bocado para as pessoas que estão vivendo há muito tempo longe de seu país. Será levada no bolso por vários dias para de vez em quando ser lida mais uma vez. Uma carta de um rei significa mais do que outras cartas.
(Sombras na Relva, Ed. 34, 1992, trad. Maria Luiza Newlands, pág. 46ss)
E ela conta que um dia um nativo kikuyu de sua fazenda sofreu um acidente grave; teve a perna despedaçada pela queda de uma árvore, e estava sofrendo dores intensas. Enquanto outras pessoas iam em busca de socorro, ela ficou cuidando do rapaz, que gritava muito e lhe pedia alguma coisa que amenizasse a dor. E ela teve uma idéia.
– Sim, Kitau – disse eu – tenho alguma coisa mais. Tenho algo mzuri sana – verdadeiramente excelente. Tenho uma Barua a Soldani, uma carta de um rei. E isto é uma coisa que todo mundo sabe, que uma carta de um rei, mokone yake – de sua própria mão – acabará com qualquer dor, mesmo muito forte.
Ela tira a carta do bolso e a coloca sobre o peito do rapaz, segurando-a ali, com alguma solenidade.
Foi algo de muito estranho que quase de imediato as palavras e o gesto parecessem provocar um efeito nele. Seu rosto terrivelmente retorcido distendeu-se, ele fechou os olhos. Pouco depois olhou de novo para mim. Seus olhos lembravam tanto os de uma criança pequena que ainda não sabe falar que fiquei quase surpresa quando ele falou comigo. “Sim,” disse ele, “é mzuri,” e mais uma vez, “é mzuri sana. Não tire ela daí.”
E o fato é que a dor do rapaz diminui, mas o boato se espalha entre os nativos. E daí em diante todas as vezes em que alguém na fazenda ou nas tribos próximas tem uma doença grave, eles mandam pedir emprestada a Barua a Soldani, e a baronesa viu-se forçada a criar uma bolsinha de couro, presa a um cordão, para proteger a carta do rei durante tanto manuseio.
Placebo? Auto-sugestão? Provavelmente, e não tirarei a razão de quem argumentar que qualquer pedaço de papel teria servido, desde que oferecido com o mesmo fervor e a mesma sinceridade.
É bom ter em mente, contudo, que sociedades ágrafas veem o “papel escrito” de uma maneira diferente da nossa. Uma vez tendo compreendido sua função, sua utilidade e seu valor, os nativos estabelecem – ou pelo menos os nativos da fazenda Mbogani o fizeram – uma relação muito especial com ele.
Em A Fazenda Africana (Círculo do Livro / Civilização Brasileira, s/d; trad. Per Johns), Karen Blixen narra o episódio de Jogona, um nativo kikuyu que não sabia ler nem escrever, de quem ela precisou copiar uma declaração, para esclarecer uma questão relativa a um acidente com arma de fogo. Blixen copiou fielmente o relato labiríntico de Jogona, cheio de idas e vindas; e depois o leu em voz alta, para aprovação do homem.
Quando cheguei ao trecho em que seu próprio nome era mencionado, “e ele mandou chamar Jogona Kanyagga, que era seu amigo e morava nas proximidades”, suavemente ele se voltou para mim com um olhar que flamejava num sentimento triunfal, tão exuberante de alegria que transformou o velho num menino, no próprio símbolo da juventude. (...) Esse foi o olhar que Adão dirigiu ao Senhor quando Ele o formou do pó e insuflou em suas narinas o sopro da vida, transformando-o numa alma vivente. (p. 109)
Jogona passou a considerar aquele papel escrito uma espécie de talismã, e o levava ao pescoço, dobrado, numa bolsinha de couro. E de vez em quando, ao encontrar nas colinas a dona da fazenda, pedia-lhe que parasse um instante... e lesse o documento de novo.
A cada leitura, seu rosto adquiria uma expressão de invariável e profundo triunfo religioso, e após a leitura alisava o papel, dobrava-o e voltava a colocá-lo na bolsa. A importância do documento não diminuiu mas aumentou com o tempo, como se para Jogona o mais incrível de tudo fosse que ele não se modificava. (p. 112)
Os nativos vivem num mundo flutuante, evanescente, gasoso, em que uma história precisa ser recontada milhares de vezes para que nunca se perca, pois não há como gravá-la na matéria. Descobrir um tipo de registro que não se altera é para eles – ou pelo menos o era para o velho Jogona – quase um milagre. Algo como ver no céu uma nuvem parada e que não mudasse nunca.
Claro que todos nós, modernos de hoje, leitores do filósofo Heráclito e de Jorge Luís Borges, sabemos que um texto escrito nunca é o mesmo a cada leitura. Mas aí já é outra história.