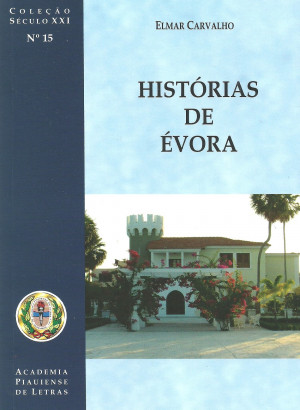Mundo vampírico
 Por Miguel Carqueija Em: 20/09/2010, às 11H23
Por Miguel Carqueija Em: 20/09/2010, às 11H23
uma aventura de espaço profundo: astronautas chegam a um planeta misterioso
Miguel Carqueija
I
Quando a pane nos atingiu estávamos a milhões de anos-luz ( oh, um pouco de exagero) de qualquer local habitado por seres humanos. Talvez fosse mais fácil encontrar alguns etéreos nas proximidades, mas não tínhamos registro de nenhuma base alcançável.
Emergíramos do hiperespaço no lado oposto à nebulosa Cabeça de Cavalo e tínhamos diante de nós uma configuração celeste desconhecida, em grande parte não mapeada e fora do alcance de observadores do Sistema Solar. O ruído cósmico de fundo era também muito intenso para que um pedido de socorro obtivesse êxito a não ser com muita sorte, de maneira que a nossa situação não era das mais animadoras.
— Nós teremos de pousar — disse Allyson, remexendo inutilmente em mapas celestes.
— Pousar? Aonde? — a face escura de Gilda demonstrava perplexidade.
Quando se está em perigo, num ponto desconhecido do espaço, a menor das possibilidades é ter onde pousar em segurança.
—Já tenho o perfil dos mundos próximos. E graças a Deus existe um planeta onde poderemos pousar, que orbita uma estrela sem nome, anã amarela como o nosso Sol. A superfície é sólida e lá poderemos fazer os reparos necessários.
— E os habitantes? — indaguei.
— Não há habitantes, Hélio. Pelo menos não foi possível detectá-los. Logo, não há civilização por lá. Talvez microorganismos... ah, sim, a densidade é perto de 1, o que vem a ser uma extraordinária coincidência.
— Um mundo terrestre — disse Arlene.
— É isso aí.
..................................................................................................................................
Allyson estava otimista com as nossas possibilidades. Quanto a mim, achava mais seguro ou confortador pousar num mundo sólido que ficar à deriva no espaço com um sério defeito nos motores. Acompanhava, portanto, sem grandes dúvidas, o otimismo do comandante. Mas fui dar uma olhada na tela panorâmica, observar o planeta que era o objeto de nossa atenção. Sentei-me, dei o enter para observação e fui localizando e aproximando o mundo conforme as coordenadas que me haviam sido fornecidas. Lá estava ele, girando a duzentos milhões de quilômetros do sol sem nome, com seu eixo inclinado para a eclíptica como a Terra.
Curiosamente, qualquer coisa como um calafrio passou pela minha espinha. Mesmo visto à distância havia algo de imponderável que não parecia normal naquele planeta. Talvez as sombras: um excesso de sombras derramando-se pelas planícies secas, em ângulos bruscos; um excesso de despenhadeiros, de elevações íngremes, verticais, como se cortadas a faca, e nenhum sinal evidente de atividade vulcânica. As nuvens eram raras e não pareciam querer condensar-se em chuva. Realmente os sinais de água eram fraquíssimos; talvez ela fosse mais subterrânea.
Não que isso me preocupasse. O nosso transmutador elemental poderia dar um jeito, se tal se fizesse necessário. Mas aquele planeta sombrio e árido não me tranqüilizou. Visto mais demoradamente, com detida análise dos detalhes, parecia eriçado de presas pontiagudas, ameaçadoras. Em seu silêncio cósmico, sem vento e outros fenômenos dinâmicos perceptíveis, parecia estar à espreita, à espera de alguém, com más intenções. Eu nunca vira um mundo com aquela aparência, mas os meus companheiros não demonstravam preocupação. Eu poderia estar com o sistema nervoso abalado, fato comum em astronautas. Desliguei a tela e fui descansar.
..........................................................................
A atmosfera não era respirável. Isto seria um milagre em tais circunstâncias. A análise não estava ainda pronta, mas Cobain adiantou-me que a proporção de nitrogênio e de gás dos pântanos era muito grande, e de oxigênio muito pequena. Ventos eram quase nulos, fraquíssimos.
Havíamos já pousado numa planície de aspecto lunar. Allyson encarregou nossos computadores de proceder à mais completa devassa do sombrio planeta, preparando assim uma expedição extra-nave. Eu me sentia mais inquieto que o normal, já presa de uma inexplicável angústia que me esforçava por mascarar. Afinal, o que estava havendo comigo? Caminhei até o refeitório para distrair meu espírito com um lanche sem fome que o justificasse. Era uma forma de relaxar.
II
Allyson gostava de sair à frente. Mandou, porém, um dos robôs, o E-943 (“Tango”) descer primeiro como medida de segurança. De início saímos somente eu e Allyson, no que seria equivalente à tardinha na velha Terra.
À minha frente eu via um panorama desolado e desesperante, rochas, rochas e mais rochas, um deserto gelado, estilhaçado. Quilômetros adiante, paredes verticais pontiagudas. Pelo rádio, Allyson e eu nos comunicávamos e mantínhamos contato com a nave. Nossas roupas espaciais, modelo Ajax, eram modernas e confortáveis, e além disso cheias de recursos.
Caminhávamos sem maior dificuldade, enquanto o robozinho ia colhendo dados espectrográficos, mineralógicos, meteorológicos.
— Que você acha, Hélio? Um mundo bem rebarbativo, não é?
— Homem... se aqui houver vida eu lhe pago um sorvete.
— Tão pouco assim? É o que vale haver vida assim?
— É que eu só pago sorvetes para garotas... portanto é uma concessão e tanto.
Ele riu e olhou para cima, fitando, ao que me pareceu, alguns picos mais altos, que se destacavam como dentes caninos das outras elevações do panorama, uma espécie de anfiteatro.
Olhei também, enquanto captava alguns comentários dos colegas:
— É tão feio esse mundo... parece saído daqueles velhos filmes de horror (Jackson).
— Nunca vi montes tão pontiagudos... (Arlene).
— É de fato muito sinistro (Gilda).
Eu achava tudo isso também, mas parecia-me banal expressar em palavras.
Caminhamos em silêncio durante alguns minutos. De repente, a atmosfera opressiva nos tirara a vontade de falar. Por fim, respondíamos às informações do robô ou aos nossos colegas, mas não falávamos espontaneamente. Havia alguma coisa esquisita cavucando no meu subconsciente, algo que o meu consciente não podia ou não queria identificar de pronto. Aquele mundo me parecia horroroso, mas o simples aspecto orográfico não deveria me impressionar tanto.
— Não acha que chega por enquanto? — falei a certa altura, dirigindo minha lanterna para os saibros do caminho.
— Hélio... nota alguma coisa diferente?
— Diferente? Onde?
— Lá em cima. Nos picos. Alguma coisa...
Olhei sem compreender onde Allyson queria chegar. Fitei por um momento os picos fantásticos e nada vi além do que já tinha observado. Allyson parara, como que hipnotizado, só que eu não podia ver senão vagamente a sua fisionomia, através do visor do capacete. Subitamente porém percebi alguma coisa na paisagem. Parecia ter-se alterado o ângulo das rochas do anfiteatro, sobretudo os picos semelhantes a dentes. Era como se estivessem mais próximos uns dos outros, coisa obviamente absurda.
Um grito agudo explodiu em nossos ouvidos:
— Que horror! Que horror! Vejam essa foto, vejam!
Pudemos escutar as vozes espantadas de Cobain e dos outros, admirados com o pânico de Arlene; e em seguida a explicação que ela deu:
— Não estão vendo? Não percebem? É uma das fotos tiradas durante a descida, vejam... vejam o que isso parece!
— Meu Deus! — era Cobain, homem de poucos espantos.
— Que está acontecendo afinal? — Allyson quase berrou. — O que é que há na foto?
Foi Jackson quem informou:
— Allyson, esses picos vistos de cima parecem... parecem... uma dentadura escancarada, cheia de dentes aguçados!
— Uma boca? — agora era eu, indignado com aquela história. — Ora bolas, vocês estão bem grandinhos para terem medo de assombrações...
Allyson, porém, segurou-me o braço e sussurrou-me:
— É isso mesmo, Hélio. Isso aí é uma boca, e está se fechando.
Olhei de novo para cima. Dessa vez não haveria racionalização que pudesse negar a evidência. Os picos dentados — ou o que quer que fosse aquilo — estavam mais próximos uns dos outros, e já começavam a encobrir o céu.
— Voltem! Voltem depressa!
Várias vezes nos chamaram denotando uma pressa angustiada e louca. O movimento das rochas parecia, a pouco e pouco, se acelerar, tornando-se mais perceptível aos sentidos.
— O solo está tremendo! Voltem depressa! — gritou Arlene, completamente excitada.
Allyson e eu corremos, corremos de um jeito que eu nunca esperaria poder dentro de uma roupa espacial. Reentramos na astronave, com a decolagem automática já programada por Jackson. Não podíamos alcançar o espaço; só nos restava sobrevoar a superfície e buscar um local mais seguro para o pouso. Quando subimos, nossas telas panorâmicas revelaram a areia do fundo se revirando, como num abalo sísmico, enquanto uma monstruosa língua se contorcia; e os dentes líticos se fecharam, cruéis e implacáveis, um segundo após a nossa passagem.
III
Já fazem duas semanas que estamos nesse platô de gnaisse, aguardando o conserto dos chips e das unidades operacionais que pifaram. Não nos recuperamos ainda de todo o horror daquela cena, mas assim mesmo fizemos nossas investigações com aparelhos voadores, evitando ao máximo pousar na superfície.
Graças a uma bateria quântica subespacial, não cessamos de transmitir nosso pedido de socorro. Imagino, porém, que nem nos darão crédito.
Como acreditarão em um planeta cheio de bocas vorazes enterradas na areia? O mundo está pleno desses anfiteatros e vez por outra algum deles se fecha sobre uma nave avariada, emergindo do hiperespaço... às vezes bem perto do globo ou em sua troposfera. Observamos algumas naves serem engolidas. Até mesmo dois aviões convencionais, que não poderiam estar navegando no hiperespaço. O fenômeno é constante, nós é que tivemos sorte. Nossa boca devia estar adormecida...
Se trabalharmos com afinco haveremos de escapar. E quando voltarmos à Confederação, faremos tudo para convencer a Armada a vir para cá, bombardear essas bocas horrendas e escancarar os seus segredos. Porque algum motivo existe, alguma força maligna que se embosca para capturar nossas naves. As bocas são artificiais, alguém as programou.
— Quando voltarmos — diz Allyson — revelaremos ao mundo o segredo do Triângulo das Bermudas.