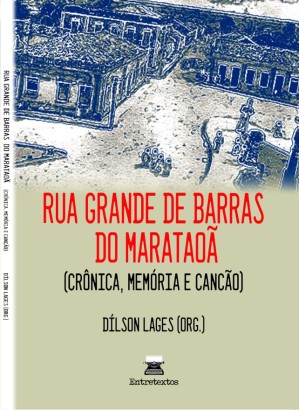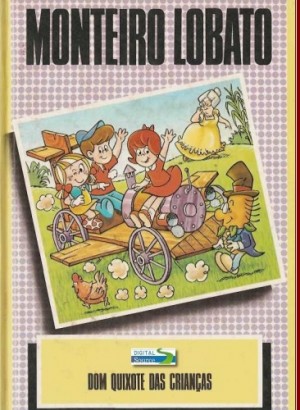Escrever é cortar
 Por Sérgio Rodrigues Em: 21/09/2013, às 17H54
Por Sérgio Rodrigues Em: 21/09/2013, às 17H54
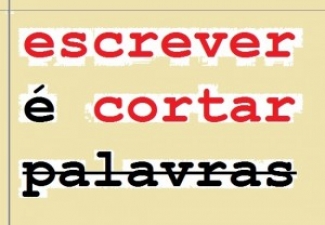
[Sérgio Rodrigues]
“Escrever é cortar palavras”, disse Carlos Drummond de Andrade, mas talvez não tenha sido ele: parece que, na ânsia de enxugar, alguém acabou cortando o crédito. Importa pouco a autoria do conselho. Com essas ou outras palavras, o elogio da concisão é a lição mais ouvida por aprendizes das letras há mais de cem anos. Quer dizer que antes disso o poder de síntese não valia nada? Claro que valia. Os poetas da antiga Grécia cultivaram a brevidade do epigrama. No início do século XVIII, o poeta inglês Alexander Pope, tradutor de Homero, dizia que palavras são como folhas de árvore: quando são muito abundantes, diminui a chance de vislumbrarmos ali embaixo “o fruto do sentido”.
No entanto, parece ter sido nas primeiras décadas do século XX que o relógio do mundo acelerou de vez e deixou com cara de obesa uma silhueta textual – a palavrosa – que até então ainda podia ser vista como atraente e saudável. Mais ou menos o que tinha ocorrido um pouco antes com as mulheres de Rubens. Pode-se relacionar esse aguçamento da intolerância ao desperdício vocabular a uma série de fenômenos, como a industrialização e a vida urbana. Parece claro que um papel central deve ser atribuído à disseminação e à profissionalização de um dos produtos mais marcantes do espírito daquele tempo: a imprensa.
O conselho, manjado, é inegavelmente valioso. Em sua primeira versão, textos têm mesmo a mania irritante de vir com gordurinhas: adjetivos supérfluos, advérbios nem se fala, frases inteiras que se limitam a reiterar uma ideia já explícita. Deve-se passar a faca sem dó em tais sobras, buscando dizer mais com menos. Não se discute que o enxugamento – que não precisa chegar ao extremo do que Graciliano Ramos chamava de “banho de soda cáustica” no estilo – é uma das etapas indispensáveis da boa escrita. Porém…
Temo que a insistência nessa tecla tenha passado do ponto. Numa época como a nossa, paranoicamente desconfiada da retórica e inclinada a acreditar que tudo o que importa dizer cabe em 140 caracteres, enfatizar demais a supressão de elementos pode obscurecer o fato de que, antes de cortar palavras, escrever é… escrevê-las, ora. Talvez tenha chegado a hora de substituir o elogio da concisão pelo elogio da clareza.
A diferença é a mesma que existe entre o banho de soda cáustica de Graciliano e uma boa aplicação de limpa-vidros. O excesso de um certo barroquismo, por exemplo, é um efeito artístico legítimo (todos o são, pelo menos até que a própria obra prove o contrário) que a concisão condena sem pensar duas vezes, mas que a clareza pode e deve abraçar, ajudando a polir e tornar melhor. A verdadeira questão não é – nunca foi – o número de palavras, mas a eficiência com que elas dão conta do trabalho que foram convocadas a desempenhar. Se a concisão tem valor parcial, adequada a certos estilos mas não a outros, arrisco dizer que a clareza é um valor universal: até uma história intencionalmente obscura precisa ser expressa com palavras nítidas.
Outro dia esbarrei no vídeo de uma entrevista do romancista amazonense Milton Hatoum, autor de “Dois irmãos”, famoso por passar anos debruçado sobre seus livros antes de entregá-los ao público. Quando lhe perguntaram se esse longo tempo de preparação era dedicado a cortar palavras, Milton respondeu que sim, mas não só: era dedicado a acrescentar palavras também. Sua explicação, que parafraseio livremente aqui, foi a de que cabe ao escritor deixar em foco os conflitos principais da sua história. Às vezes se aprimora o foco por subtração, outras vezes por adição. Uma cena a mais, um parágrafo descritivo a mais, um diálogo a mais podem ser exatamente o que faltava para tornar vigoroso um texto até então capenga e flácido.
Quer dizer: nem sempre menos é mais. Há ocasiões em que menos é menos mesmo. Pode ser óbvio, mas às vezes só enxergamos o óbvio quando ele já nos mordeu o pé.