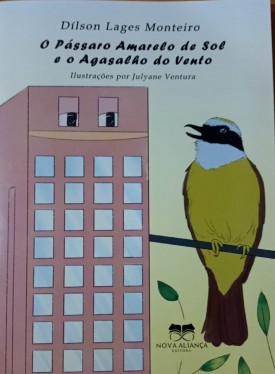Amor e sociedade contemporânea: Peter Sloterdijk versus Byung-Chul Han
 Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 30/03/2017, às 14H33
Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 30/03/2017, às 14H33

[Paulo Ghiraldelli Jr.]
O filósofo americano Robert Nozick escreveu certa vez que o amor ou o amor romântico implica em se querer formar um nós com determinada pessoa. Formar um nós – isso pressupõe uma união do que não está unido. E um nós não é a soma de dois eus, nem a junção simples de dois si-mesmos. O amor ocorre quando há uma relação a dois muito bem qualificada, especial. Relação a dois depende de que ambos os dois sejam pessoas capazes de doações mútuas. Trata-se da troca sem pedir nada em troca. Essa relação não se efetiva quando um dos parceiros não desenvolveu um aprendizado de alteridade, nascido da experiência que não pode ser a vivência exclusiva de um eu positivo. Faz-se necessário o negativo, a relação com o outro. Para estar apto ao amor ou à formação do nós, é preciso ser uma individualidade gerada pela relação de alteridade.
O amor se torna impossível na “sociedade neoliberal” de nossos tempos porque vivemos um excesso de positivização, ou seja, estamos imersos na “sociedade do desempenho”, em que somos incentivados ao individualismo erigido sem o outro ou, melhor dizendo, na anulação do outro. Somos levados a acreditar em uma noção de liberdade que nos faz achar que há o capitalismo onde todos são patrões. Nasce daí a sociedade em que a exploração de um pelo outro desaparece em função da auto-exploração máxima. Ora, sem a alteridade não conseguimos nos relacionar senão conosco mesmo, mas não em reflexão segundo doses corretas de amor-próprio, mas de uma forma autística e narcísica. Junto desse esvaziamento da alteridade, vem também, pela positivização, o império de uma sociedade que exige transparência para tudo, já que tudo é competição e esta precisa mostrar seus vencedores para todos, e também os derrotados. Tudo então, nessa sociedade, torna-se o fim da intimidade, do que se põe sob treliça, do que se desnuda. Não à toa o amor não se torna somente sexo, mas essencialmente pornografia. Essa ausência de experiência real a dois, o que se revela no amor que não se realiza, gera sempre para o indivíduo a presença de um si mesmo que é, antes de tudo, o chamado “mais do mesmo”. As pessoas se esgotam não só pela perfomance, mas por por serem um repeteco. Elas se cansam de si mesmas. Enjoam da repetição de si mesmos. Nesse sentido, nossa sociedade contemporânea é também uma “sociedade do cansaço”. Essa é a tese básica do filósofo germano-coreano Byung-Chul Han. Resumindo ao máximo, é o que é rezado nos livros Agonie des Eros (2012), Transparenzgesellschaft (2012) e Müdigkeitsgesellschaft (2010), todos publicados pela editora berlinense Matthes & Seitz Berlin Verlag. O último foi publicado no Brasil pela Vozes, com o título A sociedade do cansaço (2015).
Não penso que ele está de todo errado quanto à dificuldade do amor em nossa sociedade. Muito menos creio que fala algo pouco plausível sobre o problema da falta de alteridade, a desconsideração pelo outro ou a própria vida sem qualquer outro. Mas não abordaria a questão simplesmente pela positivização, pela cobrança “neoliberal” de “desempenho” (performance), para a qual ele usa o termo geral “positivização”, uma vez que negativo, o outro, desaparece. No lugar da sociedade da positivização, do desempenho e da visibilidade máxima, eu preferia tratar as coisas segunda a ideia de “sociedade da leveza”, não como ela aparece em Lipovetsky que, enfim, também é meramente descritiva, mas como ela está em Peter Sloterdijk, que me parece ser mais autenticamente elaborada no campo da filosofia social, exatamente por ser de teor explicativo.
Se é assim, não vou pela tese que termina por nos qualificar como vivendo na “sociedade do cansaço”. Penso na “sociedade da leveza”, e esta, como sociedade desonerada. Do que se trata? Aponto para situações em que as exigências relativas ao sujeito moderno para que ele seja sujeito não são exacerbadas, mas carecem de ser cumpridas por conta de uma alteridade não levada a bom termo, não suficientemente desenvolvida. Creio que o fenômeno da ausência do outro, que vivemos na sociedade contemporânea, desdobra-se em uma sociedade de coaches, gurus, apresentadores de TV, personal trainers, palestrantes, youtubers – resumindo: consultores. Eles ocupam o lugar do outro para a construção da subjetividade e, não sendo verdadeiros outros, ajudam na construção de uma pseudo-subjetividade.
Assim, minha tese até se assemelharia à do filósofo germano-coreano se ele pudesse concordar comigo que não vivemos mais a época na qual Sartre podia dizer, com sucesso, “o inferno são os outros”. O inferno somos nós, ou o eu em sua mesmidade esvaziada, uma vez que os outros ou, melhor dizendo, o outro, foi desconsiderado, tornado supérfluo ou simplesmente eliminado. Mas na minha narrativa sobre como esse processo ocorreu, não me aproximo dos que usam de palavras como “neoliberal” ou de quem vê o capitalismo como um sistema de exploração da performance no sentido do esgotamento. O meu capitalismo faz coisas mais sutis. Na verdade, não explico a vida contemporânea pelo capitalismo, mas sim por situação mais amplas na qual o capitalismo é um elemento a mais.
O que ocorre na contemporaneidade, na minha visão?
Ter um coach particular é obrigatório para se sentir parte do mundo empresarial. Acordar com o seu personal trainer chegando em casa ou no trabalho é essencial para se sentir na classe média alta. Frequentar eventos de um guru ou palestrante pasteurizado é se sentir uma pessoa culta ou acreditar que está ao menos próxima de gente não ignorante. Há um novo imperativo no mundo: não ousai não ter um consultor!
Fran e eu fomos ver Toni Erdman (Maren Ade, Áustria e Alemanha, 2016) e ao sair do cinema, de volta para casa, lhe perguntei: por que chegamos a esse ponto, do fenômeno de termos que ter consultores para tudo? Assim é a personagem principal do enredo. Fran arriscou uma hipótese que me pareceu bem útil: “eliminamos o outro”. Fran tem essa tese há tempos, antes de conhecer Sloterdijk e antes mesmo dos livros de Byung-Chul Han terem sido escritor. Eu roubei essa tese dela: cadê o outro? Em parte, foi por esse fio que cheguei a Sloterdijk, o que já faz uns anos. Exponho aqui alguns elementos centrais dessa tese.
Estamos na época do multiculturalismo, dos estudos culturais, dos estudos de gênero, do embate sobre problemas imigratórios e de refugiados e tudo o mais que envolve tolerância e intolerância, palavras obrigatórias na terminologia liberal. Tudo indica que nossa preocupação é com o outro. Mas, se pensarmos bem, não se trata de voltar a ver as coisas a partir da célebre frase sartriana. Não queremos nada com o inferno. As classes médias do mundo todo não estão a fim de nenhum sacrifício. Inauguramos desde o século XVIII a era antigravitacional: começamos com balões e agora não queremos nenhum peso a mais em nossas vidas. Queremos ser magros. Queremos verticalizar; arranha céus para morar e aviões para nos transportar. Nessa verticalização, o esforço não pode ser atroz como foi. Várias de nossas responsabilidades ou serviços braçais não podem mais estar no horizonte. Toda desoneração é bem vinda e as onerações que são sobrepostas às desonerações, e que podem até piorar a coisa toda, precisam vir sob o envólucro de um novo patamar de peso, uma novidade. Só o novo tem espaço. Dentro do objetivo de nenhum sacrifício, inclui-se aí o fim do inferno sartreano. Portanto, a supressão do outro. O outro é de fato um incômodo na nossa modernidade, não tem mais que ser o negativo para a construção da alteridade, mas simplesmente desaparecer. Tudo é facilitado num sentido “jovial”. Pais e até avós ficam parecidos com filhos e netos, professores não podem mais corrigir alunos, ninguém tem o outro, e sim advogados! As relações com o outro são feitas a partir das regras de acordos entre advogados, uma vez que a lei se tornou o elemento mediador de nossa vida não só pública, mas privada. Não temos mais o “conselho do outro” e menos ainda a “crítica do outro” uma vez que suprimimos o outro. A modernidade desde o seu início foi uma sociedade de supressão do outro.
Desse modo, tiramos do horizonte o lema iluminista de Kant, o sapere aude! ligado ao “pensar pela própria razão” para “sair da minoridade”, que implicava, claro, ter no canto da sala a razão do outro. No lugar disso nos embrenhamos na atividade de adoção de algum tipo de consultoria ou assessoria. Não temos mais o aprendizado pela interação com o outro em nossa formação e, assim, montados em uma subjetividade empobrecida, nos vemos na obrigação de contratar quem pensa e sente por nós – quem faz o papel de gerar um aparente diálogo em que nós parecemos estar falando e conversando. Alguém que fale palavras que nos faça ter a sensação de que podemos, talvez, estar vivos. Afinal, Walking Dead é uma série de sucesso, atualmente, porque há momentos que intuímos que só Heidegger, com o texto sobre o tédio, possa nos ter descrito na nossa vida moderna. Tirado o inferno que são outros, não ganhamos novos interlocutores, anjos de ensino mútuo, mas incultos espertalhões que, por sua vez, também têm seus coaches e consultores. Essas múmias desmumificantes nos falam por skype ou nos dão palestras em hotéis, empresas e “casas do saber”. Aliás, o nome “casa do saber” desde o início virou uma senhora ironia! Dissertam sobre tudo. Ou seja, falam sobre o nada. Falam frases de auto-ajuda que ouvimos porque tais pessoas estão na TV e esta, por sua vez, é sagrada em seu aval. O que a TV fala, até para muitos que a criticam, é lei.
Um mundo sem o inferno que são os outros é o nosso mundo. Chegamos a isso pela eliminação do outro, mas não apenas num sentido sociológico, mas profundamente filosófico.
Talvez devêssemos levar mais a sério o modo com que Peter Sloterdijk marca o advento da modernidade. No livro Im Welttinnenraum des Kapitals (O mundo interior do capital; publicado em Portugal com o título O Palácio de Cristal) (2005), ele avança a tese de que os jesuítas foram os primeiros modernos, exatamente por atuarem como sujeitos, mas principalmente por serem sujeitos para os demais, funcionando como consultores. Sujeitando-se ao Papa puderam vir a ser os sujeitos de todos, no sentido primeiro e segundo da palavra sujeito: sujeitos como os que se sujeitam e sujeitos que fazem a ação, e com autoridade, justamente por terem, antes, se sujeitado. Que não esqueçamos o lema da Igreja: “governar é servir”, o que não raro pode dar no “servir para governar”. Arrisquei em meu livro Para ler Peter Sloterdijk (Via Verita, 2017) a continuação dessa tese, lembrando a atividade dos jesuítas como casuístas, os que diziam aos não pensantes o que era e o que não era pecado, coisa que enfureceu sobremaneira Pascal. Todavia, Sloterdijk tem mais o que dizer sobre modernidade e subjetividade.
No primeiro volume da trilogia das Esferas, o Blasen (agora no Brasil com o título Bolhas, pela Estação Liberdade), ele caminha por uma “arqueologia da intimidade” que liga questões sobre uma espécie de topologia da psiquê. Para ele, não somos indivíduos, mas sempre “divíduos”, ou seja, uma subjetividade que é una e dupla e que, inicialmente, é assim em sua situação de sinestesia, a da vida do envólucro feto-placenta. Essa é a matriz original e que, portanto, comporta uma estrutura, a bolha, que é por si só o um-e-o-outro e o um-com-o-outro. Uma placenta não é um companheiro individualizado, mas ela própria é o perímetro e membrana de uma esfera na qual faz parceria com o feto, ou seja, consigo mesma. Todas as culturas arcaicas, diz Sloterdijk, perceberam isso e notaram a evolução dessa situação sinestésica para uma situação psíquica e social, e acompanharam isso por meio de uma simbologia que garantia ao homem essa transição. A modernidade cortou esse modus operandi, tratou a placenta como um pedaço de carne, jogou-a fora tirando-a da simbologia da cultura, passou tudo ao comando da higiene médica, ou seja, da nova medicina. A modernidade fez o trabalho de “refutação do espaço interior”. “É moderno quem negar ter estado alguma vez em um espaço interior”. Perdeu-se aí todo o apoio para dar continuidade ao que é a subjetividade não como intersubjetividade, mas subjetividade que já contém o outro, que é um “com”, desde sempre. Essa negação do interior, ou seja, a negação da casa da alteridade, levada adiante pela modernidade, põe na jogada um novo tipo de nascimento, o nascimento moderno. Tudo que preparava o “instinto de relação” (Buber), assim, quase desaparece. Mingua a ponto do outro ser procurado nas figuras-muletas: do coach ao palestrante inculto e pseudo-professor até chegar no consultor de indivíduos, empresas privadas e empresas estatais. Ou, no cotidiano, o Facebook. Sloterdijk mostra em dados estatísticos como a consultoria, como subjetividade sobressalente, se impôs na Alemanha. Ora, o filme que vimos, Fran e eu, significativamente é do mundo germânico. Mas pode bem mostrar o que já é do nosso mundo, nos Estados Unidos ou não Brasil.
Não poderíamos ter tirado da cultura, como tiramos, todo o aparato que nos dava a condição de montarmos e remontarmos continuamente nossa subjetividade em forma de, no mínimo, dois-em-um. Mas, em determinado momento, assim fizemos. Antes, a placenta ia embora e dava lugar para as vozes que, junto da voz da mãe e na separação desta, gerava o “amigo imaginário”, o “daimon”, o “anjo da guarda”, na psiquê do indivíduo, e no aparato simbólico social da cidade, da família etc. Agora, no mundo contemporâneo, e já há algum tempo em nossa modernidade, a placenta vai para o lixo e o bebê sai da mãe e vai para o berçário. Tudo é preparado para o surgimento de um indivíduo, mas como uma mônada, que irá se socializar, se quiser, pela linguagem. Esse tipo de modernidade faz, literalmente e metaforicamente, uma castração, aliás, bem representada pelo corte do cordão umbilical. De fato, uma castração.
Desse modo, nós modernos nascemos sem parcerias obrigatórias. Desenvolvemos uma psiquê pouco apropriada. Gerados nessa assepsia que nos coloca em socialização tardiamente (que é o que ocorre em especial na classe média), logo nos vemos num mundo em que o melhor é não ter inferno nenhum que sejam os outros. Não é que não sabemos lidar com o outro. Essa fase de intolerância, que foi de Locke a Sartre, está morta. Vivemos na situação em que a supressão do outro se completou. Não há a noção real de outro, apenas um fantasma, apenas idealização do que pode ser outro. Nessa idealização toda muleta de subjetividade é bem vinda.
O outro é, então, o coach ou o acadêmico-caça-níquel, que faz o mesmo papel da igreja-caça-níquel, ou seja, um falso eu que se opõe, um falso formador, um pseudo-interlocutor ou um adversário de mentirinha. Palestrante midiagogo, pastor amante do dinheiro ou vendedora Avon ou da Jequitibá fazem a mesma coisa. Os “amigos” da Internet, possíveis de serem “bloqueados”, são o exemplo maior desse tipo de pseudo-outro – para quem não pode realmente lamber seu guru. Esses elementos fingem poder estabelecer a reflexão no interior do indivíduo, servindo de outro, mas não podem. Quem está nesse meio já se transformou em alguém que não tem mais qualquer capacidade de ser sujeito. Tenta refletir, raciocinar, mas o máximo o que consegue é pensar por associação. Lontras, celulares e até militantes políticos conseguem pensar por associação.
Ser sujeito é ter uma teoria para guiar uma prática, é se por em ação com uma justificativa racional. Poucos hoje em dia têm essa condição. A quantidade de gente que precisa de um grilo falante, em nossos tempos atuais, criou o mercado do palestrante e do pastor falsário. O mundo contemporâneo de classe média está envolto nessa Internacional da Incultura. A ideia de autonomia não pertence mais ao nosso tempo. O autônomo abriu espaço para o autodidata que, como Mario Quintana dizia, é “o ignorante por conta própria”.
Na minha narrativa, o outro desaparece não pela mágica feita pela palavra capitalismo, que ao aparecer faz ressurgir as teses sobre a simples ampliação do esforço, do positivo e da maquinaria na qual nos transformamos no trabalho. O processo genético da antropologia que analisa a “arqueologia da intimidade” nos mostra um movimento lento no qual os rituais de higienização e desencantamento do mundo adentram o útero e transformam as narrativas sobre a vida do Aqui-Com internos à mãe. Quando isso está em pauta, lá fora, no mundo exterior à caverna uterina, os saberes sobre a biunidade, o duplo, já se tornaram folclore, mito, lenda ou, então, pseudo ciência. Desse modo, já não há mais base para se saber de onde vem o teimoso “instinto de relação”, com o qual as crianças nascem, como escreveu certa vez Martin Buber. Tudo que é solidaridade se torna muito difícil se as coisas se passam assim. Amor, então, nem pensar.
Paulo Ghiraldelli, 59, filósofo.