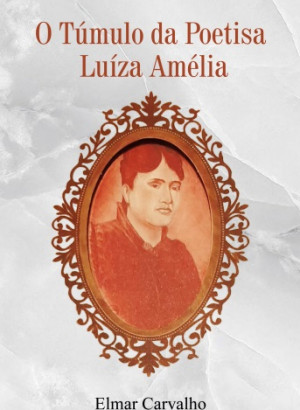A peleja do meme contra o PhD
 Por Bráulio Tavares Em: 25/02/2023, às 13H00
Por Bráulio Tavares Em: 25/02/2023, às 13H00

[Bráulio Tavares]
Quando o professor universitário e semiólogo Umberto Eco surpreendeu o mundo inteiro com o sucesso de um romance fascinante e difícil como O Nome da Rosa (1980), muita gente se surpreendeu com o fato de ele ter ambientado sua história num mosteiro católico no ano de 1327. Eco precisou explicar que conhecia a Idade Média muito melhor do que a época contemporânea.
Depois, num ensaio recolhido nas Viagens na Irrealidade Cotidiana (Ed. Record, 1984, trad. Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade), ele discutiu algumas idéias muito em voga nos anos 1980, em torno do conceito de “uma nova Idade Média”. E diz, a certa altura:
Nada é mais semelhante a um mosteiro (perdido no campo, cercado e rodeado por hordas bárbaras e estranhas, habitado por monges que não têm nada a ver com o mundo e desenvolvem suas pesquisas particulares) do que um campus universitário norte-americano. (p. 98)
As modas recentes do terraplanismo e do negacionismo médico trouxeram para o debate caótico das redes sociais o distanciamento entre os cientistas e as “pessoas comuns” (eu, por exemplo). Não sabemos nada de Ciência, ou melhor, sabemos o que lemos na imprensa (TV, revistas, a Web), misturado a noções que vimos quando éramos estudantes, e que já esquecemos quase por completo.
Nunca foram tão necessários os divulgadores da Ciência, as pessoas capazes de sintetizar conhecimentos científicos (mesmo com o risco da superficialidade), escrevendo para leitores medianamente instruídos, leitores com doses equilibradas de confiança e de ceticismo. O leitor que não lê “para acreditar” nem “para discordar”, mas lê pela necessidade de pensar mais aprofundadamente naquele assunto. Lê para se informar melhor.
Minha geração teve a sorte de ler autores para quem eu acendo uma vela mental todas as noites, em meus oratórios agnósticos: Fritz Kahn, Paul Karlson, Hendrik Van Loon, Henry Thomas, George Gamow... Ninguém lembra deles hoje: eu lembro, porque foi deles a primeira porta para assuntos que vi retomados, alguns anos depois, por Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Carl Sagan, Stephen Hawking.
A distância abissal entre cientistas e o grande público recebeu agora uma ótima sátira televisiva na série do Netflix O Mundo por Philomena Cunk, criado por Charlie Brooker, em que a atriz Diane Morgan faz o papel de uma “influêncer” com verba e sem noção, que viaja pelo mundo capitaneando um programa instrutivo onde ela conta (em 5 episódios de meia hora) a história da humanidade, enquanto entrevista historiadores, físicos, medievalistas, etc.
Os professores e professoras, europeus e norte-americanos, são todos verdadeiros, e tudo que eles dizem é dito a sério – com certa dificuldade, porque “Philomena” faz as perguntas mais abobalhadas e irritantes. Tiremos o chapéu aos professores e professoras que precisam responder questionamentos como: “Todo mundo sabe que o homem não foi à Lua; para começar, a Lua não existe, concorda?”.
“Philomena Cunk” representa aquela fauna de que o YouTube está cheio: pessoas jovens, cheias de energia e de ofuscante auto-estima, capazes de se comunicar instantaneamente com milhões de outros jovens em torno do fato de que todos ouviram o galo cantar e não sabem onde. Ou melhor, todos ouviram o galo cantar, mas alguns creem que é um galo alienígena, outros questionam a existência de galos e de aves em geral, outros dizem que aquilo não foi o canto do galo e sim uma simulação cibernética, outros perguntam por que quem canta é sempre o galo, e à galinha cabe apenas o papel subalterno de atravessar a estrada...
Enfim, é um caldo cultural de meias-informações, piadas, superstições, empirismo oitocentista, crendices, intuições interessantes, pensamento mágico, fabulações pessoais... O mesmo caldo cultural em que viviam as populações da Idade Média.
Umberto Eco descreve com riqueza de detalhes esse caldo cultural em O Nome da Rosa, e descreve seu equivalente moderno em O Pêndulo de Foucault (1988). Só que esse caldo está hoje potencializado pelo aumento da população, a crise da educação (cada país tem a sua, mas todos têm uma) e agora o crescimento desordenado (e ferozmente manipulado por quem pode) das comunicações eletrônicas.
“Philomena Cunk” viaja pelo mundo inteiro (principalmente graças à magia do chroma-key) e é muito divertido ver o olhar de terror de senhoras ponderosamente acadêmicas, cobertas de PhDs, diante do nonsense-mental absoluto da moça que as entrevista. É o século 21 descobrindo, horrorizado, o espelho.
É sátira, uma sátira feita com bons redatores – há muita piada boba, afinal o programa vem da pátria de Douglas Adams e do Monty Python, mas há muita piada engraçada e que vai na medula, idem ibidem. A apresentadora parece mesmo ser mentalmente avariada, conceitualmente descompensada, e tudo o mais; é uma ótima atriz. No programa sobre a Idade Média, ela entra na sala vazia de um castelo de paredes de pedras e ali, sozinha com a câmera, faz uma encenação verbal (com uma engraçada pós-sonoplastia fornecendo o fictício som ambiente) de uma festa da realeza. Um pequeno tour-de-force de texto e interpretação.
Somos tentados a ver em O Mundo por Philomena Cunk apenas a sátira dos “influênceres” que têm a arrogância dos comunicadores-natos somada a uma formação cultural capenga. Porém, a presença de tantos cientistas respeitáveis, homens e mulheres que dedicaram a vida inteira ao estudo aprofundado da História, da Sociologia, da Física, etc., toca insistentemente um outro sino. Quem está mais por fora do mundo real – ela, que não sabe de nada, ou eles, que sabem de tudo e se aterrorizam com o tamanho do abismo que nos separa?
Philomena representa o poder tecnológico do Presente, o de atingir instantaneamente milhões de pessoas; os professores representam o poder acumulado do Passado, um fóssil indestrutível mas que respira por aparelhos. Há uma briga permanente entre os dois, uma briga boa, uma briga inevitável desde o tempo das cavernas, e que a cada século muda de armas.
Como dizia Umberto Eco:
O outra Idade Média produziu no fim um Renascimento que se divertia em fazer arqueologia, mas de fato a Idade Média não fez obra de conservação sistemática, mas sim de destruição casual e conservação desordenada; perdeu manuscritos essenciais e salvou outros completamente irrisórios, raspou poemas maravilhosos para escrever em cima adivinhas ou preces, falsificou os textos sagrados interpolando passagens e assim procedendo escrevia os “seus livros”. (p. 98)
Estamos, aos trancos e barrancos, escrevendo os nossos.