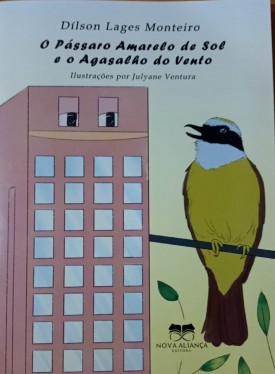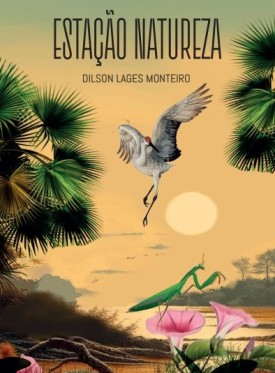Minha formação (4)
 Por Cunha e Silva Filho Em: 10/04/2015, às 10H27
Por Cunha e Silva Filho Em: 10/04/2015, às 10H27
Cunha e Silva Filho
A VIRADA. Vivi em Teresina dos três ou quatro aos até completar dezoito em dezembro de 1963. Em fevereiro do ano seguinte, 1964, embarquei de avião da Vasp para o Rio de Janeiro, espécie de turning point que, nessa cidade, mudaria o rumo de tudo, mas de tudo estruturalmente falando: vida pessoal, familiar, estudos, objetivos desviados, enfim, tudo. Teresina ficaria para trás durante dez anos em que, na hoje megalópole carioca, conforme disse anteriormente, as vias do percurso humano e intelectual iriam conhecer alegrias e ao mesmo tempo muitos óbices que dilacerariam em parte o meu mundo interior.
No entanto, aqueles dez anos de ausência de Teresina e de meus familiares, foram um tanto compensados pela volta à “Cidade Verde.”
Muita coisa acontece numa década de ausência, e isso foi constatado nessa minha primeira grande volta a Teresina, em julho de 1974. Fiquei deslumbrado com as mudanças da capital mafrense e, para isso, remeto o leitor a uma crônica, com título sugerido por meu pai (ele era ótimo para dar títulos a seus textos) “Impressões da Cidade,” que faz parte da minha obra As ideias no tempo (2010).
Falei acima que, ao lado do deslumbramento ou “alumbramento” bandeiriano, de rever Teresina, havia trazido comigo outras mudanças: não era mais o adolescente que mal completara dezoito anos, mas um jovem adulto de vinte e oito anos, casado, com dois filhos pequenos. i.e., um pai de família que viera abraçar os pais, irmãos, irmãs, parentes e alguns amigos.. Mamãe me achou pouco à vontade. Me dizia que não mais gostava dela como antigamente. Estava diferente, distante, quase um estranho. Disse-lhe que não, era só impressão dela, nada mais. Meu coração era o mesmo.
Acentuo, todavia, que a ausência de uma década, de certa maneira, havia sido amenizada por uma correspondência intensa entre mim e meu pai.
Através desse canal de comunicação por carta trocávamos afagos, confidências de toda a sorte e, por conseguinte, virtualmente, mantive um elo espiritual e intelectual com meu pai que se prolongaria por vinte e seis anos.Papai se queixava às vezes reclamando que eu quase não escrevia pra mamãe.
Expliquei-lhe que não era essa a minha intenção, porquanto, escrevendo-lhe, intencionalmente era como se estivesse também me dirigindo a mamãe, visto que a ela sempre me referia e bem assim a meus irmãos. Mas, assim mesmo, segundo ele, mamãe reclamava de que não lhe mandava cartas diretamente pra ela.
Hoje, entendo o motivo principal da preferência paterna: sempre estive em sintonia com ele mais por razões intelectuais. Tanto ele quanto eu nos entendíamos muito bem por via da dimensão intelectual. Nas cartas que lhe enviava em resposta às dele, que eram mais numerosas, sempre fazia comentários críticos, elogiando-lhe a qualidade de seus artigos, a propriedade do tema neles discutidos, seu estilo de escrita de um jornalismo “doutrinário,” segundo a referência que lhe fez o ilustre jurista e conterrâneo Cláudio Pacheco (1909-1993), que foi assistente, na Faculdade Nacional de Direito, de Pedro Calmon (1902-1985), historiador, professor, membro da Academia Brasileira de Letras, grande orador, ensaísta, político, biógrafo.
Pedro Calmon conheci pessoalmente no Rio de Janeiro no tempo a que a ele recorri pra conseguir gratuidade de inscrição ao curso de Letras na célebre Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, depois chamada Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na época, 1965. Calmon era Reitor da Universidade do Brasil e a reitoria ficava no aprazível bairro da Urca, hoje um velho prédio que comporta um dos campi da UFRJ. Recebeu-me com um sorriso cativante e, no corredor, atendeu-me ao pleito. Saí encantado com a sua cordialidade e simpatia.
Depois de cinquenta e um anos residindo no Rio de Janeiro, as reminiscências se embaralham em parte no meu espírito. Porém, a intenção destes relatos não tem cunho cronológico. Será exposta num vivém , em fluxo dependente do que possam as associações de camadas múltiplas do tempo me invadirem o ato da escrita e o desvio das linearidades temporais, ou, para usar um termo de G. Genette, das anacronias.
No meu primeiro regresso a Teresina, meu pai foi meu guia turístico e a ele devo o que me mostrou de novidades andando a pé pelas ruas do Centro de Teresina e, se mais afastado, tomando um ônibus não muito confortável, posto que já houvesse então novas linhas de ônibus. Fomos a uma redação de jornal para o qual estava escrevendo mais, o Estado do Piauí, de Josípio Lustosa. Passamos pela velha Praça Pedro II, parando um pouco para vermos o anúncio de algum filme do momento no Rex e no Theatro. Meu pai gostava de traduzir alguns trechos do cartaz de um filme italiano.
Nos dirigimo, depois, para a memorável Praça Rio Branco, locus no qual se reunia, no passado, a nata da intelectualidade piauiense e se distinguia igualmente por ter sido, no passado, o espaço público mais adequado aos grandes comícios políticos, assim como o fora a Praça Pedro II. Paramos numa lanchonete pra bebermos, cada um, dois copos de garapa bem geladinha, acompanhada de um delicioso pastel de carne moída. Uma delícia proustiana! Era costume dele me perguntar se queria repetir o lanche, fosse um copo de garapa, uma prato de coalhada, um sorvete de bacuri ( para mim, a fruta mais gostosa do planeta, que até dela fiz matéria de uma crônica), entre outros refrescos imperdíveis de frutas da terra.
Quando era pequeno, fazíamos isso com frequência, sendo que ele não esquecia de me tomar pela mão e gostava de, a intervalos, dar um aperto mais forte e carinhoso com aquelas mãos lindas que Deus lhe deu e que, em Amarante, na sua juventude e mocidade - se dizia - serem as mãos mais lindas da cidade. Meu filho mais velho, o advogado público e professor universitário de direito, Francisco Neto, a meu ver, herdou-lhe a beleza das mãos.
Fomos ao aeroporto de Teresina. Até hoje, não sei por que me levara pa aquele lugar. Seria por que o associava à possibilidade de partidas e de despedidas com o coração entrecortado de saudades antecipadas. Esse fato me leva também - e não sei por quê - ao emblemático poema “Sentimento de um Ocidental," de Cesário Verde (1855-1886). Quem pode decifrar os escaninhos das memória e das sondagens profundas do tempo passado? De repente, sentados que estávamos a uma mesa de um espaço aberto do aeroporto e bebericando um refrigerante, meu pai solta essa declaração num tom de desabafo e de pedido de perdão: “Meu filho, você se fez sozinho. Conseguiu, até agora, realizar tudo sem a minha ajuda.” Nada fiz por você.”
Naquele instante de quase silêncio, reparei com atenção no seu belo semblante, de rosto arredondado e voz expressiva, aquela voz que, por vezes, por causa dos anos, com esforço mal consigo ouvir agora e que, por isso, me causa tristeza. O som, o cheiro, o perfume impregnados na memória nunca deveriam se perder no tempo da velhice. Estávamos, segundo assinalei linhas atrás, no mês de julho de 1974. Foram alguns dias de férias que aproveitei a fim de matar a saudade dele, de mamãe, de meus irmãos e alguns parentes mais queridos Àquela altura da vida, ainda cursava a universidade (demorei a concluí-la) e trabalhava, no Rio de Janeiro, capital do então denominado estado da Guanabara, no bairro da Penha, como professor de inglês e português de cursinho pré-vestibular (Curso Policultura) e preparação para os exames do Artigo 99. (Continua).