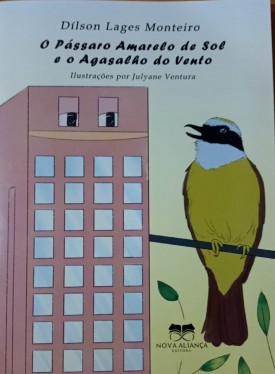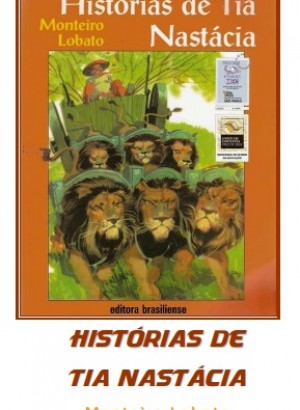Ingmar Bergman
 Por Bráulio Tavares Em: 03/08/2007, às 13H25
Por Bráulio Tavares Em: 03/08/2007, às 13H25

O mundo está ficando mais deserto. Quando morre uma pessoa como o cineasta sueco Ingmar Bergman, a sensação que eu tenho é de olhar em volta e não estar vendo ninguém. Como se todos os personagens criados por ele ficassem transparentes, quase invisíveis, num estalar dos dedos. Bergman nunca foi o meu cineasta favorito, mas no tempo em que eu abri os olhos para o Cinema de Arte ele pontificava absoluto, incontestável, unânime. Mesmo os que não gostavam de sua temática sombria reconheciam o primor de sua linguagem. Fazia um cinema denso, sofrido, existencial, maduro. Paulo Francis disse certa vez: “A diferença entre Godard e Bergman é que Godard leu a orelha do livro, e Bergman leu o livro”.
O filme típico de Bergman é a história tormentosa da relação afetiva entre pessoas maduras. Aqui entram “A Hora do Amor”, “Cenas de um Casamento”, “Persona”, “Gritos e Sussurros”, filmes introvertidos, magnificamente fotografados. Como dizia Francis, Bergman sabe como ninguém dar concretude às pequenas coisas: uma xícara, uma janela, uma mão. Há vários títulos seus que nunca vi, talvez seja este o momento de conhecê-los: “O Silêncio”, “Sorrisos de uma Noite de Amor”, “Noites de Circo”, “Fanny e Alexander”. É uma obra imensa, mas hoje felizmente acessível em DVD.
Tenho uma queda especial pelos seus filmes que envolvem elementos fantásticos. “O Sétimo Selo” é uma fábula medieval sobre um mundo devastado pela peste, a qual no fim arrebanha a todos, menos um casal de saltimbancos. A imagem final, dos seis mortos dançando de mãos dadas na colina, conduzidos pela Morte, é uma das mais belas do cinema. “O Rosto” é a história de um mágico que visita um castelo e revoluciona as vidas de todos com seu ilusionismo. “A Hora do Lobo” fala dos fantasmas e dos pesadelos de um artista, tão intensos que sua esposa acaba por vê-los. Também gosto (ao contrário da maioria dos críticos) das suas obscuras e incômodas alegorias políticas como “Vergonha”, um filme sobre a sordidez moral imposta pela guerra, e “O Ovo da Serpente”, uma mistura de “1984” com “O Show de Truman”, em que um casal é submetido à revelia a cruéis experiências psicológicas.
Bergman costumava trabalhar com os mesmos atores, os mesmos técnicos (como o diretor de fotografia Sven Nykvist, um dos melhores do cinema), os mesmos enredos. Não era um cineasta fácil, e hoje não sei se é um cineasta para ver e rever obsessivamente aos vinte anos, como fazíamos. Pelo impacto massacrante de suas imagens e pela imensa verdade psicológica transmitida por seus atores, ficávamos com a impressão de que a vida real era aquilo e nenhuma outra coisa. Ficávamos achando que tínhamos de pensar como os personagens de Bergman, sentir como eles, experimentar a vida como eles. Não era só imaturidade emocional ou postura colonizada diante do cinema europeu. Era porque um prato na mesa, num filme de Bergman, parecia mais real do que o cinema onde estávamos.