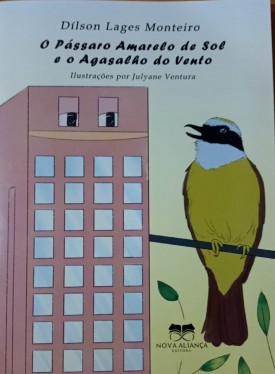Economia e filosofia: a subjetivação do teoria do valor
 Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 09/03/2021, às 23H31
Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 09/03/2021, às 23H31
[Paulo Ghiraldelli Jr.]
Todos nós acreditamos na lei da oferta e procura. Ela é uma lei válida. O senso comum se refestela com tal sabedoria. Entre o final do século XIX e início do século XX, ela se instaurou na academia. Hoje em dia, é o que é ensinado nas escolas de economia. Virou parte de uma teoria! A teoria marginalista em economia acredita que, com ela, pode explicar quase tudo, e até mesmo o valor das mercadorias.
A ideia básica dessa teoria aparece nos manuais a partir de um apego ao desejo humano. Se tenho sede, meio copo de água ganha tanto valor para mim quanto teria um copo cheio, caso eu tivesse menos sede. É uma nítida teoria em que o comportamento humano é que determina o valor, num favorecimento claro de uma diretriz dos tempos modernos tardios: o subjetivismo e seu corolário, o psicologismo.
A subjetivação do mundo e seu penduricalho, o psicologismo, são notados por várias visões filosóficas. Mas a a própria economia, enquanto disciplina acadêmica atual, por estar demais mergulhada nisso, nem sempre percebe essa sua própria circunscrição. Os alunos de cursos de economia, não raro, não sabem que um dia existiu outra teoria do valor, gerada a partir de uma visão menos psicológica. A teoria do valor vinda dos clássicos, vigente até o final do século XIX, era a teoria do valor-trabalho. As mercadorias possuem valor por conta do trabalho abstrato nelas contido, o que Marx chamou de trabalho socialmente necessário. Marx aprendeu tal coisa de Adam Smith e David Ricardo, mas ele foi muito além deles. E não só por conta da sua teoria da mais-valia, mas também por recompor a teoria do valor-trabalho por meio do conceito de trabalho abstrato, gerando uma caracterização estupenda da sociedade capitalista como sociedade do fetiche.
A filosofia pode bem explicar essa passagem da preferência entre a teoria do valor-trabalho para a teoria marginalista. Podemos, por exemplo, sacar de uma história da modernidade criada por Heidegger, ou mesmo ficar no próprio marxismo, que após Marx também forneceu uma explicação para tal desdobramento.
Se olhamos por Heidegger, por exemplo, entendemos a modernidade como a “época das imagens de mundo”. O filósofo alemão nota o advento de Descartes e Kant como sendo o tempo da instauração do vocabulário que contém os termos sujeito e objeto em um sentido humano. Ao contrário dos antigos, que não viam sujeito e objeto com sendo o homem, mas como substância e base gramatical, os tempos modernos criaram uma “metafísica da subjetividade”, uma teoria filosófica que fez do homem a substância, o fundamento de tudo, uma vez que o Cogito cartesiano seria a base para a primeira certeza. Assim, sendo função do homem, o próprio mundo passou a ser uma representação – representar é uma atividade humana. O mundo se tornou algo para o homem, sendo este, agora, o sujeito. Tudo se fez tendo o homem como palco e ator; e o homem, em sua inteireza, uma vez posto pelo subjectum, se fez objectum. Assim, o homem teria adquirido força manipuladora sobre tudo. A metafísica da subjetividade se transformou em metanarrativa das narrativas científicas. A ciência moderna, altamente manipuladora, abriu seu ventre para a técnica. Somos objetivamente o mundo da técnica ao mesmo tempo que somos propensos a tudo subjetivar e, numa virada decisiva para o humanismo, a psicologizar. (Para mais compreensão disso ver: Ghiraldelli, P. Narrativas contemporâneas. São Paulo: CEFA Editorial, 2020).
Por essa filosofia, entendemos todas as ciências como tendentes à psicologização. Por que a economia escaparia disso? Ela, de fato, não escapou. Só os economistas jovens não sabem disso.
Mas, enfim, se quisermos recorrer ao próprio marxismo, também ele fornece uma explicação para a psicologização da economia. O marxismo possui duas maneiras de explicar isso. Essa dupla maneira advém, inclusive, de podermos fixarmo-nos mais na formulação do Manifesto comunista ou na primeira parte do livro I de O capital.
Pela ótica do Manifesto, a luta de classes nos mostra uma burguesia revolucionária que busca enxergar o mundo objetivamente, para então desvendar as ideologias e romper com amarras feudais. Mas mostra também a burguesia se tornando reacionária, e voltada antes com a criação e divulgação da ideologia que com a busca de verdade. É a época em que o liberalismo deixa de ser libertador para se fazer de teoria que apela para direitos formais exatamente para negar direitos mais amplos. O psicologismo da teoria econômica seria uma parte dessa ideologia. As tramas sociais seriam esquecidas, e o indivíduo rei surgiria como o grande determinante do jogo social. Não à toa, portanto, ele, o indivíduo humano, seria único elemento responsável pela valoração, em especial o valor das mercadorias.
Todavia, pela leitura de O capital, teríamos de adentrar a própria teoria do valor de Marx, ver a sociedade pela ótica da consequência dessa teoria na teoria do fetiche, e então entender em que medida o próprio capitalismo, pela sua dinâmica, gerou sua ideologia, o que conduziu ao psicologismo e à hegemonia da teoria marginalista.
Se pegamos uma tal via, temos então de recordar alguns elementos da teoria marxista do valor.
Marx considera a mercadoria como sendo algo prosaico, mas só por meio de uma visão de banalização. Procurando uma visão mais acurada, Marx diz que não poderia deixar de notar a mercadoria como algo misterioso, por conta de seu caráter sensível e supra sensível ao mesmo tempo. Ela teria valor de uso, algo bem sensível, concreto; mas também teria valor, algo que nada seria senão o trabalho abstrato nela contido, ou seja, a quantidade de tempo nela contida, o tempo de trabalho socialmente gasto para fazê-la reaparecer diante de nós, consumidores, como objeto sensível.
Marx tira essa conclusão de sua observação em que a mercadoria surge como algo efetivamente do mercado, ou seja, do mercado capitalista, de modo que ela, a mercadoria, ganha valor de troca. Mas esse valor de troca é contínuo, um processo social que ao fim e ao cabo faz todas as mercadorias poderem ser trocadas por uma delas, até poder então requisitar a noção de dinheiro. Cada mercadoria é trocada por dinheiro e, uma vez nas mãos do consumidor, volta a ter valor de uso, mas de modo imperativo, agora, pois também nela se insere todo o trabalho humano abstrato das outras mercadorias, que animam o valor de uso e fazem com que os homens imaginem que o que anima cada mercadoria não seja essa parte humana que ela guarda, mas algo que é da própria natureza das mercadorias. A mercadoria é, então, um fetiche: algo material que se move aparentemente por si só, mas que se move mesmo, realmente, por conta de ser a incorporação da atividade humana nela contida.
Assim, para Marx, não há uma representação do mundo que, como representação, vem de uma fonte psicológica, que inverte as coisas. Há sim uma inversão real do mundo. As mercadorias de fato se insurgem contra os homens como o que é criado pelo homem, mas, sem que eles notem que tal poder vem de si mesmos, enquanto os que deram a elas caráter supra sensível humano. Assim, a mercadoria se põe diante deles se fazendo de sujeito, e passa a submete-los, dando-lhe ordens. Marx chega a usar a ideia da religião para explicar o caso: os homens criam os deuses que, uma vez criados, submetem os homens. Mas essa metáfora não é boa. Pois ela apela para uma inversão mental. A inversão do fetiche da mercadoria, e que se estende ao dinheiro, que é o meio pelo qual o valor se expressa, é uma inversão da realidade. O homem realmente fica sob o jugo dos desejos da mercadoria – ela adquire desejos e comando. Ela adquire a condição de ser vivo, o sujeito, e o homem é aquele que lhe obedece sentindo sua força material e simbólica, como o que lhe impõe vontades por si e pelo dinheiro.
O dinheiro, assim, não tem força sobre o homem por poder comprar coisas, mas porque ele é a expressão do valor, e este, por sua vez, está incorporado à mercadoria como a substância imaterial que transpassa todas as mercadorias: o trabalho abstrato, a atividade humana abstrata. A mercadoria é objeto, mas o seu valor não é valor de uso somente, é, uma vez como valor de uso, também valor, o fazer humano que perpassa todas as mercadorias. A força da mercadoria sobre os homens advém da força do valor, objetivo, sobre qualquer indivíduo psicológico.
Sentimos isso se entramos numa loja e vemos que a mercadoria não está sob nosso comando, mas ela nos comanda por conta de seu caráter de fetiche: podemos ter dinheiro para levar uma calça comprada na loja, mas ela, antes disso, nos dará ordens, irá nos fazer nos adaptarmos a ela. Iremos a uma academia ou mesmo nos cortaremos com algum médico para cabermos na calça. O morto comanda o vivo ou, melhor, a mercadoria é agora o vivo e nós, definitivamente, os mortos. Como ainda andamos, então a melhor imagem para nós é a de zumbis.
Desse modo, o mundo dos homens da sociedade burguesa ou moderna é o mundo dos zumbis. Seres que possuem uma restrição psicológica. Seres de desejos menores, obsessivos. Seres assim são de fato muito propensos a um tipo de narcisismo, capazes mesmo de achar que um copo de água dependa, para ter valor, da sede. Zumbis tem uma forte tendência narcísica, acham que tudo gira em torno deles. Não se desviam facilmente. A teoria marginalista é uma teoria para zumbis. Funciona e é lei por causa de que, de fato, somos zumbis.
Se voltarmos a Heidegger, poderemos dizer que é o homem, pondo-se no mundo como sujeito, que transforma tudo, inclusive a si mesmo, como objeto; gera zumbis dominados pela ideia de que tudo é feito sem o pensamento, somente com técnicas, e desejos que podem se tecnicizar – tecnologias do eu! Se ficamos com Marx, podemos dizer que o império da técnica é parte da ideia da inversão real que faz com que a mercadoria – inclusive aí o conhecimento e as técnicas – se autonomizem como fetiches.
Quando era mais jovem, achava que essas narrativas eram excludentes. Hoje, acho que são perfeitamente complementares.
Paulo Ghiraldelli Jr, 63, filósofo. Centro de Estudos em Filosofia Americana (CEFA)