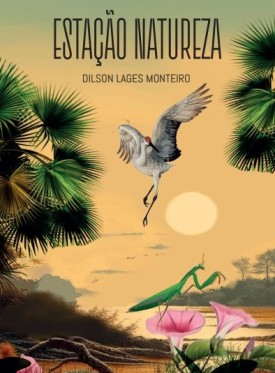AVANTESMAS
 Por Miguel Carqueija Em: 17/01/2011, às 12H06
Por Miguel Carqueija Em: 17/01/2011, às 12H06
Mais uma vez na berlinda, o Necronomicon de H.P.Lovecraft
(Miguel Carqueija)
Empenho a minha honra em como são verdadeiros os acontecimentos que me proponho a narrar. Ainda que terrificantes, de uma hediondez que raia pelo absurdo, são reais, a não ser que eu de há muito haja caído nos domínios da loucura. Ai de mim! Hoje eu reconheço como é insano o hábito da vida solitária e anti-social, sem relações e vínculos. Como um desgarrado, assim permaneci durante décadas, afastado da família, vivendo de meus negócios problemáticos, desinteressado pelo casamento, avesso às verdadeiras amizades. Rodei e vaguei por esse Brasil afora, senão do Oiapoque ao Chuí, pelo menos de Salvador a Porto Alegre, até que o cansaço, as economias e a herança de um tio rico me fixaram numa pequena cidade do norte fluminense, desconhecida e esquecida, bucólica e estacionada no tempo, chamada Pedra Torta. Há vinte anos esse meu tio residia num velho casarão do bairro dos Poetas, afastado de outras residências, no alto de uma colina ventosa e cheia de árvores retorcidas e torturadas. Com a morte desse parente eu herdara a mansão, já que os filhos do falecido tinham dado preferência a imóveis muito mais valorizados, em Campos e no Rio de Janeiro. Ninguém queria o casarão, de maneira que eu, o parente esquecido, acabara por herdá-lo sem ser consultado.
Eu já estivera lá cerca de cinco anos atrás, quando a minha velha tia ainda era viva. Formavam ambos um casal muito estranho, que podia ter saído de um desenho animado. Ela muito alta, esquelética, geralmente vestida de negro, portando uma piteira usada; ele baixo, feioso, atarracado, cheio de maneirismos e trajando de maneira antiquada. Eu, um caixeiro-viajante, estava só de passagem em Pedra Torta e nas poucas horas de minha visita aos tios achara-os nervosos e pouco à vontade. Eram realmente estranhos: olhavam muito para os lados, como se receassem que alguma coisa horrível saísse pelas tábuas da parede; sua comida era estranhíssima, incluindo uma fétida sopa de cogumelos que parecia saída do caldeirão das bruxas; e ambos davam quase a troco de nada uns risinhos paranóicos, neuróticos.
Lembro-me de um acontecimento particularmente singular. Numa salinha de paredes carcomidas encontrava-se uma velha estante de mogno, com uns livros do tempo do onça. Dei uma olhadela distraída, pois naquela época não era lá muito amigo de leituras (o que mais tarde se modificou). Recordo que lá estavam “O mistério do quarto amarelo”, de Gaston Leroux, “Os canibais do Pacífico”, de Emílio Salgari, “O lobisomem”, de Alexandre Dumas, e outros títulos no mínimo inquietantes; então, por mera curiosidade, retirei um livro de título no mínimo extravagante: o “Necronomicon”. Era um volume pesado, repleto de páginas, com letras miúdas, e seu autor era para mim um completo desconhecido.
Eu colocara o alfarrábio sobre uma desconjuntada mesa e começara a folheá-lo, quando o tio Altamiro acercou-se com ar de censura:
- Não deve ler isso. É muito pesado.
- Ué, mas já está apoiado...
Distraído, eu não entendera de início a observação. Entendi logo em seguida, mas nesse momento virara a página deparando com uma ilustração horrenda.
- Cruz Credo! – exclamei, repugnado. O que vem a ser isso?
A figura, que ocupava toda uma página ímpar, era de um ser horripilante, que parecia algum demônio das profundezas ou coisa pior. Era de um verde garrafa, escuro e sinistro, e sua boca rasgava-se num sorriso sádico e escarnecedor. Sua cabeça, despida de cabelos, eriçava-se em cornos ou protuberâncias de pequeno porte, e suas orelhas eram horrivelmente pontudas. Seus braços possuíam membranas de peixe, na altura das axilas, e uma veste algo militar (romana) cobria a maior parte de seu tronco. Usava calças e botas, e uns adereços e alamares nos ombros e na cabeça.
- Iznogud – falou o tio Altamiro, temporariamente esquecido da sua censura. – Um ser ancestral de imenso poder. Pertence à estirpe dos fantasmas.
- Ora, é só uma superstição.
- Não diga isso! Todos esses seres de lenda – duendes, goblins, trolls, fadas, gênios, sílfides, anões... são raças que existem na Terra desde remotíssima antiguidade. Foram obscurecidos pelas luzes da civilização. Sabia você que no asfalto, nas ruas poluídas e movimentadas dos grandes centros, nos arranha-céus comerciais, cheios de eletricidade e computadores, eles não podem prosperar? É por isso que a civilização moderna representa uma proteção para a humanidade. Ou melhor, uma barreira entre ela e estes seres que, no entanto, foram os donos da Terra. Houve um autor de ficção científica, Clifford D. Simak, que reconheceu esse fato, no seu romance “Reserva dos duendes”. Agora, se a civilização da tecnologia um dia vier a cair, os seres das lendas voltarão. É isso, pelo menos, o que diz no Necronomicon.
- Bem, isso é ótima idéia para um bom filme de terror. O senhor já leu esse livro? É grande à beça!
- Já o li de cabo a rabo. Mas você não gostaria dele. Impressiona muito. Veja esse outro aqui...
Mostrou-me o “Arquivos do insólito”, decididamente mais leve, apesar dos temas abordados. Em pouco, de livro em livro, esqueci-me do “Necronomicon”.
...............................................................
Passaram-se os anos e afinal retornei à casa, como herdeiro. Parecia-me um pequeno milagre que eu me visse, afinal, como um proprietário de imóvel, até então um sonho inacessível.
É compreensível, portanto, que eu me dirigisse ao casarão imerso numa espécie de transe. Era incrível, era incrível, eu pensava. E lá ia, com minhas malas. Lembrava-me bem do trajeto e não tive maior dificuldade em chegar à colina.
Não me preocupava muito com o estado do imóvel, que o meu advogado informara estar bom: mobiliado, sem goteiras ou infiltrações, e com a faxina já providenciada, Eram umas cinco e meia da tarde, num dia quente e com o céu repleto de nuvens estáticas e avermelhadas pelo sol poente. Quando eu comecei a me afastar das casas, já avistando a construção da colina, fui sentindo uma estranha opressão no peito. Senti-me repentinamente angustiado, inquieto por alguma razão obscura e só conhecida pelo meu subconsciente. O que seria? Talvez a curiosa geometria daquela casa e as sombras insólitas que ela derramava outeiro abaixo? A certa altura eu notei o desenho de uma foice numa ruína próxima, o resto de um antigo muro. Procurando compreender aquela visão, circunvaguei o olhar pelo alto do casarão até localizar uma calha fora do lugar, a única coisa que, por estranho que me parecesse, podia justificar a sombra da foice. Prossegui meu caminho sentindo incômodos arrepios que a temperatura da tarde não justificava. A visão da casa de meu tio tornava-se cada vez mais opressiva a cada passo que eu dava.
Quase poderia jurar que uma misteriosa voz interior me sussurrava: - Não vá! Não entre! Vá embora, não entre nesse lugar!
Mas que poderia eu fazer, senão entrar? Era tarde para recuar. E nem haveria um motivo plausível.
Por fim, forcei uma racionalização tranqüilizadora. Era apenas uma casa. O máximo que me poderia acontecer seria sofrer um assalto, mas as chaves e fechaduras, pelo menos, haviam sido modernizadas. Eram “papaiz” Cheguei então na porta principal, sob um limoso alpendre, e entrei.
Não vou enganar ninguém e nem dramatizar excessivamente a situação. Havia boas lâmpadas instaladas, água corrente e gás de botijão; tudo estava em relativa ordem e nada especial chamou a minha atenção naquelas primeiras horas. O medo mórbido que eu sentia desvaneceu-se como uma fumaça. Eram tudo tolices da minha imaginação, do meu esgotado sistema nervoso.
Enquanto planejava alguma atividade naquele município, antes que as minhas economias acabassem, fui vivendo uma vidinha despreocupada. Passaram-se três dias. Era um sábado à noite e, deitado no leito do quarto que havia escolhido, iluminado fracamente pelo luar e um quebra-luz, eu me distraía observando as rachaduras do teto e uma teia de aranha.
Estranhamente, o meu estado de espírito foi se alterando. Percebi, a certa altura, que as formas geométricas do teto eram extremamente simétricas e retas. Que coisa extraordinária, não tinha reparado nisso antes! A casa toda me parecera bem velha e portanto desgastada, sem linhas perfeitamente retas. E agora elas lá surgiam, em frisos paralelos, e a própria teia de aranha, amplificando-se anormalmente, afigurava-se agora um funil quadriculado que descia e descia em minha direção...
Aquela alucinação durou terríveis e intermináveis segundos, até que algo desceu por um dos fios – e algo que parecia uma aranha, mas foi crescendo, crescendo, e de repente lá estava na minha frente um ser horroroso, asqueroso, que parecia sem tirar nem por aquela velha gravura do Necronomicon...
Perdi de vista, em minha memória, o que aconteceu logo em seguida. Dei por mim encolhido a um canto da parede, presa de um acesso incontrolável de tremedeira...
............................................................
Conviver com o horror. Não sei se muitas pessoas, aqui neste plano, já passaram alguma vez por experiência tão medonha, difícil até de expressar por palavras. Toda noite Iznogud, que assombrava aquela casa amaldiçoada, vinha me visitar com suas zombarias blasfemas, e só com o tempo é que eu percebi que por trás de suas bazófias escondia-se o desespero de uma alma perdida, proveniente das eras do caos que imperava no começo do mundo (como diz no Gênesis, “a Terra estava informe e vazia”).
Afirmava ele que os poderes dos antigos voltariam um dia a prevalecer, que a humanidade seria destronada e que o Mal é mais poderoso que o Bem, além de outras blasfêmias que não ouso reproduzir. Ria e gargalhava às minhas custas, prazeroso com o meu terror. E o pior de tudo naquilo é que eu não podia sair daquela casa, pois iria morar em baixo da ponte. Deixara tudo para trás e não tinha dinheiro para comprar outra casa ou mesmo alugar uma. Não tinha amigos ou parentes a quem pudesse recorrer. Assim estava, de uma hora para outra, “abandonado por Deus e pelos homens”, como dizem que se queixou Voltaire na hora da morte. E assim eu era obrigado a conviver diariamente – à noite, é claro – com o terror, fizesse o que fizesse durante o dia. Iznogud e outros fantasmas horrendos vinham inevitavelmente me assombrar, mesmo que eu mantivesse as luzes acesas.
Eu me encontrava à beira da loucura e sabia disso. Por vezes, em desespero de causa, entrava na igreja e rezava – eu, que não rezava desde os 16 anos – mas não me atrevia a contar meu problema a um padre, ou a qualquer mortal.
Que me restava? O suicídio? O temor da outra vida me impedia. A existência me parecia totalmente repugnante e desesperada, quando tomei a resolução drástica e espantosamente simples.
Até aqui eu não revelei que haviam sido conservados na casa alguns livros de meu tio, inclusive o velho e sebento exemplar do Necronomicon. Lembrando-me disso, certo dia, pela altura do meio-dia (onde eu julgava ser menos vulnerável às forças do Além) apoderei-me do amaldiçoado livro e queimei-o na varanda, sem me importar que alguém visse o que eu fazia. Queimei-o até que nada mais restou, senão cinzas negras. Eu nada vi de especial, nenhum clarão, nenhuma aparição macabra, nada que apontasse influências sobrenaturais. Aproximei-me da noite apavorado como sempre, pois o que fizera nada mais era que um palpite que não me tranqüilizava. O fato, porém, é que naquela noite os trasgos não retornaram. Nem naquela noite, nem nunca mais. Por via das dúvidas, assim que foi possível consegui um padre para exorcizar a mansão. O trauma, porém, acompanhou-me pela vida e certamente nunca irá cicatrizar, enquanto eu estiver neste mundo.
Tenho apenas um conselho a dar a quem vier a ler estas linhas: nunca guarde o Necronomicon em sua casa.