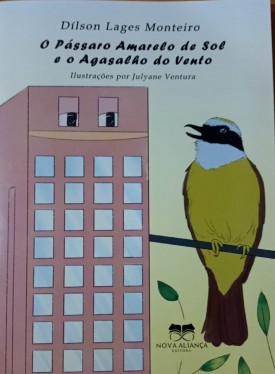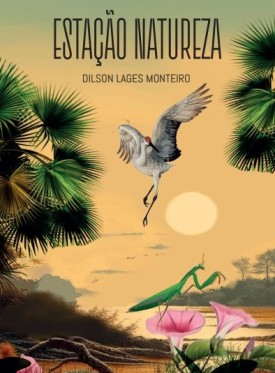As mortes de veneza
 Por Bráulio Tavares Em: 14/08/2022, às 20H11
Por Bráulio Tavares Em: 14/08/2022, às 20H11
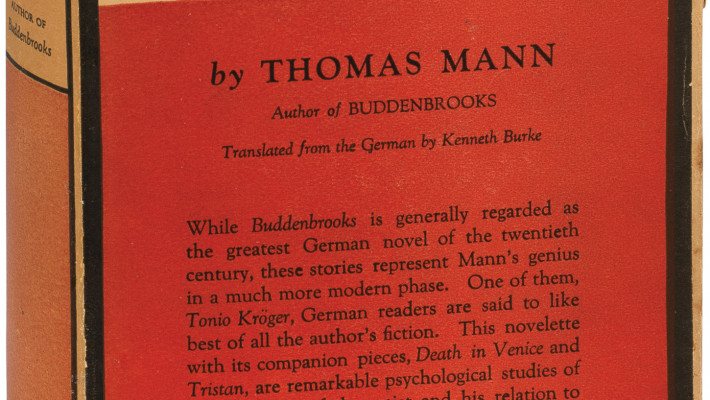
[Bráulio Tavares]
Dizem que Veneza é a cidade mais bonita do mundo (dizem isso de outras, também; é um esporte inofensivo). E eu reflito que talvez seja também a mais perigosa, dada a quantidade de histórias tenebrosas e cruéis que acontecem ali. (Não me refiro à cidade real, que não conheço, mas à cidade “dramatúrgica”, vítima da fantasia dos escritores.)
Por que Veneza? Veneza é talvez a alegoria da Beleza clássica cujo destino é se afundar na lama da Modernidade e do Futuro. Um ser que atinge o auge de sua beleza no mesmo instante em que lhe é comunicada sua morte inevitável. É uma cidade moribunda, uma cidade saturada de História e de beleza artística, mas que “afunda um milímetro a cada gole”, como na canção de Lenine e Lula Queiroga.
“Venice Drowned”, de Kim Stanley Robinson (1981; está em Planeta Sobre a Mesa, Ed. Caminho, Lisboa) é um conto clássico da ficção científica, e imagina um futuro em que milhares de turistas continuam visitando as catedrais, os museus e os palácios dos doges – usando aqualungs, e tendo mergulhadores como guias.
Talvez o texto mais célebre sobre a morte da cidade seja Morte em Veneza (1912) de Thomas Mann, brilhantemente filmado em 1971 por Luchino Visconti. Nele, um escritor de certa idade (um compositor, no filme) se apaixona platonicamente por um rapazinho de rara beleza. Thomas Mann era um daqueles intelectuais europeus para quem a Grécia era a fonte de tudo; não apenas de conceitos universalizantes como Beleza e Verdade, mas também de uma mitologia exuberante, feita de deuses “humanos, demasiado humanos”.
No livro, Gustav von Aschenbach está em Munique, na famosa crise da meia idade, e um dia, esperando o bonde diante de um cemitério, vê inscrições como “Eles entraram na morada do Senhor”, “A luz da eternidade brilha sobre eles” e é agarrado pela consciência súbita da própria morte. Vê um indivíduo ruivo que o encara à distância, numa pose arrogante, e isto o inquieta, desperta nele a vontade de recuperar a vida num lugar exótico e distante:
Sua imaginação, ainda em plena fermentação devido a horas e horas de trabalho, passou a prefigurar todos os terrores e maravilhas de um mundo múltiplo e variado que sua mente, de súbito, tentava conceber; (...) por entre uma densa e emaranhada floresta de bambus, ele entreviu a cintilação dos olhos de um tigre agachado, e sentiu seu coração pulsar de medo, e de misteriosos desejos. (Cap. I; trad. BT)
Estou traduzindo da versão em inglês de Kenneth Burke (1925), que dizem ser a melhor, e de fato nem parece texto traduzido, parece algo que já foi escrito tendo a melodia inglesa em mente (claro que não posso opinar quanto à fidelidade ao original).
Aschenbach parte para Veneza, numa viagem atarantada, cheia de contratempos devido a seu temperamento hesitante, irritadiço. Lá, ele avista à distância o jovem Tadzio, de uma família nobre polonesa. Fica stalkeando o pobre do rapaz à distância, respeitosamente, e a certa altura é informado de que Veneza está sob uma epidemia de cólera. Ele decide ficar, enquanto a família do rapaz não for embora.
Como o típico europeu de sua classe e de sua época, ele é pomposo, meticuloso, mãos às costas, cioso de sua aparência e do “von” de seu nome, uma honraria recente. Passa horas ao espelho se aprontando para o jantar no hotel, e nisso lembra um pouco o protagonista do conto de Machado, “O espelho”, que só consegue se ver refletido quando veste a farda de alferes.
No filme de Visconti, o diretor reforça com delicadeza esse zelo pela imagem, quando faz Aschenbach, pronto para descer ao restaurante, beijar as fotos da filhinha e da esposa, já falecidas. Uma família virtual, pictórica.
As praias estão cheias de mulheres, crianças e babás, mas Veneza é uma cidade condenada: a epidemia do cólera se alastra por baixo do pano, enchendo as estações e esvaziando hotéis, mesmo sendo negada com ansiosa veemência pelos que vivem do turismo. (O filme pertence ao gênero “Catástrofes Negacionistas”, ao lado de Tubarão, Inferno na Torre e muitos outros.)
Um episódio-chave da história é no meio da narrativa, quando Aschenbach resolve ir embora, despede-se (à distância, e mudamente) de Tadzio, mas na estação de trem é surpreendido pelo extravio de sua bagagem. “A contragosto” (pois é tudo que ele deseja), perde o trem e precisa voltar para o hotel.
Ora, eis aqui uma aventura, maravilhosa, desconcertante, com a comicidade de um sonho, quase inacreditável: eram lugares aos quais ele acabara de dizer adeus para sempre, mergulhado do mais abjeto dos desalentos , e no entanto tinha dado meia volta e retornava agora pela mão do destino, e voltava a vê-los menos de uma hora depois! (...) [Aschenbach] ocultava o nervosismo e a exaltação de um garoto malandro, por sob a máscara de uma fúria resignada. (Cap. III)
No filme, estas últimas linhas são encenadas com perfeição por Dirk Bogarde, exibindo uma expressão de contentamento chapliniano ao entender que terá de voltar ao hotel.
A ventania das tragédias gregas percorre obras como a de Thomas Mann, com suas fatalidades, seus personagens que caminham conscientemente para a exaltação e a morte. Aschenbach sabe que a epidemia está matando gente em plena calçada, e permite, freudianamente, que seus próprios equívocos e tropeções o conduzam no rumo da desgraça que procura.
Luchino Visconti filma gente rica como ninguém, revelando aquele misto de decoro e tensão, de pessoas lindas e opulentas que parecem o tempo todo estar posando para daguerreótipos. Os ricos de Fellini, por exemplo, são sempre meio debochadões, meio caricatos; os de Visconti (Violência e Paixão, Senso, O Leopardo, Morte em Veneza etc.) parecem versões oficiais de si mesmos.
E Aschenbach é um bom representante dessa classe empertigada, como um dos seus amigos o descreve no livro:
“Veja bem, Aschenbach viveu a vida toda assim,” e ele contraiu os dedos da mão esquerda, cerrando o punho, “e nunca assim”, e deixou a mão aberta tombar descuidadamente sobre o braço da cadeira. (Cap. II)
Aschenbach pode parecer “o protótipo do intelectual europeu caretão”, mas no livro é descrito claramente como um sujeito híbrido, que lutou a vida inteira para fazer prevalecer em si o lado “respeitável”, de “homem-de-bem”.
Seus antepassados tinham sido oficiais, magistrados, funcionários do governo, homens que viveram vidas severas, sólidas, a serviço do seu Rei e do seu Estado. Um veio mais profundo de espiritualidade chegara a se manifestar entre eles, na pessoa de um pregador; e a geração imediatamente anterior à do escritor havia injetado na família um sangue mais ardente, mais sensual, através de sua mãe, filha de um maestro da Boêmia. Os traços estrangeiros de suas feições provinham dela. O matrimônio entre uma consciência sóbria e meticulosa, de um lado, e os impulsos de uma natureza mais sombria e ardente, do outro, tinha produzido um artista, este artista em particular.
(Cap. II)
(Thomas Mann)
Não há como não ver aí mais um dos inúmeros traços autobiográficos do livro, quando lembramos que a mãe de Thomas Mann era brasileira. Aschenbach e Tadzio (este último um símbolo da Beleza inalcançável do ideal clássico, grego, cultivado pelos europeus) não são polos opostos, assim como o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, de Stevenson, também não o são. Jekyll e Aschenbach são balanças que levam a vida pública num perigoso equilíbrio. Hyde e Tadzio são o grão de areia que faz esse equilíbrio desandar.
Há um conto de Daphne Du Maurier, “Ganymede”, que resume em poucas páginas (e de maneira mais moderna, mais cruel, mais desdenhosa) a tragédia desse homem civilizado que vai a Veneza apenas para se perder pelo rosto bonito de um rapaz. Outro conto dela, “Don’t Look Now” (1971; filmado por Nicholas Roeg em 1973) mostra um casal que visita Veneza e se depara com aparições aparentemente sobrenaturais, e um assassino serial. Há um romance de Ian McEwan, The Comfort of Strangers (1981; filmado por Paul Schrader em 1990) em que um casal jovem deixa-se atrair, em Veneza, por um casal estranho que os arrasta para uma aventura sexual com final sangrento.
A destruição de Aschenbach e da população de Veneza tem paralelo no brutal sonho erótico que ele tem numa de suas últimas noites – sonho que Visconti, prudentemente, omitiu de seu filme. No sonho, Aschenbach participa, na mata, de uma espécie de sabá-suruba violentamente dionisíaco, que o perturba profundamente.
Sua repugnância, seu medo, eram intensos; de modo honroso ele se preparou para se defender daqueles bárbaros, daqueles inimigos de sua postura intelectual e sua dignidade. Mas os barulhos, os uivos, se multiplicavam por entre os contrafortes das colinas, e se elevavam, e predominavam, cresciam a uma intensidade de êxtase. Odores oprimiam seus sentidos, o cheiro pungente dos bodes, o aroma dos corpos úmidos, e um bafio de água estagnada, misturados a outro cheiro familiar, o cheiro de feridas e de doenças sem controle. Às batidas do tambor seu coração teve um vacilo, sua cabeça começou a rodar, ele foi arrebatado por um frenesi, por uma lascívia cegante, ensurdecedora – e ele ansiou para juntar-se à horda daquele deus. O símbolo obsceno, gigantesco, de madeira, foi descoberto e erguido; e eles uivaram a palavra mágica com uma entrega ainda maior. (Cap. V)
Sexo, doença, magia, sujeira, luxúria, primitivismo... na cabeça de alguém que viveu a vida de Aschenbach tudo isso se mistura, trazendo-lhe por fim “o medo e os misteriosos desejos” que foram o objetivo daquela sua viagem de férias, e que ele intuiu ser capaz de encontrar – logo onde! – em Veneza.
(Veneza, 2015)